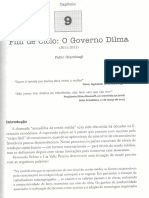Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Conselhos Comunitarios de Seguranca1
Conselhos Comunitarios de Seguranca1
Enviado por
Aline Claudia Barreira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações9 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações9 páginasConselhos Comunitarios de Seguranca1
Conselhos Comunitarios de Seguranca1
Enviado por
Aline Claudia BarreiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 9
59
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Poltica de segurana pblica no Brasil: avanos,
limites e desafios
Vilobaldo Adeldio de Carvalho
Universidade Federal do Piau (UFPI)
Poltica de segurana pblica no Brasil: avanos, limites e desafios
Resumo: O presente artigo, elaborado por meio de pesquisa terica, discute a poltica de segurana pblica adotada no Brasil
contemporneo, especialmente nesta primeira dcada no sculo 21. Inicialmente, apresenta reflexes sobre o papel do Estado no sentido
de garantir a segurana pblica enquanto direito fundamental do cidado. Posteriormente, destaca o Plano Nacional de Segurana Pblica
(PNSP) e o Programa Nacional de Segurana Pblica com Cidadania (Pronasci) como inovaes na poltica de segurana pblica
brasileira. Considera que, apesar dos limites e desafios prprios da complexidade relativa questo, tm ocorrido avanos na democratizao
da poltica de segurana, por meio de uma maior participao da sociedade nas discusses e na implementao das aes nessa rea.
Palavras-chave: Estado. Poltica pblica. Segurana pblica. Brasil.
Public Safety Policy in Brazil: Advances, Limits and Challenges
Abstract: This article, based on theoretical research, discusses public safety policies adopted in contemporary Brazil, particularly in the
first decade of the 21
st
century. It initially reflects on the role of the state to guarantee public safety as a fundamental right of the citizen.
It then highlights the National Public Safety Plan (PNSP) and the National Public Safety with Citizenship Program (Pronasci) as an
innovation in Brazilian public safety policy. It considers that despite the limits and challenges related to the complexity of the issue,
advances have occurred in the democratization of public safety policy, by means of greater participation of society in the discussions
and implementations of actions in this field.
Key words: State. Public policy. Public safety. Brazil.
Recebido em 07.10.2010. Aprovado em 17.01.2011.
PESQUISA TERICA
Maria do Rosrio de Ftima e Silva
Universidade Federal do Piau (UFPI)
60 Vilobaldo Adeldio de Carvalho e Maria do Rosrio de Ftima e Silva
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Introduo
O sistema poltico, surgido na modernidade, e que
predomina nos governos contemporneos, demonstra
que o papel das organizaes polticas, primordialmente
o do Estado, tem sido reestruturado para atender ao
movimento dinmico da sociedade. Demonstra, tam-
bm, a consolidao do processo civilizacional, em cur-
so neste sculo 21, que impe a necessidade de segu-
rana como garantia do exerccio da cidadania.
Nesse contexto, pretende-se caracterizar a so-
ciedade como uma teia de relaes em constante
movimento de continuidades e rupturas, engendra-
das pela prpria dinmica do processo contraditrio
que sustenta a (re)produo do sistema capitalista,
tendo o Estado papel crucial no controle social, pela
via de mecanismos jurdicos e aparatos institucionais.
Por outro lado, considera-se a segurana pblica
um processo articulado, caracterizando-se pelo
envolvimento de interdependncia institucional e
social, enquanto a poltica de segurana pblica pode
ser definida como a forma de instituir mecanismos
e estratgias de controle social e enfrentamento da
violncia e da criminalidade, racionalizando as fer-
ramentas da punio (ADORNO, 1996; BENGOCHEA
et al., 2004; SAPORI, 2007).
A segurana da sociedade surge como o principal
requisito garantia de direitos e ao cumprimento de
deveres, estabelecidos nos ordenamentos jurdicos.
A segurana pblica considerada uma demanda so-
cial que necessita de estruturas estatais e demais or-
ganizaes da sociedade para ser efetivada. s ins-
tituies ou rgos estatais, incumbidos de adotar
aes voltadas para garantir a segurana da socie-
dade, denomina-se sistema de segurana pblica, ten-
do como eixo poltico estratgico a poltica de segu-
rana pblica, ou seja, o conjunto de aes delineadas
em planos e programas e implementados como for-
ma de garantir a segurana individual e coletiva.
O incio deste sculo 21 tem sido marcado, prin-
cipalmente, pelo processo de globalizao econ-
mico-financeira, impelindo redefinio do papel
do Estado na gesto pblica e na sua relao com o
mercado e com a sociedade. Nesse processo, a ges-
to da poltica de segurana pblica, como suporte
para enfrentamento da violncia e da criminalidade,
representa um desafio tanto para o Estado quanto
para a sociedade.
A questo da segurana pblica tem despertado
o interesse de diversos estudiosos, da sociedade e
dos governos. Os instrumentos de enfrentamento da
criminalidade e da violncia tm sido insuficientes para
proporcionar a segurana individual e coletiva. No
mbito do processo de constituio da poltica de se-
gurana pblica, so elaborados os mecanismos e as
estratgias de enfrentamento da violncia e da
criminalidade que afeta o meio social. A participao
da sociedade por meio de suas instituies represen-
tativas torna-se crucial para o delineamento de qual-
quer poltica pblica. A complexidade da questo im-
plica na necessidade de efetiva participao social,
como forma de democratizar o aparelho estatal no
sentido de garantia de uma segurana cidad.
Este artigo tem como objetivo debater a poltica
de segurana pblica no Brasil, especialmente sua
configurao nesta primeira dcada do sculo 21.
Parte de algumas reflexes acerca do papel do Esta-
do na garantia da segurana pblica, enquanto direi-
to bsico ao exerccio da cidadania, para, em segui-
da, traar algumas consideraes acerca do Plano
Nacional de Segurana Pblica (PNSP), imple-
mentado a partir do ano 2000, e do Programa Nacio-
nal de Segurana Pblica com Cidadania (Pronasci),
estruturado em 2007, e ainda em execuo, ambos
de iniciativa do Governo Federal.
1 O Estado e a poltica de segurana pblica
no Brasil contemporneo
O contexto contemporneo, caracterizado pela
globalizao, principalmente no mbito econmico, tem
provocado transformaes na estrutura do Estado e
redefinio de seu papel enquanto organizao pol-
tica. Diferentemente da reduo do papel do Estado
no mbito econmico e social, no que se refere
segurana pblica, tem ocorrido uma ampliao dos
instrumentos de controle sobre a sociedade. Por isso,
[...] no tardou para que no final do sculo 20, na
sociedade de controle, com o neoliberalismo, apare-
cesse uma terceira verso para os perigosos a se-
rem confinados [...] (PASSETTI, 2003, p. 134).
Na esfera do Estado neoliberal, surge o Es-
tado penal, pela via de aes fortalecedoras do
controle dos processos de marginalizao econ-
mica e social:
[...] por Estado penalizador, os estudos e pesqui-
sas procuram mostrar as dimenses atuais dos efei-
tos da globalizao nas segregaes, confinamen-
tos e extermnios de populaes pobres, adulta,
juvenil e infantil (PASSETTI, 2003, p. 170).
Esse processo de criminalizao da pobreza e
da misria est diretamente relacionado [...] in-
segurana social gerada em toda parte pela
dessocializao do trabalho assalariado, o recuo das
protees coletivas e a mercantilizao das rela-
es humanas (WACQUANT, 2001, p. 13). Portanto,
a ascenso do Estado penal decorre da deteriora-
o das relaes sociais de produo e da
precarizao das formas de trabalho, impostas pelo
Estado neoliberal, implantado para atender aos di-
tames do mercado, pois:
61
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Em tais condies, desenvolver o Estado penal para
responder s desordens suscitadas pela desregula-
mentao da economia, pela dessocializao do tra-
balho assalariado e pela pauperizao relativa e
absoluta de amplos contingentes do proletariado
urbano, aumentando os meios, a amplitude e a in-
tensidade da interveno do aparelho policial e ju-
dicirio, equivale a (r)estabelecer uma verdadeira di-
tadura sobre os pobres (WACQUANT, 2001, p. 10).
Nessa situao, a potencializao do mercado,
como instrumento regulador das relaes sociais em
detrimento ao Estado, ocorre concomitantemente ao
contingenciamento dos mecanismos de assistncia
social e ao processo de fortalecimento da penalizao
como forma de ampliar o controle sobre as periferias
e assegurar a manuteno das relaes de poder.
Com efeito, acaba-se tendo menos Estado para
os ricos, para possibilitar a multiplicao do lucro pela
via do mercado e, mais controle para os pobres,
seja por meio do Estado penalizador e assistencial
ou do processo de excluso prprio do mercado. Os
governos, ao adotarem aes de represso crimi-
nalidade por meio da institucionalizao de proces-
sos de criminalizao de segmentos sociais, exclu-
dos das possibilidades oferecidas pelo mercado, como
forma de dar respostas aos anseios da sociedade em
geral, contribuem para que o papel do Estado sirva
aos poucos donos do poder em detrimento da so-
berania do povo.
Estamos diante de um processo contraditrio no
que se refere ao papel do Estado. Temos, assim, um
Estado para os pobres, com menos assistncia e
mais controle e vigilncia e um Estado para os ri-
cos, que possibilita menos controle sobre a reprodu-
o econmica. Com isso, as formas de penalizao
so direcionadas a sujeitos diferenciados.
No Brasil, o processo de democratizao do Es-
tado, aps duas dcadas de ditadura militar, pouco
modificou o Estado penalizador, fundado na institu-
cionalizao da criminalizao. No aspecto terico,
constitucional, tem-se um Estado democrtico. Po-
rm, no campo prtico, ainda se vive em um Estado
autoritrio, principalmente nas questes relacionadas
segurana pblica, pois,
No Brasil, a reconstruo da sociedade e do Esta-
do democrticos, aps 20 anos do regime autorit-
rio, no foi suficientemente profunda para conter o
arbtrio das agncias responsveis pelo controle
da ordem pblica. No obstante as mudanas dos
padres emergentes de criminalidade urbana vio-
lenta, as polticas de segurana e justia criminal,
formuladas e implementadas pelos governos de-
mocrticos, no se diferenciaram grosso modo da-
quelas adotadas pelo regime autoritrio. A despei-
to dos avanos e conquistas obtidos nos ltimos
anos, traos do passado autoritrio revelam-se re-
sistentes s mudanas em direo ao Estado de-
mocrtico de Direito [...] (ADORNO, 1996, p. 233).
O processo de transio para a democracia, das
ltimas dcadas, enfrentou o desafio de manter a
ordem pblica em um contexto afetado pela insegu-
rana urbana e a necessidade de mudana de atua-
o dos rgos de segurana pblica, estruturados
sob a influncia de resqucios autoritrios, mas com
a responsabilidade de atuar de acordo com os princ-
pios democrticos, impostos pela sociedade por meio
dos movimentos sociais.
A Constituio Cidad, promulgada no Brasil
em 1988, no culminou, concomitantemente, na cons-
truo de uma poltica de segurana pblica demo-
crtica por parte dos rgos responsveis, estabele-
cidos no Estado democrtico de Direito. Por isso,
as aes de controle da ordem pblica tornaram-
se mais complexas na ordem democrtica e a re-
organizao do aparelho estatal no resultou na ime-
diata participao social na construo da poltica de
segurana pblica, necessria ao pas.
Estado e sociedade devem exercer papis cruciais
na definio de estratgias polticas e de poder que
legitimam o processo pelo qual se desenvolve a pol-
tica pblica. Neste embate, os interesses e as con-
tradies, inerentes dinmica das relaes entre
governantes e governados, constituem o fundamento
da construo poltica.
Trata-se, pois, a poltica pblica, de uma estratgia
de ao, pensada, planejada e avaliada, guiada por
uma racionalidade coletiva na qual tanto o Estado
como a sociedade desempenham papis ativos. Eis
porque o estudo da poltica pblica tambm o
estudo do Estado em ao (Meny e Toenig) nas
suas permanentes relaes de reciprocidade e an-
tagonismo com a sociedade, a qual constitui o es-
pao privilegiado das classes sociais (Ianni) (PE-
REIRA, 2009, p. 96).
Isto significa que a organizao da sociedade por
meio de instituies representativas possibilita um maior
poder de presso perante o Estado para que ocorra o
atendimento de demandas construdas pela prpria
sociedade. Logicamente, subjacentes ao ato poltico
que institui a poltica, existem relaes de poder que
indicam a correlao de foras sociais e polticas e o
arranjo institucional delineador da poltica pblica.
As polticas pblicas, promovidas pelo Estado bra-
sileiro at o incio dos anos 1980, caracterizavam-se
pela [...] centralizao decisria e financeira na es-
fera federal [...], pela fragmentao institucional [...],
pelo carter setorial [...] e, principalmente, pela [...]
excluso da sociedade civil do processo de formula-
o das polticas, da implementao dos programas
Poltica de segurana pblica no Brasil: avanos, limites e desafios
62
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Vilobaldo Adeldio de Carvalho e Maria do Rosrio de Ftima e Silva
e do controle da ao governamental [...] (FARAH,
2006, p. 189-90).
Nas polticas sociais, a complexidade da poltica
de segurana pblica envolve diversas instncias
governamentais e os trs poderes da repblica. Cabe
ao Poder Executivo o planejamento e a gesto de
polticas de segurana pblica que visem preven-
o e represso da criminalidade e da violncia e
execuo penal; ao Poder Judicirio cabe assegurar
a tramitao processual e a aplicao da legislao
vigente; e compete ao Poder Legislativo estabelecer
ordenamentos jurdicos, imprescindveis ao funciona-
mento adequado do sistema de justia criminal.
O sistema de segurana pblica brasileiro em vi-
gor, desenvolvido a partir da Constituio Federal de
1988, estabeleceu um compromisso legal com a segu-
rana individual e coletiva. Entretanto, no Brasil, em
regra, as polticas de segurana pblica tm servido
apenas de paliativo a situaes emergenciais, sendo
deslocadas da realidade social, desprovidas de pereni-
dade, consistncia e articulao horizontal e setorial.
Planejamento, monitoramento, avaliao de resul-
tados, gasto eficiente dos recursos financeiros no
tm sido procedimentos usuais nas aes de com-
bate criminalidade, seja no executivo federal, seja
nos executivos estaduais. Desse ponto de vista, a
histria das polticas de segurana pblica na soci-
edade brasileira nas duas ltimas dcadas se resu-
me a uma srie de intervenes governamentais
espasmdicas, meramente reativas, voltadas para
a soluo imediata de crises que assolam a ordem
pblica [...] (SAPORI, 2007, p. 109).
Mecanismos essenciais no tm sido utilizados
pelos diversos governos para possibilitar o pensar, o
implementar, o implantar, o efetivar, com eficcia e
eficincia, uma poltica de segurana pblica como
instrumento do Estado e da sociedade. A promulga-
o de leis, decretos, portarias e resolues, visando
instrumentalizar o enfretamento da criminalidade e
da violncia, sem que haja articulao das aes de
segurana pblica no contexto social, acaba apre-
sentando resultados inconsistentes e insatisfatrios.
A atuao dos rgos da segurana pblica re-
quer interao, sinergia de aes combinadas a me-
didas de participao e incluso social e comunitria,
cabendo ao Estado o papel de garantir o pleno funci-
onamento dessas instituies, tendo em vista que:
A segurana pblica um processo sistmico e
otimizado que envolve um conjunto de aes p-
blicas e comunitrias, visando assegurar a prote-
o do indivduo e da coletividade e a ampliao da
justia da punio, recuperao e tratamento dos
que violam a lei, garantindo direitos e cidadania a
todos. Um processo sistmico porque envolve, num
mesmo cenrio, um conjunto de conhecimentos e
ferramentas de competncia dos poderes constitu-
dos e ao alcance da comunidade organizada,
interagindo e compartilhando viso, compromissos
e objetivos comuns; e otimizado porque depende
de decises rpidas e de resultados imediatos
(BENGOCHEAet al., 2004, p. 120).
Trata-se de uma questo significativamente com-
plexa que impe a necessidade de aproximao entre
diversas instituies e sujeitos. Entende-se, portanto, a
segurana pblica como um processo articulado e di-
nmico que envolve o ciclo burocrtico do sistema de
justia criminal. Sem articulao entre polcias, prises
e judicirio, inclusive sem o envolvimento da socieda-
de organizada, no existe eficcia e eficincia nas
aes de controle da criminalidade e da violncia e
nas de promoo da pacificao social.
No Brasil, somente uma dcada aps a promul-
gao da Constituio Cidad, que estabeleceu a
segurana pblica como dever do Estado e respon-
sabilidade de todos, a poltica de segurana pblica
passa a ser pensada sob o contexto de uma socieda-
de democraticamente organizada, pautada no respeito
aos direitos humanos, em que o enfrentamento da
criminalidade no significa a instituio da arbitrarie-
dade, mas a adoo de procedimentos ttico-
operacionais e poltico-sociais que considerem a ques-
to em sua complexidade. Nesse panorama, no ano
2000, criado o Plano Nacional de Segurana Pbli-
ca (PNSP), e no ano de 2007, o Programa Nacional
de Segurana Pblica com Cidadania (Pronasci), ino-
vando a forma de abordar dessas questes.
2 O Plano Nacional de Segurana Pblica
O governo Fernando Henrique Cardoso, tendo em
vista os desdobramentos da Conferncia Mundial de
Direitos Humanos, ocorrida em Viena, em 1993, cria,
em 1996, o Programa Nacional de Direitos Huma-
nos (PNDH), aperfeioando-o em 2000, com a insti-
tuio do II Programa Nacional de Direitos Huma-
nos, aps a IV conferncia Nacional de Direitos
Humanos, ocorrida em 1999. Demonstrando disposi-
o em reorganizar o arranjo e a gesto da seguran-
a pblica, o Governo Federal, cria, em 1995, no
mbito do Ministrio da Justia, a Secretaria de Pla-
nejamento de Aes Nacionais de Segurana Pbli-
ca (Seplanseg), transformando-a, no ano de 1998, em
Secretaria Nacional de Segurana Pblica (Senasp),
tendo como perspectiva atuar de forma articulada
com os estados da federao para a implementao
da poltica nacional de segurana pblica.
A instituio da Senasp, como rgo executivo,
significou a estruturao de mecanismos de gesto
capazes de modificar o arranjo institucional da orga-
63
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Poltica de segurana pblica no Brasil: avanos, limites e desafios
nizao administrativa da segurana pblica no m-
bito governamental federal. Surgiu, ento, o Plano
Nacional de Segurana Pblica (PNSP), voltado para
o enfrentamento da violncia no pas, especialmente
em reas com elevados ndices de criminalidade, ten-
do como objetivo aperfeioar as aes dos rgos de
segurana pblica.
O Plano Nacional de Segurana Pblica de 2000
considerado a primeira poltica nacional e demo-
crtica de segurana focada no estmulo inova-
o tecnolgica; alude ao aperfeioamento do sis-
tema de segurana pblica atravs da integrao
de polticas de segurana, sociais e aes comuni-
trias, com a qual se pretende a definio de uma
nova segurana pblica e, sobretudo, uma novida-
de em democracia (LOPES, 2009, p. 29).
Efetivamente, a inovao tecnolgica fundamental
para que os instrumentos utilizados por parte dos ope-
radores da segurana pblica possam ser eficazes e
eficientes. Neste aspecto, essa proposta do PNSP pode
ser considerada extremamente estratgica.
O PNSP estabeleceu um marco terico significa-
tivo na propositura da poltica de segurana pblica
brasileira, cujo objetivo era articular aes de repres-
so e preveno criminalidade no pas. Para dar
apoio financeiro ao PNSP, foi institudo, no mesmo
ano, o Fundo Nacional de Segurana Pblica (FNSP).
Entretanto, esses avanos na formatao da poltica
de segurana pblica no produziram os resultados
concretos esperados. De acordo com Fernando Salla,
[...] o Plano Nacional de Segurana Pblica [...] com-
preendia 124 aes distribudas em 15 compromis-
sos que estavam voltadas para reas diversas como
o combate ao narcotrfico e ao crime organizado; o
desarmamento; a capacitao profissional; e o
reaparelhamento das polcias, a atualizao da le-
gislao sobre segurana pblica, a reduo da vi-
olncia urbana e o aperfeioamento do sistema pe-
nitencirio. Uma novidade que no plano, alm
dessas iniciativas na rea especfica de segurana,
eram propostas diversas aes na esfera das polti-
cas sociais. O plano, no entanto, no fixava os re-
cursos nem as metas para aes. Ao mesmo tempo,
no estavam estabelecidos quais seriam os meca-
nismos de gesto, acompanhamento e avaliao
do plano (SALLA, 2003, p. 430).
Nessa concepo, o PNSP possibilitou a institu-
cionalizao de significativos encaminhamentos de
diretrizes para aes de gesto, porm poucos avan-
os prticos. Sem recursos definidos, sem delinea-
mento de metas e de processos de avaliao de efi-
ccia, eficincia e efetividade, fracassou nos seus
principais objetivos. Entretanto, pela primeira vez,
aps o processo de democratizao, emergiu a pos-
sibilidade de uma reorientao estratgica, com tra-
tamento poltico-administrativo direcionado a colo-
car a questo da segurana pblica como poltica
prioritria de governo.
Evidentemente, os avanos foram extremamente
tmidos frente complexidade do problema da segu-
rana pblica, tanto que o fenmeno da violncia
continuou assustando a populao brasileira, princi-
palmente nos grandes centros, como tm demons-
trado os ndices oficiais de criminalidade, diversos
estudos e o cotidiano miditico.
As polticas pblicas de segurana, justia e peni-
tencirias no tm contido o crescimento dos cri-
mes, das graves violaes dos direitos humanos e
da violncia em geral. A despeito das presses so-
ciais e das mudanas estimuladas por investimen-
tos promovidos pelos governos estaduais e fede-
ral, em recursos materiais e humanos e na renova-
o das diretrizes institucionais que orientam as
agncias responsveis pelo controle da ordem p-
blica, os resultados ainda parecem tmidos e pouco
visveis (ADORNO, 2002, p. 8).
As questes relacionadas segurana pblica no
podem ser tratadas como poltica limitada de gover-
no, mas como um processo amplo e complexo a ser
enfrentado tanto pelo Estado quanto pela sociedade.
Na perspectiva de uma poltica de Estado, a poltica
de segurana pblica, para ser exitosa, no pode dis-
pensar a participao e a contribuio da sociedade.
A democratizao de toda e qualquer poltica pblica
crucial para atender aos anseios da populao.
Tanto o PNSP do governo Fernando Henrique
Cardoso, quanto a poltica de segurana pblica
emprendida pelo primeiro governo do presidente Luiz
Incio Lula da Silva no tiveram os resultados espe-
rados. Assim, a partir do ano 2007, j no segundo
mandato do presidente Lula, foi apresentado um novo
programa na rea da segurana pblica, o Pronasci.
3 O Programa Nacional de Segurana Pblica
com Cidadania
A poltica de segurana pblica implantada pelo
governo Lula surgiu em 2001, a partir da elabora-
o, por parte da ONG Instituto da Cidadania, do
Projeto de Segurana Pblica para o Brasil, que
serviu de base para o programa de governo durante
a disputa eleitoral em 2002. A ideia primordial era
reformar as instituies da segurana pblica e im-
plantar o Sistema nico de Segurana Pblica
(SUSP) para atuar de forma articulada, por meio
de polticas preventivas, principalmente voltadas
para a juventude (LOPES, 2009, p. 75).
64
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Vilobaldo Adeldio de Carvalho e Maria do Rosrio de Ftima e Silva
A poltica de segurana pblica, consubstanciada
a partir do processo de implantao do SUSP, com
o objetivo de controle e reduo da violncia e da
criminalidade, estabeleceu o planejamento de aes
integradas por parte de rgos da segurana pbli-
ca sem, entretanto, considerar o sistema prisional
em seu contexto.
O Ministrio da Justia destaca como rgos exe-
cutivos da segurana pblica as instituies policiais
inseridas no artigo 144 da Constituio Federal (BRA-
SIL, 2002). No define constitucionalmente a existn-
cia de uma instituio policial civil como rgo incum-
bido de gerir o sistema prisional, o que acaba colocan-
do-o margem do contexto da segurana pblica, im-
plicando assim, na fragmentao da poltica. O Rela-
trio de Gesto da Senasp (BRASIL, 2006, online),
exerccio de 2006, referente ao perodo de 2003 a 2006,
comprova esta realidade ao relacionar as aes para
reestruturar e integrar as diversas organizaes pro-
gramadas na implantao do SUSP:
Modernizao Organizacional das Instituies do
Sistema de Segurana Pblica (Implantao da Se-
gurana Cidad). Sistema Integrado de Formao e
Valorizao Profissional. Implantao e Moderniza-
o de Estruturas Fsicas de Unidades Funcionais
de Segurana Pblica. Apoio Implantao de Pro-
jetos de Preveno da Violncia. Implantao do Sis-
tema Nacional de Gesto do Conhecimento e de In-
formaes Criminais. Reaparelhamento das Institui-
es de Segurana Pblica. Apoio Represso Qua-
lificada. Fora Nacional de Segurana Pblica.
possvel observar, de acordo com o Relatrio,
que os eixos de aes destacados pela Senasp que-
rem indicar a ideia de integrao dos rgos e das
aes voltadas para a segurana pblica, no mbito
de implantao do SUSP, mas apresentam certas li-
mitaes e contradies, pois no tornam evidente a
incluso da esfera prisional. Estabelecer aes inte-
gradas no campo da segurana pblica sem que o
sistema prisional, receptor dos resultados de aes
policiais ou judiciais, dominado em alguns estados pelo
crime organizado, esteja contemplado, significa limi-
tar as possibilidades de atuao coordenada, tanto
de forma vertical quanto horizontal. Nesse contexto,
as questes relacionadas situao prisional no
podem ser pensadas e trabalhadas de forma deslo-
cada dessa realidade, tendo em vista que as aes,
voltadas para o enfrentamento da violncia e da
criminalidade, ao culminarem com a priso, impem
a questo do cumprimento da pena na lgica estrutu-
ral do sistema de segurana pblica.
Buscando a integrao nas aes, voltadas para
a segurana pblica, praticadas pelo Estado brasilei-
ro a partir do ano 2007, o Governo Federal instituiu o
Programa Nacional de Segurana Pblica com Ci-
dadania (Pronasci), em parceria com estados da fe-
derao, combinando essas aes com polticas so-
ciais para a preveno, controle e represso
criminalidade, principalmente em reas metropolita-
nas com altos ndices de violncia. Nessa perspecti-
va, estabeleceram-se metas e investimentos que apon-
tam avanos na constituio da poltica pblica de
reestruturao do sistema de segurana no seu todo,
incluindo-se a a esfera prisional, redefinindo as es-
tratgias de ao e gesto. No mbito do Pronasci,
surge o conceito de segurana cidad, o qual
[...] parte da natureza multicausal da violncia e,
nesse sentido, defende a atuao tanto no espec-
tro do controle como na esfera da preveno, por
meio de polticas pblicas integradas no mbito
local. Dessa forma, uma poltica pblica de Segu-
rana Cidad envolve vrias dimenses, reconhe-
cendo a multicausalidade da violncia e a
heterogeneidade de suas manifestaes (FREIRE,
2009, p. 105-106).
Com efeito, o Pronasci apresenta uma forma e
um olhar multidisciplinar em relao questo da
segurana pblica. Dessa maneira, pela primeira vez
aps a promulgao da atual Constituio, surge a
perspectiva de democratizao da poltica de segu-
rana pblica, com efetiva possibilidade de exerccio
da cidadania por parte da sociedade nesse processo.
Seguramente, trata-se de uma mudana complexa
no paradigma da segurana, entretanto necessria
ao fortalecimento da democracia, pois, [...] na pers-
pectiva de Segurana Cidad, o foco o cidado e,
nesse sentido, a violncia percebida como os fato-
res que ameaam o gozo pleno de sua cidadania
(FREIRE, 2009, p. 107). Alm disso,
A perspectiva de Segurana Cidad defende uma
abordagem multidisciplinar para fazer frente na-
tureza multicausal da violncia, na qual polticas
pblicas multissetoriais so implementadas de for-
ma integrada, com foco na preveno violncia.
Nesse sentido, uma poltica pblica de Segurana
Cidad deve contar no apenas com a atuao das
foras policiais, sendo reservado tambm um espa-
o importante para as diversas polticas setoriais,
como educao, sade, esporte, cultura, etc.
(FREIRE, 2009, p. 107).
Com isso, o Pronasci representa uma iniciativa ino-
vadora no trato com a questo da segurana pblica,
do enfrentamento da violncia e da criminalidade, j
que busca desenvolver aes na rea de segurana
integrada com aes sociais, incluindo, acertadamen-
te, o sistema prisional. De acordo com o Ministrio da
Justia, o Pronasci [...] articula polticas de seguran-
a com aes sociais; prioriza a preveno e busca
65
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Poltica de segurana pblica no Brasil: avanos, limites e desafios
atingir as causas que levam violncia, sem abrir mo
das estratgias de ordenamento social e segurana
pblica (BRASIL, 2009, online). Isto representa a pos-
sibilidade de tornar a poltica de segurana pblica
perene, articulada e consistente, e no, apenas, mais
uma poltica de governo pontual.
Em sua estrutura, o Pronasci apresenta-se como
uma poltica de segurana pblica, baseada em prin-
cpios democrticos, interdisciplinares e humanitri-
os, tendo em vista a participao da sociedade na
construo de uma cultura de paz, a mdio e a longo
prazo. Adota um conjunto de medidas que objetivam
a imediata diminuio da violncia e da criminalidade,
por meio da implementao de Unidades de Polcia
Pacificadora (UPPs) em reas urbanas considera-
das de elevados ndices de criminalidade e violncia.
Deve-se ressaltar que a ocupao dessas reas pela
polcia e a instalao das UPPs indica o reconheci-
mento, por parte do Estado, da necessidade de
reorientao estratgica das aes de controle e
manuteno da ordem pblica. Isso contribui para
diminuir os ndices de criminalidade, porm, de for-
ma territorialmente limitada. Na verdade, as UPPs
significam a possibilidade de retomada de controle
territorial de forma autoritria, porm no necessari-
amente truculenta. Alm disso, podem servir de ins-
trumento tanto ao confinamento da pobreza, quanto
ao exerccio de direitos bsicos de cidadania.
No contexto do Pronasci, a segurana pblica tem
sido discutida nos mais diversos segmentos da socie-
dade. No ano de 2009, o Governo Federal promoveu
a 1 Conferncia Nacional de Segurana Pblica
(Conseg). Partindo de conferncias realizadas nos
mbitos municipal, estadual e de conferncias livres
organizadas por entidades da sociedade civil, a Conseg
representou a possibilidade de se reelaborar, demo-
craticamente, princpios e diretrizes fundamentais para
desenvolver projetos voltados para o sistema de se-
gurana pblica, sob todos os aspectos e escalas. Por
considerarem os contextos locais e o nacional, a efe-
tiva participao de trabalhadores e da sociedade ci-
vil, possibilitaram a interao e a interdisciplinaridade
no desenho da poltica. A 1 Conseg (BRASIL, 2009,
online) teve como eixos bsicos de discusso:
Gesto democrtica: controle social e externo,
integrao e federalismo; financiamento e gesto
da poltica de segurana; valorizao profissional
e otimizao das condies de trabalho; represso
qualificada da criminalidade; preveno social dos
crimes e das violncias e construo da cultura de
paz; diretrizes para o sistema penitencirio e diretri-
zes para o sistema de preveno, atendimentos
emergenciais e acidentes.
O espao de socializao de ideias possibilita-
do pela 1 Conseg, envolvendo a participao da
sociedade por meio de suas entidades representa-
tivas, elevou e ampliou o debate acerca da poltica
de segurana pblica, possibilitando a democrati-
zao da poltica.
Como resultado da 1 Conseg, foram escolhidos,
de forma democrtica, 10 princpios e 40 diretrizes,
que serviro de subsdios para nortear a poltica de
segurana pblica em curso no pas. Os participan-
tes definiram (BRASIL, 2009a, online) como princpios
que a poltica de segurana pblica deve:
Ser uma poltica de Estado que proporcione a auto-
nomia administrativa, financeira, oramentria e
funcional das instituies envolvidas, nos trs n-
veis de governo, com descentralizao e integrao
sistmica do processo de gesto democrtica, trans-
parncia na publicidade dos dados e consolidao
do Sistema nico de Segurana Pblica (SUSP) e
do Programa Nacional de Segurana Pblica com
Cidadania (Pronasci), com percentual mnimo defi-
nido em lei e assegurando as reformas necessrias
ao modelo vigente.
A definio da poltica de segurana pblica como
uma poltica de Estado, e no de governo, demonstra
que a participao da sociedade essencial no pro-
cesso poltico de formulao da poltica. Pode-se
considerar que os avanos tericos na constituio
da poltica so inegveis, cabendo-nos, ento, aguar-
dar os seus resultados prticos.
Entretanto, como se sabe, os princpios e diretri-
zes definidos na 1 Conseg no garantem, de imedia-
to, a sua implementao. Caber sociedade acom-
panhar, reivindicar e fiscalizar as aes poltico-ad-
ministrativas, por meio de seus rgos representati-
vos, para que a questo no fique somente no mbito
do debate. Portanto, a participao de representan-
tes da sociedade civil, de trabalhadores de todas as
reas, no processo de formatao da poltica de se-
gurana pblica, significa a oportunidade de garanti-
la e de torn-la controlada pela sociedade, em vez de
apenas instrumento do Estado.
Nesta ltima dcada, a questo da segurana
pblica tem envolvido uma participao maior de
estudiosos, como o caso da criao do Frum
Brasileiro de Segurana Pblica (FBSP), no ano
de 2006, composto por vrios especialistas com o
objetivo de difundir conhecimentos na rea da se-
gurana pblica. Alm disso, o processo de
implementao das aes do Pronasci e a amplia-
o das discusses decorrentes da 1 Conseg re-
sultaram na reestruturao do Conselho Nacional
de Segurana Pblica (Conasp). So indicadores
da ampliao dos espaos de discusso para pos-
sibilitar avanos significativos na constituio da
poltica de segurana pblica no Brasil contempo-
rneo, apesar dos limites estruturais.
66
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Vilobaldo Adeldio de Carvalho e Maria do Rosrio de Ftima e Silva
Concluso
Inegavelmente, a Constituio Federal de 1988
marcou a institucionalizao de um novo arcabouo
organizacional e administrativo dos rgos incumbi-
dos da segurana pblica no pas. Entretanto, os res-
qucios do perodo ditatorial permaneceram
encravados nas prticas policiais. Alm disso, a po-
ltica de segurana pblica, mesmo aps o processo
de redemocratizao, foi im-
posta pelos governos visan-
do o atendimento de situa-
es imediatistas. Apresenta-
se desconstituda de continui-
dade, desarticulada entre as
instituies e esferas de po-
der e sem a devida participa-
o da sociedade na defini-
o e estruturao das aes.
As intervenes estatais,
em relao segurana p-
blica no Brasil, tornaram-se
mais sistemticas nesta pri-
meira dcada do sculo 21,
quando se configurou a ges-
to de planos e programas
pautados em novas formas de
abordar a questo. O PNSP,
de 2000, apesar de ter sido
um avano terico conside-
rvel no trato com a questo
da segurana pblica, en-
frentou limites prticos con-
siderveis no mbito da ges-
to, fracassando nos seus
objetivos principais.
No entanto, o processo de implantao do SUSP
demonstra que a poltica de segurana pblica do pas
tem sido trabalhada sob o mbito de um novo
paradigma. O Pronasci, de 2007, aponta para a par-
ticipao da sociedade civil no processo de
formatao e implementao da poltica de seguran-
a pblica no pas. Ainda relativamente cedo para
se avaliar os resultados do Pronasci quanto dimi-
nuio da criminalidade e da violncia. Entretanto, o
reconhecimento governamental e institucional em
relao efetiva participao da sociedade na cons-
truo da poltica de segurana pblica evidencia um
processo de fortalecimento da democracia, impres-
cindvel efetivao de uma segurana cidad.
A instituio do Frum Brasileiro de Segurana
Pblica, em 2006, e a participao da sociedade civil
nos eventos correlacionados Conseg, realizada em
2009, evidenciam a importncia da democracia para
a construo de uma poltica de segurana pblica
que assegure os direitos de cidadania. Os princpios
e as diretrizes elaborados, desde ento, demonstram
que as expectativas da sociedade, pela participao
democrtica na gesto da poltica de segurana p-
blica, esto sendo contempladas.
Os esforos adotados pelos diversos governos e
pela sociedade a partir de 2009, por meio de discus-
ses em conferncias pblicas, credenciando a par-
ticipao da sociedade na construo de princpios e
diretrizes norteadores da poltica de segurana pbli-
ca, indicam a possibilidade de consolidao de uma
poltica de Estado que enten-
da a segurana pblica como
uma questo transversal e
multifacetada. Porm, as
aes entre os rgos da rea
da segurana pblica enfren-
tam limitaes de atuao ar-
ticulada nas estruturas de
poder. O Poder Executivo e
o Judicirio no atuam de for-
ma conjunta no sentido de
garantir a preveno do deli-
to, o julgamento clere para
evitar, inclusive, a impunida-
de e a injustia. Por outro
lado, a reinsero do homem
preso na sociedade tem sido
um dos maiores desafios a
serem enfrentados pelo Es-
tado e pela sociedade.
Diante destas considera-
es, deve-se acrescentar
que o processo de estrutu-
rao da poltica de seguran-
a pblica exige rupturas,
mudanas de paradigmas, sis-
tematizao de aes pontu-
ais combinadas a programas consistentes e duradou-
ros fincados, sobretudo, na valorizao do ser huma-
no sob todos os aspectos, levando em considerao
os contextos sociais de cada cidado. Os avanos na
consolidao de uma poltica de segurana pblica
de Estado no Brasil, pautada em princpios democr-
ticos, de solidariedade e dignidade do ser humano in-
dicam que os desafios a serem superados tornam in-
dispensvel o exerccio da cidadania com fulcro nos
direitos de igualdade e na justia social.
Referncias
ADORNO, S. A gesto urbana do medo e da insegurana:
violncia, crime e justia penal na sociedade brasileira
contempornea. 282 p. Tese (apresentada como exigncia
parcial para o Concurso de Livre-Docncia em Cincias
Humanas) Departamento de Sociologia, da Faculdade
de Filosofia, Letras e Cincias Humanas da Universidade
de So Paulo, 1996.
... o processo de estruturao
da poltica de segurana
pblica exige rupturas,
mudanas de paradigmas,
sistematizao de aes
pontuais combinadas a
programas consistentes e
duradouros, fincados,
sobretudo, na valorizao do
ser humano sob todos os
aspectos, levando em
considerao os contextos
sociais de cada cidado.
67
R. Katl., Florianpolis, v. 14, n. 1, p. 59-67, jan./jun. 2011
Poltica de segurana pblica no Brasil: avanos, limites e desafios
______. Crime e violncia na sociedade brasileira contem-
pornea. Jornal de Psicologia-PSI, n. Abril/Junho, p. 7-8,
2002.
BENGOCHEA, J. L. et al. A transio de uma polcia de
controle para uma polcia cidad. Revista So Paulo em
Perspectiva, v. 18, n. 1, p. 119-131, 2004.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. So Paulo:
Saraiva, 2002.
______. Ministrio da Justia. Programa Nacional de
Segurana Pblica com Cidadania (Pronasci).
Disponvel em: <http://www.mj.gov.br.pronasci>. Acesso
em: 29 set. 2009.
______. ______.Secretaria Nacional de Segurana Pblica.
Relatrio de Gesto. Exerccio 2006. Disponvel em: <http:/
/www.mj.gov.br.senasp>. Acesso em: 29 set. 2009.
______. ______. 1 Conferncia Nacional de Segurana
Pblica (Conseg). 2009a. Disponvel em: <http://
www.mj.gov.br.conseg>. Acesso em: 29 set. 2009.
FARAH, M. F. dos S. Parcerias, novos arranjos
institucionais e polticas pblicas no nvel local de governo.
In: FERRAREZI, E.; SARAIVA, E. (Org.). Polticas
pblicas, Braslia: ENAP, 2006. (Coletnea, v. 2).
FREIRE, M. D. Paradigmas de segurana no Brasil: da
ditadura aos nossos dias. Revista Brasileira de Segurana
Pblica, Ano 3, edio 5, p. 100-114, ago./set. 2009.
LOPES, E. Poltica e segurana pblica: uma vontade de
sujeio. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009.
PASSETTI, E. Anarquismos e sociedade de controle. So
Paulo: Cortez, 2003.
PEREIRA, P. A. P. Discusses conceituais sobre poltica
social como poltica pblica e de direito de cidadania. In:
BOSCHETTI, I. (Org.). Poltica social no capitalismo:
tendncias contemporneas. So Paulo: Cortez, 2009.
SALLA, F. Os impasses da democracia brasileira: o balano
de uma dcada de polticas para as prises no Brasil.
Revista Lusotopie, Paris, v. 10, p. 419-435, 2003.
SAPORI, L. F. Segurana pblica no Brasil: desafios e
perspectivas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
WACQUANT, L. As prises da misria. Traduo de Andr
Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001.
Vilobaldo Adeldio de Carvalho
vilobaldogeopp@yahoo.com.br
Agente penitencirio da Secretaria da Justia do Es-
tado do Piau
Mestre em Polticas Pblicas pelo Programa de Ps-
Graduao em Polticas Pblicas da Universidade Fe-
deral do Piau (UFPI)
Maria do Rosrio de Ftima e Silva
rosafat@uol.com.br
Doutorado em Servio Social pela Pontifcia Univer-
sidade Catlica de So Paulo (PUC/SP)
Professora Associada no Departamento de Servio
Social e no Programa de Ps-Graduao em Polti-
cas Pblicas da UFPI
UFPI Programa de Ps-Graduao em Polti-
cas Pblicas
Campus Universitrio Ministro Petrnio Portela
Bairro Ininga
Teresina Piau
CEP: 88036-601
Você também pode gostar
- Ficha Técnica - MOAB MY18Documento2 páginasFicha Técnica - MOAB MY18Thiago Christiano Araújo PinheiroAinda não há avaliações
- Plano Educaçao-Dh - Diversidades - Cristina Miyuki Hashizume - Com CronogramaDocumento4 páginasPlano Educaçao-Dh - Diversidades - Cristina Miyuki Hashizume - Com CronogramaCrist MiyuAinda não há avaliações
- Cap 09 Part01Documento16 páginasCap 09 Part01Thiago Christiano Araújo PinheiroAinda não há avaliações
- Almanaque Legislação PM-PIDocumento178 páginasAlmanaque Legislação PM-PIThiago Christiano Araújo Pinheiro100% (1)
- Modernismo Brasileiro - 1 FaseDocumento6 páginasModernismo Brasileiro - 1 FaseThiago Christiano Araújo PinheiroAinda não há avaliações
- CONSIDERAÇÕES POPULISMO EsDocumento272 páginasCONSIDERAÇÕES POPULISMO Esleandrocq3007Ainda não há avaliações
- Reinventando Paulo Freire SEC XXIDocumento72 páginasReinventando Paulo Freire SEC XXIMelissaFreitasAinda não há avaliações
- Exu e A Pedagogia Das EncruzilhadasDocumento12 páginasExu e A Pedagogia Das EncruzilhadasViviane V CamargoAinda não há avaliações
- Maria Da Gloria Mov. Socias ALDocumento17 páginasMaria Da Gloria Mov. Socias ALMarcelino ContiAinda não há avaliações
- Eliane O'Dwyer QuilombosDocumento16 páginasEliane O'Dwyer QuilombosChrystian Wilson PereiraAinda não há avaliações
- Mercado-ou-Bens-Comuns-Jean Pierre Leroy PDFDocumento48 páginasMercado-ou-Bens-Comuns-Jean Pierre Leroy PDFHarold Mauricio Nieto Castillo100% (1)
- Alex Ferreira Magalhães - As Formalidades Do Mercado "Informal" A Contratualística Da Locação Imobiliária em Favelas Do Rio de JaneiroDocumento228 páginasAlex Ferreira Magalhães - As Formalidades Do Mercado "Informal" A Contratualística Da Locação Imobiliária em Favelas Do Rio de JaneiroRogerio SantosAinda não há avaliações
- Graffiti-Salvador (Livro)Documento196 páginasGraffiti-Salvador (Livro)Alleb Reis100% (1)
- Anais - Seminário Carajás 30 AnosDocumento13 páginasAnais - Seminário Carajás 30 AnosMarina GomesAinda não há avaliações
- A "Ancestralidade Africana" Da Capoeira e Do Candomblé - Simone Vassalo PDFDocumento20 páginasA "Ancestralidade Africana" Da Capoeira e Do Candomblé - Simone Vassalo PDFAryanne AraújoAinda não há avaliações
- Arturo Escobar 2011 Ecologías Políticas PostconstructivistasDocumento15 páginasArturo Escobar 2011 Ecologías Políticas PostconstructivistasRania Del ValleAinda não há avaliações
- 2186EMENTA DOS COLÓQUIOS TEMÁTICOS DO XII Colóquio Nacional e V Colóquio Internacional Do Museu PedagógicoDocumento7 páginas2186EMENTA DOS COLÓQUIOS TEMÁTICOS DO XII Colóquio Nacional e V Colóquio Internacional Do Museu PedagógicoCarlos NássaroAinda não há avaliações
- Monografia Da Alegria de Ser Facilitadora de BiodanzaDocumento78 páginasMonografia Da Alegria de Ser Facilitadora de Biodanzarobertae1Ainda não há avaliações
- Plano Nacional de Extensão Universitária 2000-2001Documento17 páginasPlano Nacional de Extensão Universitária 2000-2001Víctor FernandesAinda não há avaliações
- PDF - Martina Mendes de Lacerda PDFDocumento36 páginasPDF - Martina Mendes de Lacerda PDFRafaela MedeirosAinda não há avaliações
- A Luta Pela CidadaniaDocumento23 páginasA Luta Pela CidadaniaCícero FilhoAinda não há avaliações
- Sos Aprova Dia 1Documento176 páginasSos Aprova Dia 1dvellyn.sAinda não há avaliações
- Ato Político - Educação Do Campo, Alternancia e Universiade - EbookDocumento272 páginasAto Político - Educação Do Campo, Alternancia e Universiade - EbookNewton SodreAinda não há avaliações
- (DIAS, Claudenilson, S.) Identidades Trans e Vivências em Candomblés de Salvador - Entre Aceitações e RejeiçõesDocumento125 páginas(DIAS, Claudenilson, S.) Identidades Trans e Vivências em Candomblés de Salvador - Entre Aceitações e RejeiçõesBatista.Ainda não há avaliações
- GARELLI Vivian Dissertação Mulheres em Movimento - Vivian GarelliDocumento105 páginasGARELLI Vivian Dissertação Mulheres em Movimento - Vivian GarelliJuliana Dos Santos NunesAinda não há avaliações
- Direitos Humanos - Direito À Liberdade e À IgualdadeDocumento5 páginasDireitos Humanos - Direito À Liberdade e À IgualdadeMarcos SilvaAinda não há avaliações
- Ambientalização Dos Bancos e Financeirização Da NaturezaDocumento204 páginasAmbientalização Dos Bancos e Financeirização Da NaturezaTatiana Emilia Dias Gomes0% (1)
- Ekeys, A HERANÇA DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AS PRERROGATIVAS INTERNACIONAISDocumento18 páginasEkeys, A HERANÇA DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR PROCESSO DE ADEQUAÇÃO AS PRERROGATIVAS INTERNACIONAISPabliene Goulart BarbosaAinda não há avaliações
- CARNEIRO, Sueli - Enegrecer o FeminismoDocumento5 páginasCARNEIRO, Sueli - Enegrecer o FeminismoRLeicester100% (1)
- Peça Teatral - Teatro e Transformação Social - Vol. 2 - Teatro Épico PDFDocumento205 páginasPeça Teatral - Teatro e Transformação Social - Vol. 2 - Teatro Épico PDFFernando LeãoAinda não há avaliações
- Xii Congreso Tolereancia InterculturalidadDocumento364 páginasXii Congreso Tolereancia InterculturalidadAndrés G. OsorioAinda não há avaliações
- Questões de Concurso Pneps-Sus PDFDocumento26 páginasQuestões de Concurso Pneps-Sus PDFMaria Carolina Oliveira BarrosAinda não há avaliações
- Manual Serviços Bros 150Documento12 páginasManual Serviços Bros 150Antonio Augusto AlmeidaAinda não há avaliações