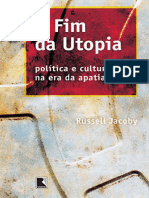Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Desenvolvimentismo e Neoliberalismo
Desenvolvimentismo e Neoliberalismo
Enviado por
Marina TomassiniDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Desenvolvimentismo e Neoliberalismo
Desenvolvimentismo e Neoliberalismo
Enviado por
Marina TomassiniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
23
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
D
Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 11(2): 23-47, out. 1999
(editado em fev. 2000).
RESUMO: Este artigo tem trs partes. Na primeira, faz-se o exame dos pro-
cessos de conquista do poder de Estado que culminaram na eleio de FHC
usando o conceito de hegemonia e a idia de momento maquiaveliano, deriva-
da de Pocock. Na segunda parte, mostra-se que o novo bloco poltico no po-
der, para alm de sua orientao liberal e internacionalizante, polariza-se en-
tre duas verses contrapostas de liberalismo, o fundamentalismo neoliberal e
o liberal-desenvolvimentismo. Discute-se os efeitos socioeconmicos da ado-
o pelo governo do neoliberalismo como eixo de sua poltica macroeconmica.
Na terceira parte, analisam-se as razes polticas que levaram a Presidncia
reiteradamente a essa escolha. A hiptese explicativa sugerida de que a
Presidncia da Repblica interpretou a manuteno do fundamentalismo
neoliberal como um meio decisivo para assegurar o necessrio controle sobre
o sistema poltico. Sugere-se, ao final, que as mudanas macroeconmicas
iniciadas em janeiro de 1999 do as bases para uma reorientao liberal-
desenvolvimentista do governo.
esde os anos 80, quase todos os pases da Amrica Latina vm
passando por profundos processos de transio poltica. No se trata
apenas de mudanas de regime poltico. Tambm tem se alterado a
relao entre poder poltico, sociedade e mercado e a forma de in-
sero internacional das economias nacionais
1
. Entretanto, em cada pas lati-
no-americano, os ritmos e as formas particulares de transformao ocorridas
nas vrias dimenses tm sido muito diferentes.
O Brasil sob Cardoso
neoliberalismo e desenvolvimentismo
BRASILIO SALLUM JR
Professor do Departa-
mento de Sociologia
da FFLCH - USP
UNITERMOS:
Estado,
governo,
crise poltica,
transio poltica,
hegemonia,
politica econmica,
desenvolvimento,
neoliberalismo,
Fernando Henrique
Cardoso.
DOSSI FHC
1
o
GOVERNO
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
24
No Brasil, evidente que a mudana no regime poltico se deu mais
rapidamente do que nas demais dimenses. por isso que Fernando Henrique
Cardoso, ainda antes de sua posse na Presidncia da Repblica, pode situar o
seu governo entre duas dimenses/etapas da transio. Entre a transio pol-
tico-institucional para a democracia, que se teria encerrado com a sua prpria
eleio
2
, e a transio para alm da Era Vargas, que assume como programa
de governo. Propunha-se, assim, sob as regras de uma democracia poltica
consolidada, romper com certas articulaes entre poder poltico, sociedade e
economia remanescentes do perodo Getlio Vargas.
Neste artigo examino em que direo foram transformadas as rela-
es entre poltica e economia, ao longo do governo Fernando Henrique. Na
primeira seo, procuro colocar em perspectiva sociolgica as intenes enun-
ciadas pelo presidente, mostrando que elas reafirmavam o rumo predominan-
te no prprio processo de transformao histrica em curso. Logo depois,
sublinho a maneira especfica com que o governo Cardoso tentou superar o
que denomina Era Vargas. Por ltimo, sugiro algumas hipteses para explicar
politicamente a orientao da poltica econmica do governo FH.
Transio Poltica, Moeda e Eleio
A interseo entre poltica e economia foi uma questo chave no
debate em torno da ascenso de Fernando Henrique ao poder, antes mesmo do
incio de seu governo. Sua prpria eleio foi interpretada sob pontos de vista
diametralmente opostos no que se refere s relaes com a economia.
J durante a campanha, duas interpretaes principais competiram
pelo entendimento do fenmeno eleitoral uma voluntarista e outra
hiperestruturalista. Conforme a primeira, Fernando Henrique teria concebido
o Plano Real para eleger-se. Aqui no relevante se o candidato foi identifica-
do como ser benfazejo ou malfico. O que importa que sua vontade foi
interpretada como capaz de dominar uma economia em desordem e, por con-
seqncia, ganhar o favor popular. De acordo com a segunda interpretao,
pelo contrrio, o Plano Real no teria sido concebido para eleger FHC mas,
na ordem inversa, a candidatura FHC teria sido gestada pelas novas elites
dominantes para viabilizar, no Brasil, a coalizo de poder capaz de dar susten-
tao de permanncia ao programa de estabilizao hegemnico [no mbito
do capitalismo mundial](Fiori, 1995, p. 236). Esta interpretao cede ten-
tao ou obstinao de considerar Fernando Henrique Cardoso uma engre-
nagem decorativa na moenda da nova etapa do capitalismo mun-
dializado(Nobre & Freire, 1998).
Convertendo Fernando Henrique em demiurgo ou, ao invs, em jo-
guete de movimentos estruturais, essas vertentes explicativas opostas econo-
mizam analiticamente quer os processos sociais de construo e direcionamento
da vontade poltica quer a prpria poltica enquanto atividade de articulao
da vontade coletiva.
De fato, a coligao eleitoral que articulou a candidatura Cardoso
1
Manuel Garretn su-
blinha, com razo,
que as transies po-
lticas (de regime)
vm ocorrendo em
meio a uma verdadei-
ra crise da matriz
sciopoltica dos pa-
ses latino-americanos
(cf. Garretn, 1993).
2
Nas palavras do Presi-
dente eleito: estas
eleies (de outubro
de 1994) colocam, a
meu ver, um ponto fi-
nal na transio. De-
pois de 16 anos de
marchas e contramar-
chas, a abertura len-
ta e gradual do ex-
presidente Geisel pa-
rece finalmente che-
gar ao porto seguro de
uma democracia con-
solidada (Fernando
Henrique Cardoso,
dircurso ao Senado,
14/12/94).
Discuti este artigo com
Gildo Maral Brando,
Eduardo Kugelmas e
Geraldo Gardenalli, a
quem agradeo pelas
crticas e sugestes.
25
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
deu o acabamento final a um longo processo de construo social de um novo
bloco hegemnico sado das entranhas da Era Vargas mas em oposio a ela.
Vejamos isso com mais vagar.
A Era Vargas refere-se metaforicamente a um sistema de dominao
enraizado na sociedade e na economia que se perpetuou por mais de meio sculo
na vida brasileira. Comeou a ser construdo nos anos 30, atingiu o pice na
dcada de 1970 e desagregou-se paulatinamente a partir dos anos 80
3
.
Ao longo desse perodo, o Estado passou a constituir-se em ncleo
organizador da sociedade brasileira e alavanca de construo do capitalismo
industrial no pas. Quer dizer, tornou-se um Estado de tipo desenvolvimentista.
Nos ltimos anos da dcada de 1970, entretanto, essa estrutura complexa de
dominao comeou a sofrer um processo lento e descontnuo de desgaste. A
partir da a capacidade de comando do velho Estado sobre a sociedade e a eco-
nomia passa a ser severamente restringida, tanto pelas transformaes econ-
micas internacionais, que marcam a transio do capitalismo mundial para sua
forma transnacional, como pela emergncia de movimentos e formas de organi-
zao autnoma dos segmentos sociais, principalmente dos subalternos. Numa
palavra: transnacionalizao do capitalismo e democratizao da sociedade
foram (e vm sendo), sob vrias modalidades de manifestao, os processos
mais abrangentes de superao do Estado desenvolvimentista.
Embora este Estado viesse se desgastando material e politicamente
desde os anos 70, ele entra em desagregao apenas no incio da dcada de 80,
particularmente em 1983
4
. Ocorre a uma crise essencialmente poltica, mes-
mo que ela tenha sido precipitada pela insolvncia decorrente do crescimento
desmesurado da dvida externa e tenha se materializado como crise fiscal.
Com efeito, foi uma crise de hegemonia, em que como ocorre em rupturas
deste tipo os representantes, os que seguravam o leme do Estado, dissociaram-
se dos representados, que se fracionaram e polarizaram em torno de interesses
e idias distintos. Fraturaram-se, por uma parte, as articulaes tpicas entre o
Estado (e suas empresas), os capitais privados locais e o capital internacional,
entre o setor pblico e o privado. Por outra parte, foi posta em xeque a estru-
tura existente de agregao e intermediao de interesses econmico-sociais
em face do poder estatal. E os vrios segmentos sociais que compunham a
velha aliana desenvolvimentista magnetizaram-se por diferentes frmulas
de enfrentamento da crise econmica, frmulas que oscilaram ideologicamen-
te entre o nacionalismo desenvolvimentista e o neoliberalismo.
Essas rachaduras nas vigas de sustentao do velho Estado impulsio-
naram a derrocada do regime militar-autoritrio. Contudo, a crise de hegemonia
e a instabilidade econmica permaneceram irresolvidas ao longo da dcada de
80 e nos primeiros anos da de 90. Em primeiro lugar, porque as dificuldades
internacionais agravaram-se no perodo. O investimento externo, componente
essencial do padro brasileiro de desenvolvimento, converteu-se na dcada de
80 em desinvestimento. No s os emprstimos privados estrangeiros cessaram
como ocorreu, ao longo desses anos, uma enorme transferncia lquida de recur-
sos para o exterior, principalmente em funo do servio da dvida externa.
3
Cf., sobre a Era Var-
gas, Barboza Filho
(1995).
4
Encontra-se uma an-
lise dessa crise de Es-
tado e seus desdobra-
mentos at a eleio
de Fernando Collor
em Sallum Jr. (1996).
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
26
Alm disso, desde a segunda metade da dcada, acentuaram-se as presses po-
lticas norte-americanas em prol da liberalizao econmica. Em segundo lu-
gar, aumentou muito a presena no espao pblico nacional de movimentos
sociais, organizaes populares, de classe mdia e, mesmo, de empresrios que
alm de impulsionarem a consolidao da democracia poltica reduziram
drasticamente o raio de manobra que tinham os dirigentes do Estado para defi-
nir sadas para a crise de cima para baixo.
Apesar dessas circunstncias completamente distintas das existen-
tes at os anos 70 tentou-se resolver problemas derivados da crise do Estado
Desenvolvimentista dentro de seu antigo quadro de referncia. Buscou-se recu-
perar autoridade do governo sobre o Estado e deste sobre a sociedade como se o
Estado j no tivesse perdido grande parte de sua autoridade poltica e sua fora
material. Em razo disso os ensaios ortodoxos e heterodoxos de enfrentamento
da crise econmica desencadeados no governo Sarney e no perodo Collor
defrontaram-se com o veto e/ou a adeso reticente dos componentes da antiga
aliana desenvolvimentista, aliana que se manteve no poder, mesmo depois
da crise de 1983, embora frouxamente alinhavada e sem direo definida.
Apenas por volta de 1986/1988 que, em meio desagregao da
herana varguista, os participantes do antigo pacto nacional-desenvolvimentista
comeam a reorientar-se politicamente.
As classes proprietrias e empresariais, como reao s iniciativas
reformistas do governo na Nova Repblica e, principalmente, ao Plano Cru-
zado, passaram a mobilizar-se e a organizar-se de forma autnoma visando
conformar a ao e as estruturas estatais. Com o fim do regime militar-autori-
trio, pareceu que o corporativismo, os anis burocrticos e os cartrios
deixaram de ser suficientes como garantias do controle exercido pelo
empresariado sobre o Estado. No apenas o empresariado renova e multiplica
suas organizaes e expande sua atuao na esfera pblica
5
mas tambm a
sua perspectiva passa a predominar largamente nos meios de comunicao de
massa, difundindo-se, com isso, na massa empresarial e nas classes mdias.
O importante que esta atuao desenvolta no se orientava para o
passado, para reconstituir o velho Estado e mesmo a sociedade autocrtica que a
alicerava. No correr da dcada dos 80 foi tornando-se claro para o empresariado
que a retomada do crescimento econmico e a reduo das tenses sociais j no
poderia depender da presena dominante do Estado no sistema produtivo. Pelo
contrrio, ela dependeria da ampliao do grau de associao da burguesia local
com o capital estrangeiro e envolveria concesses liberalizantes em relao ao
padro de desenvolvimento anterior. Agora, o empresariado combate o
intervencionismo estatal, clama por desregulamentao, por uma melhor aco-
lhida ao capital estrangeiro, por privatizaes, etc. Em suma, passa a ter uma
orientao cada vez mais desestatizante e internacionalizante
6
.
Apesar desta guinada poltico-ideolgica do empresariado ter pareci-
do avassaladora, especialmente pelo domnio que tinha da mdia, seu resultado
de curto prazo foi modesto. Em primeiro lugar, ela encontrou resistncias entre
os assalariados organizados. Provocou no pessoal do Estado, especialmente das
5
Encontra-se descrio
detalhada da organi-
zao e atividades das
novas associaes em
Freifuss (1989) e em
Diniz (1993).
6
Est fora dos propsi-
tos deste artigo discu-
tir as origens das idi-
as liberais que acaba-
ram por se difundir no
seio do empresariado
brasileiro. Mas vale
lembrar que sua reori-
entao ideolgica,
embora seja elemen-
to-chave para explicar
a emergncia de um
novo bloco poltico
hegemnico no pas,
constitui parte da ex-
panso mundial das
idias econmicas li-
berais. Esta expanso
ocorre com vigor a
partir do final dos
anos 70, quando os
governos Ronald Rea-
gan nos EUA e Mar-
gareth Thatcher na
Inglaterra passam a
lhes dar peso nas res-
pectivas polticas do-
msticas e no plano
internacional. claro
que os constrangimen-
tos polticos e econ-
micos internacionais
e as situaes inter-
nas afetaram muito o
quando e o ritmo em
que aquelas idias se
difundiram e foram re-
elaboradas em cada
pas. Para uma discus-
so abrangente do tema
cf. Biersteker (1995).
27
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
empresas estatais, antigos aliados do pacto nacional-desenvolvimentista, um
movimento ideolgico de sentido oposto, de defesa do nacional e do esta-
tal, identificados em geral com os partidos de centro esquerda e de esquer-
da. Acrescente-se que, a partir do reconhecimento do direito de sindicalizao
dos funcionrios pblicos pela Constituio de 1988, dezenas e, depois, cente-
nas de organizaes formadas por eles ingressaram na Central nica dos Traba-
lhadores reforando sua orientao estatista e nacionalista.
Em segundo lugar, as organizaes empresariais no conseguiram
converter seu crescimento sociopoltico em fora poltico-institucional. Fo-
ram derrotadas no Congresso Constituinte com a ampliao das limitaes
ao capital estrangeiro, com o aumento do controle estatal sobre o mercado em
geral e com a multiplicao dos mecanismos de proteo social aos funcion-
rios, trabalhadores, aposentados e assim por diante. De fato, apesar de deca-
dente, o modelo nacional-desenvolvimentista verdade que permeado por
conquistas democratizantes foi juridicamente consolidado atravs da Cons-
tituio de 1988. Criou-se uma carapaa legal rgida, aparentemente podero-
sa, que assegurava a preservao das velhas formas de articulao entre Esta-
do e mercado no exato momento em que o processo de transnacionalizao e
a ideologia neoliberal estavam para ganhar, de fato, uma dimenso mundial
com o colapso dos socialismos de Estado, cujo eixo era a Unio Sovitica.
A constitucionalizao parcial da era Vargas deu-lhe uma sobrevida,
em meio mudana na correlao de foras econmicas e sociais no plano na-
cional e internacional. Mas fez da Constituio de 1988 um alvo de ataque de
mdio e longo prazo
7
das elites empresariais e de seus porta-vozes intelectuais e
polticos e, inversamente, trincheira de defesa das organizaes operrias, de
funcionrios pblicos, de empregados da empresas do Estado e da classe mdia
assalariada, especialmente da ligada aos servios pblicos.
As eleies presidenciais de 1989 radicalizaram as polarizaes polti-
co-ideolgicas entre Estado/mercado, internacional/nacional e adicionaram a es-
tes pares opostos a contraposio de modalidades distintas de democracia, a de-
mocracia poltica numa verso delegativa e outra numa verso mais participativa,
ao estilo social-democrata
8
. Apesar da vitria de Fernando Collor porta-voz do
anti-estatismo, do ingresso do pas no Primeiro Mundo (pela modernizao tecno-
econmica) e de uma viso shumpeteriana de democracia a enorme votao de
Luiz Incio da Silva mostrou como tinha fora popular seu projeto de
desenvolvimentismo democratizado e distributivista e, ao revs, como penetrara
pouco na sociedade o projeto liberal-internacionalizante do empresariado.
De qualquer maneira, mesmo por vias transversas, o governo Collor
(maro de 1990 a setembro de 1992) contribuiu para danificar o arcabouo
institucional nacional-desenvolvimentista e para reorientar em um sentido anti-
estatal e internacionalizante a sociedade brasileira. E isso tanto no plano das regras
e normas articuladoras de Estado e mercado como no plano da difuso ideolgica.
Foram suspensas as barreiras no-tarifrias s compras do exterior
e implementou-se um programa de reduo progressiva das tarifas de impor-
tao ao longo de quatro anos
9
. Ao mesmo tempo, implantou-se um programa
7
Digo alvo de mdio e
longo prazo porque a
instabilidade da moeda
e a forma de combat-
la tornaram-se cada vez
mais as questes pol-
ticas centrais da socie-
dade brasileira.
8
A contraposio entre
essas verses de de-
mocracia inspira-se
na distino feita por
Luiz Werneck Viana,
a propsito dos proje-
tos de Lula e Collor e
depois de Lula e Fer-
nando Henrique, en-
tre democracia polti-
ca e democracia so-
cial, esta sendo enten-
dida como a absoro
no plano poltico do
processo de democra-
tizao da sociedade
(cf. Viana, 1995).
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
28
de desregulamentao das atividades econmicas e de privatizao de empre-
sas estatais (no protegida pela Constituio) para recuperar as finanas p-
blicas e reduzir aos poucos o seu papel na impulso da indstria domstica.
Finalmente, a poltica de integrao regional materializada na constituio do
Mercosul (1991) tinha como horizonte ampliar o mercado para a produo
domstica dos pases-membros.
Com isso, desistia-se de construir no pas uma estrutura industrial
completa e integrada, em que o Estado cumpria o papel de redoma protetora
em relao competio externa e de alavanca do desenvolvimento industrial
e da empresa privada nacional. De um ponto de vista positivo, definiu-se com
as medidas tomadas uma estratgia de integrao competitiva da economia
domstica ao sistema econmico mundial. Esperava-se preservar apenas aque-
les ramos industriais que conseguissem, depois de um perodo de adaptao,
mostrar suficiente vitalidade para competir abertamente numa economia in-
ternacionalizada. Dessa forma, o parque industrial domstico tendia a conver-
ter-se em parte especializada de um sistema industrial transnacional
10
.
Esta reorientao estratgica constituiu inflexo importante na nossa
transio poltica, pois produziu alteraes institucionais que incorporavam no
plano do Estado mudanas poltico-ideolgicas que j vinham ocorrendo no
seio do empresariado e das camadas mdias. No entanto, embora sintonizada
doutrinariamente com o empresariado local e o transnacional, a inflexo liberal
no foi suficiente para soldar um novo pacto que superasse a crise de hegemonia
instaurada em 1983. que embora primeira vista Collor parecesse e, mesmo,
quisesse apresentar-se como um Csar providencial, sado das fendas da ordem
poltica em crise para super-la, o seu governo, ao invs, contribuiu para au-
mentar drasticamente as incertezas, quebrando completamente as expectativas
das foras polticas em disputa. Recorde-se a promessa de Collor de deixar a
direita furiosa e a esquerda perplexa. Sem dvida cumpriu a promessa, atacando
as classes proprietrias muito alm do que Lula ousaria.
Com efeito, para estabilizar a moeda, o Plano Collor colocou em xeque
a segurana jurdica da propriedade privada: alm de retomar o congelamento de
preos, seqestrou e reduziu parte dos haveres financeiros do empresariado e da
classe mdia. O governo, ademais, sujeitou as organizaes tradicionais de re-
presentao empresarial a ataques verbais sistemticos e articulou, em paralelo,
grupos de empresrios para lhe dessem suporte na implementao de sua polti-
ca de desenvolvimento. Pretendeu exercer o poder dissociado da classe poltica e
seus mecanismos tradicionais de sobrevivncia. Reduziu as despesas do Estado
desorganizando a administrao pblica com dispensas arbitrrias e em massa de
funcionrios. Tentou fragilizar as organizaes operrias que se lhe opunham in-
centivando organizaes alternativas ligadas ao governo.
Em suma, Collor no governo fracassou como Csar
11
, tornou-se
agente de aprofundamento da crise poltica. Ao invs de oferecer s foras em
disputa meios para sarem de modo consentido dos seus impasses, tentou im-
por-lhes uma alternativa de cima para baixo. Tentou restaurar autocratica-
mente a estabilidade da moeda, base das relaes de troca e da autoridade do
9
As tarifas alfandegri-
as mdias passaram de
31,6% em 1989 para
30,0% em setembro de
1990, 23,3% em 1991,
19,2% em janeiro de
1992, 15,0% em outu-
bro de 1992 e 13,2%
em julho de 1993, seis
meses antes que o
cronograma inicial-
mente fixado.
10
Apesar da reduo das
barreiras s importa-
es, o fracasso dos
programas de estabi-
lizao lanados a
partir do incio do go-
verno Collor (exceo
feita ao Plano Real),
a recesso vigente na
maior parte do pero-
do e a preservao de
uma poltica cambial
favorvel s exporta-
es e prejudicial s
importaes deses-
timularam novos in-
vestimentos industri-
ais e restringiram a
concorrncia dos pro-
dutos estrangeiros.
Por isso, o impacto
das medidas libera-
lizantes sobre a estru-
tura do parque indus-
trial brasileiro foi di-
minuto. Alm disso, a
indstria domstica
encontrou no Mer-
cosul uma vlvula de
escape recesso in-
terna e s dificuldades
de competir no plano
mundial.
11
Referimo-nos aqui ao
cesarismo, fenmeno
poltico em que, numa
situao de crise, o en-
trechoque de foras
polticas eqipotentes
permite o surgimento
de um lder providen-
29
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
Estado sobre o mercado, numa sociedade que, embora mal alinhavada politi-
camente, havia avanado muito no caminho da democratizao.
A mudana nas condies do mercado internacional de capitais, o
legado de Collor (positivo e negativo), a exacerbao da instabilidade polti-
co-econmica no perodo Itamar Franco e o crescimento avassalador do pres-
tgio popular do candidato das esquerdas Presidncia da Repblica consti-
turam condies e alavancas poderosas para a tentativa seguinte, efetivada
em 1994, de costurar a superao da crise de hegemonia que corroa a so-
ciedade brasileira desde o incio dos anos 80
12
.
Recordemos rapidamente as novas condies a que se fez referncia.
Em primeiro lugar, o reincio do afluxo de capitais para a Amrica Latina, como
muitos j sublinharam, mudou completamente as condies para o exerccio de
polticas de estabilizao pois a precariedade das reservas internacionais tinha
sido uma severa restrio s polticas anti-inflacionrias desde os anos 80
13
.
Quanto herana do perodo Fernando Collor, h dois aspectos a
salientar. Mesmo com a repulsa que culminou no processo de impeachment,
preservou-se a despeito das objees do presidente Itamar Franco a estrat-
gia liberal que se comeara a implementar em 1990 (abertura comercial e
privatizaes). Isso sinaliza que, entre as foras poltico-partidrias majoritri-
as que sustentavam o governo Itamar, o reformismo liberal j avanara tanto
que inviabilizava qualquer volta ao nacionalismo desenvolvimentista. Ademais,
depois dos experimentos heterodoxos de Collor, tornou-se muito arriscado
tanto do ponto de vista poltico quanto em funo da eventual reao do Judici-
rio quebrar a indexao pelo controle ou congelamento de preos ou quais-
quer medidas legislativas de duvidoso valor jurdico. Se estas novas condies
restringiam o campo das possibilidades de desenhar uma sada para a crise, o
crescimento do prestgio popular das oposies, impulsionado pela instabilida-
de poltica e econmica do perodo Itamar, recomendava s foras governistas
no s eliminarem a causa do crescimento do adversrio mas unio para enfrent-
lo, sob pena de naufragarem como no final da Nova Repblica.
Essas condies e alavancas deram especificidade fortuna encon-
trada por algumas lideranas polticas que, bem situadas no seio do Estado,
tiveram virtu suficiente para negociar a associao entre partidos de centro e
direita em torno da continuidade das reformas liberais, da estabilizao da
economia e da tomada do poder poltico central, corporificando tudo isso no
lanamento bem sucedido do Plano Real e na candidatura, afinal vitoriosa,
Presidncia da Repblica do seu articulador, o ento Ministro da Fazenda
Fernando Henrique Cardoso.
Esta referncia ao encontro entre fortuna e virtu retoma, de modo um
pouco diverso, a idia de momento maquiaveliano, de Pocock, usada por
Lourdes Sola e Eduardo Kugelmas para enfatizar a atuao das lideranas na
reconstruo do Estado, na mesma situao histrica
14
. Eles lembram que nas
conjunturas crticas central a capacidade das lideranas de aproveitarem ou
no as janelas de oportunidade (no plano internacional, por exemplo) graas
recombinao de algumas das propriedades (genticas) das instituies dadas
cial, que constri a
ponte poltica para um
novo tipo de Estado em
que as foras em luta
possam conviver (cesa-
rismo progressivo) ou,
pelo contrrio, o elo
de ligao entre a si-
tuao catastrfica e
uma forma poltica
antiga, j ultrapassada
(cesarismo regressi-
vo). O autor chave a
este respeito Antnio
Gramsci. O emprego
que aqui se faz algo
metafrico. Para um
balano curto, mas
rico, dos significados
do termo na literatura
especializada, cf. o ver-
bete Cesarismo em
Bobbio (1994).
12
Utilizo-me abundante-
mente da anlise das
condies econmicas
e polticas que cerca-
ram a elaborao do
Plano Real que se en-
contra em Sola &
Kugelmas (1996).
13
O afluxo de capitais
comeou a atingir o
Brasil em 1991 inten-
sificando-se a partir
de 1992, o que permi-
tiu acumular reservas
de divisas consider-
veis de algo como 9
bilhes em fins de
1991, passou-se a qua-
se 24 bilhes em 1992
para atingir cerca de
42 bilhes em meados
de 1994.
14
Estes autores transfe-
rem para a experin-
cia brasileira a idia
de Pocock (1975) uti-
lizada por Malloy &
Connaghan (1996), na
anlise dos pases dos
Andes Centrais.
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
30
no sistema poltico e econmico brasileiro; uma recombinao que justifica o
uso da categoria de statecraft porque determinada pela prevalncia do interesse
geral da comunidade poltica e da ordem poltica ameaadas pelo confronto
entre interesses particularistas(Sola & Kugelmas, 1996, p. 404).
Segundo este raciocnio, a utilizao criativa da reviso constitucional
para gerar condies fiscais mnimas para a estabilizao (o Fundo Social de
Emergncia, votado pelo Congresso em fevereiro de 1994); a instituio de uma
moeda paralela, a URV, unidade de conta (cujo valor em Cruzeiros Reais era fixa-
do diariamente) que no quebrou a indexao mas a exacerbou, gerando por al-
guns meses uma espcie de hiperinflao de laboratrio; e a substituio da
URV pelo Real em 01/07/1994, ancorado no dlar, mas no igual a ele; tudo isso,
em suma, alm de dezenas de regulamentaes especficas, teria produzido a esta-
bilidade. Por essa via se teria assegurado um princpio de universalidade incor-
porado em instituies e prticas sobreposto particularidade e contingncia
inerentes ao comportamento descontrolado das foras contendoras, para usar as
palavras de Malloy e Connaghan sobre o momento maquiaveliano.
Em relao a isso haveria que fazer alguns poucos reparos. Em pri-
meiro lugar, esse princpio de universalidade que se sobrepe aos particularismos,
esse interesse geral que est na base da construo ou reconstruo do Estado
ele prprio, e estou seguro que os autores o reconheceriam, um particular que
ganha foros de universal porque se torna hegemnico. O momento maquiaveliano
em questo foi passo decisivo na superao de uma crise de hegemonia, na
definio de um novo sistema estvel de poder para sociedade brasileira. Segun-
do, o papel das lideranas, a virtu, teve menos latitude do que supem Sola e
Kugelmas. Com efeito, o que se efetiva em 1994 d apenas a amarrao final em
alicerces que vinham sendo socialmente construdos, como se mostrou, desde o
Plano Cruzado. Terceiro, mesmo que o Plano Real tenha sido uma formula tc-
nica brilhante de converter uma hiperinflao surda em estabilidade monet-
ria, ele foi apenas um instrumento essencial mas subordinado do momento
maquiaveliano. O essencial deste estava na composio poltica entre a direita
e o centro poltico-partidrio em torno de um projeto de conquista e reconstru-
o do poder de Estado segundo uma tica predominantemente liberal. No fora
assim, como entender que o Congresso Nacional tenha transferido, ainda em
fevereiro de 1994, recursos fiscais importantes dos estados e municpios para a
Unio (com a criao do Fundo Social de Emergncia), para sustentar um pro-
grama de estabilizao a ser implantado pelo ministro da Fazenda e possvel
candidato Presidncia quando todos os partidos disputavam as governanas
estaduais e, portanto, poderiam ser prejudicados pela deciso?
O extraordinrio sucesso do Plano Real, a eleio de Fernando Henrique
Cardoso para a Presidncia j no primeiro turno, a escolha de um Congresso Na-
cional em que a coalizo partidria vitoriosa tinha folgada maioria, a vitria de
aliados polticos do presidente da Repblica nos pleitos para as governanas de
quase todos os estados tudo isso anunciava que, em 1 de janeiro de 1995, assu-
miriam o leme de um Estado, j ancorado numa moeda com boas chances de
manter-se estvel, representantes de um novo sistema de poder hegemnico, pron-
31
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
tos para completar a tarefa de moldar a sociedade s suas diretrizes.
A nfase dada ao momento maquiaveliano na reconstruo do Es-
tado, complementa e refora o papel cumprido pelo conceito de hegemonia.
Os dois sublinham a insuficincia do conhecimento das estruturas para a ex-
plicao dos processos polticos, especialmente em situaes de crise; uma
classe dominante no se transforma em dirigente a menos que consiga organi-
zar-se e universalize os seus interesses na sociedade; e isso no ocorre a me-
nos que lideranas polticas encontrem uma frmula poltica que permita a
adeso da maioria das foras polticas em presena.
Um bom mapa estrutural permite perceber, por exemplo, que toda a
janela de oportunidade tem seu preo. Assim, a volta das aplicaes de capital
estrangeiro ao pas permitiu acumular reservas em divisas que puderam ser apro-
veitadas para ancorar o Real, mas a estabilidade da nova moeda ficou na depen-
dncia de sua recriao constante e, portanto, em parte, da boa vontade do siste-
ma financeiro internacional e das empresas multinacionais. Um mapa desse tipo
insuficiente, porm, porque no permite deduzir de forma fundamentada, por exem-
plo, que meios sero escolhidos para a recriao das reservas necessrias estabi-
lidade monetria, escolha essa que afeta o grau e a forma da referida dependncia.
A menos, claro, que se acredite que s h uma maneira de faz-lo. Mas isso seria
cair no discurso oficial que tende a justificar suas escolhas como inevitveis
15
.
Liberalismo, Estabilizao e Desenvolvimento
Mesmo do ngulo especfico que se explora aqui, no h forma
simples de caracterizar o primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso.
De uma perspectiva econmica e sciopoltica, sua gesto forma uma unidade
que cobre um perodo superior ao do mandato oficial. Comea de fato no
lanamento do Plano Real, antes pois da posse oficial do Presidente, e termina
j no seu segundo governo, no dia 15 de janeiro de 1999, quando se alterou
radicalmente o regime cambial do pas.
Durante todo este perodo, o governo Cardoso buscou com perseveran-
a cumprir o propsito de liquidar os remanescentes da Era Vargas, pautando-se
por um iderio multifacetado, mas que tinha no liberalismo econmico sua carac-
terstica mais forte. Salvo engano, o ncleo dessa perspectiva pode ser resumido
neste pequeno conjunto de proposies: o Estado no cumpriria funes empresa-
riais, que seriam transferidas para a iniciativa privada; suas finanas deveriam ser
equilibradas e os estmulos diretos dados s empresas privadas seriam
parcimoniosos; no poderia mais sustentar privilgios para categorias de funcio-
nrios; em lugar das funes empresariais, deveria desenvolver mais intensamen-
te polticas sociais; e o pas teria que ampliar sua integrao com o exterior, mas
com prioridade para o aprofundamento e expanso do Mercosul
16
.
Este iderio liberal bsico materializou-se em iniciativas que mudaram
institucional e patrimonialmente a relao entre Estado e mercado. Seu alvo cen-
tral foi quebrar alguns dos alicerces legais do Estado nacional-desenvolvimentista,
parte dos quais fora constitucionalizado em 1988. Ou seja, visaram reduzir a par-
15
Encontram-se na p. 126
do artigo de Nobre &
Freire (1998) timas
observaes sobre a
produo oficial do
inevitvel.
16
A estratgia de apro-
fundar o Mercosul in-
dica quo moderado
era o liberalismo que
perpassava o novo
bloco hegemnico.
Pelo menos desde
1993, o Mercosul dei-
xou de ser visto ape-
nas como bloco co-
mercial. Desde ento
o Brasil buscou inte-
grar-se regionalmente
tambm do ponto de
vista energtico e in-
dustrial. Alm disso, a
poltica brasileira
tem como horizonte a
integrao da Amrica
do Sul. Cf., a respeito,
Sallum Jr. (1997).
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
32
ticipao estatal nas atividades econmicas e dar tratamento igual s empresas de
capital nacional e estrangeiro. O governo Cardoso conseguiu isso atravs da apro-
vao quase integral de projetos de reforma constitucional e infra-constitucional
que submeteu ao Congresso Nacional. Os mais relevantes foram: a) o fim da dis-
criminao constitucional em relao a empresas de capital estrangeiro; b) a trans-
ferncia para a Unio do monoplio da explorao, refino e transporte de petrleo
e gs, antes detido pela PETROBRS, que se tornou concessionria do Estado
(com pequenas regalias em relao a outras concessionrias privadas); c) a autori-
zao para o Estado conceder o direito de explorao de todos os servios de
telecomunicaes (telefone fixo e mvel, explorao de satlites, etc.) a empresas
privadas (antes empresas pblicas tinham o monoplio das concesses).
Alm de desencadear este conjunto de reformas constitucionais, o go-
verno Fernando Henrique estimulou fortemente o Congresso a aprovar lei com-
plementar regulando as concesses de servios pblicos para a iniciativa privada,
j autorizadas pela Constituio (eletricidade, rodovias, ferrovias, etc.), conseguiu
a aprovao de uma lei de proteo propriedade industrial e aos direitos autorais
nos moldes recomendados pelo GATT e preservou o programa de abertura comer-
cial que j havia sido implementado. Sustentado pela legislao que permitia e
regulava a venda de empresas estatais desde o perodo Collor e pelas reformas
constitucionais promovidas desde 1995, executou um enorme programa de
privatizaes e de venda de concesses tanto no mbito federal como no estadual.
Este conjunto de iniciativas parece ter materializado o cdigo comum
do novo bloco hegemnico grande maioria dos parlamentares, burocratas e
dirigentes do Executivo, empresariado de todos os segmentos, mdia, etc. com
larga penetrao na classe mdia e em parte do sindicalismo urbano e na massa
da populao. Com efeito, as medidas legislativas foram aprovadas com facili-
dade pelo Congresso Nacional, apesar da oposio da minoria de esquerda
posicionada atrs das bandeiras da defesa do patrimnio pblico e da econo-
mia nacional. E as privatizaes e vendas de concesses foram realizadas com
grande sucesso e apoio popular, a despeito das escaramuas jurdicas promovi-
das pelas organizaes de esquerda e seus simpatizantes.
Contudo, para alm do cdigo que dava um mnimo de unidade de
crena e propsito ao novo bloco poltico hegemnico, houve fortes polariza-
es no seu interior, polarizaes que se materializaram em uma disputa in-
terna sempre renovada em torno da poltica econmica e em certa duplicidade
e hibridismo das prprias aes do Estado em relao economia.
O exame destas disputas poltico-ideolgicas no interior do novo
bloco poltico hegemnico e das aes do governo torna perceptvel a existn-
cia de uma polarizao bsica entre duas verses distintas de liberalismo
uma mais doutrinria e fundamentalista, o neoliberalismo e outra, que absor-
ve parte da tradio anterior, o liberal-desenvolvimentismo. A primeira ver-
so foi sem dvida a predominante, orientando de modo consistente o ncleo
duro da poltica econmica governamental. A segunda verso de liberalismo
no teve a consistncia da primeira, no se materializou em texto programtico
e nem chegou a orientar sistematicamente a ao governamental (cf. Sallum
33
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
Jr., 1998, p. 63-115; p.157-199)
17
. Mas pode ser reconstruda a partir do de-
bate pblico, de conceitos esparsos aparecidos em documentos oficiais e do
esprito de iniciativas governamentais surgidas em reao a certas conse-
qncias sociais e econmicas supostamente negativas da ortodoxia liberal.
Para a corrente neoliberal dominante a prioridade era a estabilizao
rpida dos preos por meio das seguintes medidas complementares: a) manu-
teno do cmbio sobrevalorizado frente ao dlar e outras moedas
18
, de forma a
estabilizar os preos internos e pression-los para baixo pelo estmulo concor-
rncia derivada do barateamento das importaes; b) preservao e, se possvel,
ampliao, da abertura comercial para reforar o papel do cmbio apreciado
na reduo dos preos das importaes; c) o barateamento das divisas e a aber-
tura comercial permitiriam a renovao rpida do parque industrial instalado e
maior competitividade nas exportaes; d) poltica de juros altos, tanto para
atrair capital estrangeiro que mantivesse um bom nvel de reservas cambiais e
financiasse o dficit nas transaes do Brasil com o exterior, como para reduzir
o nvel de atividade econmica interna evitando assim que o crescimento das
importaes provocasse maior desequilbrio nas contas externas; e) realizao
de um ajuste fiscal progressivo, de mdio prazo, baseado na recuperao da
carga tributria, no controle progressivo de gastos pblicos e em reformas es-
truturais (previdncia, administrativa e tributria) que equilibrassem em defi-
nitivo as contas pblicas; f) no oferecer estmulos diretos atividades econ-
micas especficas, o que significa condenar as polticas industriais setoriais e,
quando muito, permitir estmulos horizontais atividade econmica exporta-
es, pequenas empresas, etc., devendo o Estado concentrar-se na preservao
da concorrncia, atravs da regulao e fiscalizao das atividades produtivas,
principalmente dos servios pblicos (mas no estatais)
19
.
Entre o lanamento do Plano Real e maro de 1995, essa perspectiva
fundamentalista dominou plenamente a poltica econmica. Deixou-se o real va-
lorizar at quase 0,80 por dlar, estancando de forma dramtica a inflao, o que
aumentou extraordinariamente a renda disponvel e a demanda das camadas mais
pobres da populao. Com isso, apesar dos juros altos, a economia que j vinha
aquecida desde o comeo do governo Itamar Franco apresentou um boom extra-
ordinrio, amplificando a demanda por importaes e tornando-se um desaguadouro
mais fcil para produtos usualmente exportados. Ademais, com o objetivo decla-
rado de evitar que a demanda maior resultasse em acrscimos de preos, decidiu-
se em agosto-setembro reduzir as tarifas alfandegrias em relao aos pases do
Mercosul, antecipando a tarifa externa comum, a ser implantada apenas em janei-
ro de 1995. Isso tudo levou reverso dos saldos no comrcio exterior brasileiro,
positivos desde 1987. J em novembro de 1994 os dficits comerciais comearam
a aparecer, chegando em dezembro a mais de 1 bilho de dlares.
Do ngulo do fundamentalismo liberal, o desequilbrio externo no
constitua grande problema. Como o essencial era chegar o mais rapidamente
estabilidade dos preos, era preciso manter apreciada a taxa de cmbio por
um longo perodo e reduzir, com importaes, o poder dos oligoplios indus-
triais fixarem preos. Eventuais dficits no comrcio e nos servios com o
17
No texto citado, ca-
racterizo o liberal-
desenvolvimentismo
de forma diversa, co-
mo uma estratgia em
construo. O texto foi
escrito em julho de
1997 e havia sinais que
permitiam essa inter-
pretao do processo.
18
A sobrevalorizao
cambial no ineren-
te perspectiva neo-
liberal. Pelo contr-
rio, esta orienta-se por
um cmbio de mer-
cado. A verso abra-
sileirada de neoli-
beralismo, que domi-
nou a poltica econ-
mica, via na sobre-
valorizao um meio
eficaz de obrigar as
empresas nacionais a
buscar rapidamente
padres internacio-
nais de eficincia sob
pena de sarem do
mercado. Esta verso
fundamentalista no
sentido de que se cons-
titui numa poltica de
converso forada dos
que no se enqua-
dram. Sobre o neoli-
beralismo, cf. Unger
(1998). A respeito da
apreciao cambial e
sua quantificao, cf.
Schwartsman (1999).
19
Essa perspectiva neo-
liberal teve como re-
presentantes poltico-
intelectuais caracters-
ticos: no governo, o ex-
presidente do Banco
Central, Gustavo Fran-
co, o ex-secretrio de
Poltica Econmica
Winston Fritsch e o
ministro da Fazenda
Pedro Malan; fora do
governo, suas expres-
ses mais notrias fo-
ram alguns economis-
tas da PUC-Rio, den-
tre os quais Rogrio
Werneck e Marcelo de
Paiva Abreu.
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
34
exterior poderiam ser cobertos pelas reservas de divisas disponveis e pelo
afluxo de capitais externos. Acreditava-se que o ambiente de estabilidade cri-
ado pelo Plano Real e taxas elevadas de juros atrairiam parte da enorme mas-
sa de capitais disponveis no mercado mundial. E que, aos poucos, o sistema
econmico se ajustaria em bases mais produtivas, de forma a ter uma insero
mais equilibrada no mercado mundial, o que reduziria a necessidade de pou-
pana externa para fechar o balano de pagamentos.
Obviamente, constitui pressuposto dessa poltica neoliberal de es-
tabilizao uma viso extremamente otimista do mercado financeiro mun-
dial e da rapidez com que o ajuste fiscal se tornaria a nova ncora do real,
em lugar do dlar.
A crise mexicana de dezembro de 1994 sinalizou os riscos implcitos
na adoo de uma poltica macroeconmica orientada pelo fundamentalismo libe-
ral. Quer dizer: dependendo das circunstncias internacionais, um desequilbrio
acentuado da balana comercial e de servios poderia encontrar dificuldades de
ser financiado por capitais externos. No caso em pauta, as reservas internacionais
caram de mais de 41 bilhes de dlares, em outubro de 1994, para 31,4 bilhes
em junho de 1995, tendo-se reduzido 1,2 bilhes apenas entre fevereiro e maro.
Alm disso, a enorme apreciao cambial apontou para a possibili-
dade de desindustrializao parcial do pas pois, para as multinacionais de
alguns setores (como as do setor automotivo), importar foi se tornando mais
vantajoso do que produzir internamente, e porque ficou cada vez mais difcil
para as empresas locais competir com os importados sem aumentar as com-
pras de matrias primas e componentes no Exterior.
Frente s conseqncias real ou potencialmente negativas do
fundamentalismo liberal, desde maro de 1995 at o final de 1998, o governo
passou a tomar medidas compensatrias, tais como: criao do sistema de ban-
das cambiais mveis, desvalorizao nominal e depois real, embora suave, do
cmbio
20
, aumento de tarifas alfandegrias para alguns produtos industriais,
poltica industrial para o setor automotivo, ampliao extraordinria do volume
de emprstimos pelo sistema do Banco Nacional de Desenvolvimento Econ-
mico e Social com taxas especiais de juros (taxas de longo prazo), programao
de investimentos em parceria com a iniciativa privada para a recuperao da
infra-estrutura econmica do pas (Programa Brasil em Ao), programas de
estmulo exportao, seja por iseno de impostos para produtos agrcolas,
seja por financiamento a juros subsidiados, renegociao das dvidas agrcolas,
programas especiais de financiamento para setores industriais selecionados, de
financiamento para pequenas e mdias empresas e assim por diante.
No cabe aqui analisar cada uma dessas iniciativas, mas a maioria de-
las contribuiu para a preservao e reestruturao do sistema econmico nacional
e de vrios setores especficos, inclusive tradicionais (como o setor de txteis e de
calados). O que importa que a maioria dessas medidas teve como fonte de
inspirao aquilo que denominamos antes liberal-desenvolvimentismo. Nele, o
velho desenvolvimentismo dos anos 50 a 70 renasce sob predomnio liberal. Nes-
sa verso de liberalismo tambm d-se prioridade estabilizao monetria, mas
20
Em maro de 1995, o
Banco Central criou
um sistema de bandas
tetos mximo e m-
nimo de variao
cambial, provocando
uma desvalorizao do
real em relao ao d-
lar de 6,0 %. A partir
da e ao longo de 1996
o BC promoveu mini-
desvalorizaes cam-
biais seguindo aproxi-
madamente a variao
dos preos do atacado.
Desde o final de 1996,
com a perspectiva da
produo de um dfi-
cit acentuado na balan-
a comercial, inicia-se
um processo de desva-
lorizao em relao ao
dlar mais intenso do
que a inflao domsti-
ca. Todas essas altera-
es, porm, no foram
reconhecidas como po-
lticas. S a partir da cri-
se asitica, em 1998, o
governo admite que sua
poltica cambial envol-
via uma desvalorizao
real de 7,5 % anuais em
relao moeda norte-
americana.
35
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
a urgncia com que ela perseguida aparece condicionada aos efeitos potenciais
destrutivos que as polticas antiinflacionrias ocasionaro no sistema produtivo.
Por isso, combate-se o radicalismo dos fundamentalistas, exigindo-se um cmbio
no apreciado, para evitar dficits na balana de transaes correntes (comercial e
de servios), e juros mais baixos para no desestimular a produo e o investimen-
to. De outra forma: a combinao de cmbio menos valorizado e juros razoveis
no permitiria uma queda to brusca da inflao, mas provocaria menos
desequilbrios da economia domstica em relao ao exterior e, assim, menor de-
pendncia de aportes de capitais estrangeiros para equilibrar o balano de paga-
mentos. Este desenvolvimentismo continua industrializante, mas seu foco am-
pliou-se para incluir as atividades produtivas em geral, desde a agricultura at os
servios. Alm disso, os seus partidrios no aspiram, como desejavam seus
antecessores dos anos 50, construir no pas um sistema industrial integrado. Aspi-
ram, sim, que a produo local tenha uma participao significativa no sistema
econmico mundial. No entanto, esse desenvolvimentismo limitado pelo molde
liberal apenas v com bons olhos formas bem delimitadas de interveno do Esta-
do no sistema produtivo. Assim, dentro dessa perspectiva, so favorecidas as po-
lticas industriais setoriais, mas desde que limitadas no tempo e parcimoniosas nos
subsdios. Tais polticas tero por objetivo no a substituio de importaes a
qualquer preo mas o aumento da competitividade setorial e, quando muito, o
adensamento das cadeias produtivas para desenvolver no pas o mximo poss-
vel de atividades econmicas com padro internacional de produtividade
21
.
No obstante certa flexibilizao da poltica cambial e a adoo
paulatina de medidas compensatrias sob a inspirao liberal-desen-
volvimentista, o fundamentalismo liberal continuou sendo o eixo da poltica
econmica. Quer dizer, embora o ajuste fiscal definitivo fosse sendo sem-
pre postergado ao longo do governo FHC (em funo das dificuldades e inte-
resses polticos imediatos do governo federal), valorizao cambial e juros
elevados foram convertidos em instrumentos permanentes de estabilizao.
Este conjunto de polticas e/ou de ausncia de polticas governa-
mentais provocou uma distribuio de recursos econmicos que alterou deci-
sivamente, em relao ao passado, as posies relativas dos vrios segmentos
socioeconmicos que esto na base do novo bloco hegemnico
22
. o que se
ver esquematicamente na seqncia.
Em primeiro lugar, o predomnio neoliberal na poltica macro-
econmica fragilizou dramaticamente a economia nacional em relao ao sis-
tema financeiro mundial. certo que a poltica macroeconmica no produziu
o resultado sozinha. Somaram-se a ela, para desequilibrar as trocas da econo-
mia com o exterior, os muitos anos de relativa estagnao econmica e insta-
bilidade monetria e a abertura comercial. De qualquer modo, esse desequilbrio
crnico ampliou o grau de dependncia da economia nacional em relao ao
sistema financeiro mundial pois ela passou a demandar volumoso ingresso
lquido de capitais estrangeiros para equilibrar o Balano de Pagamentos.
Vejamos isso mais de perto. Em situaes em que as relaes entre
uma economia nacional e o sistema financeiro mundial so normais, o grau de
21
Dentro do governo in-
cluem-se nesta pers-
pectiva, dentre outros,
o ministros Jos Ser-
ra, Luiz Carlos Men-
dona de Barros e
Luiz Carlos Bresser
Pereira e o Secretrio
de Poltica Econmica
e, depois, da CAMEX,
Jos Roberto Men-
dona de Barros. Fora
do governo alinham-
se uma enorme quan-
tidade de economis-
tas, tendo frente
Antnio Delfim Neto,
jornalistas econmi-
cos, como Luiz Nassif
e Celso Pinto, etc.
22
Produzem-se efeitos
tambm sobre os domi-
nados, mas no pode-
mos tratar disso aqui.
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
36
fragilidade financeira externa se altera conforme forem as necessidades que a
economia considerada tenha de recorrer ao mercado financeiro internacional
para cobrir seu dficit externo corrente e as dvidas que esto vencendo
23
.
Quanto mais ela tem de obter recursos externos para equilibrar suas contas,
mais uma mudana nas condies do mercado internacional de capitais torna-
se capaz de afetar os fluxos de financiamento para o pas, sujeitando a moeda
nacional ao perigo de eventuais ataques especulativos tendentes a desvaloriz-
la. O grfico abaixo indica a evoluo da fragilidade financeira externa brasi-
leira entre 1992 e 1997, cotejando-a com a curva que mostra o comportamen-
to negativo da balana comercial no mesmo perodo
24
.
A crise mexicana do fim de 1994, a crise asitica de 1997 e a morat-
ria da Rssia, de agosto de 1998, deram lugar a ataques especulativos do tipo
mencionado. Em todas as situaes crticas, o Brasil perdeu grande quantidade
de reservas internacionais e o governo reagiu de forma similar: manteve a esta-
bilidade da moeda, elevando drasticamente os juros para preservar reservas,
para restringir a atividade econmica interna e o desequilbrio externo
25
.
verdade que, em funo dos choques externos, se adotaram cada
vez mais enfaticamente as polticas compensatrias antes mencionadas, in-
clusive uma leve desvalorizao real da taxa cambial. Mas elas no foram
suficientes para contrabalanar a fragilidade financeira externa, especialmen-
te medida que a situao internacional tornou-se bem mais instvel do que
na poca do lanamento do Plano Real. O resultado conhecido: crises suces-
sivas at o ataque final contra o real, j no incio do segundo mandato de
Fernando Henrique Cardoso, que acabou provocando a mudana completa do
regime de cmbio (para cmbio flutuante) e a conseqente desvalorizao do
real em cerca de 50% at o fim de janeiro de 1999.
Em segundo lugar, a estratgia de estabilizao privilegiou a esfera
financeira vis-a-vis as atividades de produo/comercializao de bens e servios.
Assim, apesar da reduo do peso das instituies financeiras no PIB, as polticas
monetria e cambial tm funcionado permanentemente como bombas de suco
23
O conceito de fragili-
dade financeira origi-
na-se em H. Minsky
tendo sido reelabo-
rado e adaptado para
a economia brasileira
por Paula & Alves Jr.
(1999, p. 79).
24
No artigo antes citado
encontra-se anlise eco-
nmica da evoluo da
fragilidade durante o
Plano Real e tambm
explicaes quanto aos
clculos dos ndices a
partir dos dados do Ba-
lano de Pagamentos do
Banco Central.
25
A poltica de desa-
quecimento adotada
depois da crise mexica-
na provocou, segundo o
CNI, um ano de redu-
o dos ndices de
produo industrial
(abril de 1995 a mar-
o de 1996), sendo que
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
I
/
9
2
I
I
/
9
2
I
I
I
/
9
2
I
V
/
9
2
I
/
9
3
I
I
/
9
3
I
I
I
/
9
3
I
V
/
9
3
I
/
9
4
I
I
/
9
4
I
I
I
/
9
4
I
V
/
9
4
I
/
9
5
I
I
/
9
5
I
I
I
/
9
5
I
V
/
9
5
I
/
9
6
I
I
/
9
6
I
I
I
/
9
6
I
V
/
9
6
I
/
9
7
I
I
/
9
7
I
I
I
/
9
7
I
V
/
9
7
BC IFE
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
t
r
i
m
e
s
t
r
e
saldo comercial
(U$ 1,000.00)
ndice de
fragilizao
Fragilidade Financeira
Externa e Saldo da
Balana Comercial
37
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
de rendimentos dos segmentos econmicos da rbita real e do Estado para o con-
junto dos detentores de ttulos financeiros, tanto estrangeiros como locais.
Dentro desse quadro geral, sublinhe-se que a poltica de conteno
permanente das atividades econmicas traduziu-se em baixas taxas de cresci-
mento do produto e, a partir de 1997, em altos ndices de desemprego
26
. Desta
forma, embora a estabilizao da moeda tenha provocado, de incio, ganhos
reais para as camadas assalariadas menos privilegiadas, a continuidade da
poltica de cmbio apreciado e juros altos vem produzindo, desde 1996, uma
regresso naquele processo e uma acentuada transferncia de renda para os
detentores de haveres financeiros.
Outro ponto a sublinhar que a perpetuao das polticas cambial
e monetria como substitutivo do ajuste fiscal acabou por elevar sistematica-
mente o endividamento pblico, principalmente em relao a credores inter-
nos
27
, de tal forma que no ltimo ano do primeiro governo Cardoso o paga-
mento de juros passou a ser o principal fator explicativo do crescimento do
dficit pblico, maior que o dficit da previdncia pblica e privada (cf.
Schwartsman, 1999, p. 20-21). Isso significa que, mesmo quando alterados
os parmetros bsicos da poltica econmica, a dvida pblica demandar que
continue a haver transferncias muito elevadas de recursos do conjunto da
sociedade para o Estado, de modo que este possa satisfazer os seus credores.
Sublinhe-se que, caso houvesse predominado na poltica econmi-
ca a ala liberal-desenvolvimentista do bloco hegemnico, o impacto sobre as
fraes socioeconmicas teria sido completamente distinto. muito provvel
que a inflao no tivesse cado to drasticamente, mas em compensao no
teriam sido to privilegiados os rendimentos financeiros vis-a-vis os deriva-
dos das atividades produtivas e do trabalho. Por isso, h que reexaminar inter-
pretaes que vem o governo FHC como expresso da conquista do poder
poltico pela burguesia paulista ou que afirmam que, desde as eleies de
1994, os paulistas estariam no poder
28
. Vale lembrar que o empresariado
industrial paulista manifestou-se vrias vezes contra a poltica econmica do
governo Fernando Henrique e que esta foi comandada por economistas oriun-
dos da Pontifcia Universidade Catlica do Rio de Janeiro e sintonizada com a
ortodoxia liberal l dominante. Com efeito, a argumentao desenvolvida at
aqui, sublinha que, ao invs de manter afinidades com a burguesia paulista ou
mesmo uma modernidade abstrata de mercado representada pelos paulistas, o
governo Fernando Henrique tendeu a se sintonizar com as orientaes daqui-
lo que Chesnais denomina capitalismo mundial financeirizado (cf. Chesnais,
1998a; 1998b). E o fez, apesar da resistncia que havia dentro do governo,
fora dele mas no interior do novo bloco hegemnico e no conjunto das foras
polticas contrrias ao novo bloco hegemnico.
Em terceiro lugar, o Estado reorientou suas polticas em relao aos
setores socioeconmicos. O mais importante e mais bvio: as empresas estatais
deixaram de ser os pilares da poltica estatal. No s elas vm sendo privatizadas
com rapidez, mas setores que antes eram atendidos por servios da administra-
o direta tm sido entregues ao cuidado de empresas privadas. O exemplo mais
entre agosto de 95 a
maro de 96 os ndices
caram abaixo de zero.
A partir de abril desse
ano notou-se uma recu-
perao ainda hesitan-
te das atividades indus-
triais. No primeiro se-
mestre de 97 houve re-
cuperao ntida, o que
levou a um dficit gran-
de na balana de co-
mrcio exterior daque-
le ano. Com a exploso
da crise asitica no fim
de 97 o Banco Central
voltou a elevar dras-
ticamente os juros,
desaquecendo nova-
mente as atividades
econmicas.
26
Segundo o IBGE, no
perodo ps-REAL
(de 01/07/1994 em di-
ante) as taxas de cres-
cimento do PIB e as
taxas mdias anuais
de desemprego aber-
to (30 dias) foram,
respectivamente, de
7,81% e 4,84% em
94-95, de 0,45% e
5,75% em 95-96, de
5,39% e 5,77% em
96-97, de 1,41% e
7,37% em 97-98 e de
0,67% e 8,32% em
98-99. As taxas de
crescimento do PIB
partem da base zero.
As taxas mdias anu-
ais de desemprego fo-
ram cedidas gentilmen-
te por Alvaro Comin.
27
Entre dezembro de
1994 e julho de 1998 a
Dvida Lquida Total
do setor pblico passou
de 28,1% para 38,6%
do PIB (36,3% apenas
para os credores inter-
nos) (cf. Schwartsman,
1999, p. 21).
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
38
gritante aqui o das estradas de rodagem, cuja manuteno ou construo tem
sido concedida a empresas privadas em troca da explorao dos servios que
prestam pedgio e arrendamento dos terrenos pblicos que as margeiam. Esta
reduo das funes empresariais do Estado no eliminou mas tem transforma-
do profundamente o intervencionismo estatal. Ele vem expandindo suas fun-
es normativas e de controle seguindo o modelo da agncia reguladora de
telecomunicaes (Anatel) e preserva grande parte da sua capacidade de mol-
dar as atividades econmicas por meio das compras de bens e servios.
A empresa privada nacional tambm deixou de ser o foco privile-
giado das polticas do Estado. Se o Estado conserva o seu vis industrializante,
como se viu, at agora no h indicao nem de inteno governamental nem
de reivindicao empresarial de desenvolver uma indstria propriamente na-
cional. Pelo contrrio, alm das empresas estrangeiras terem sido equiparadas
constitucionalmente s nacionais, a orientao bsica do Estado tem sido a de
atrair ao mximo os investimentos estrangeiros e promover sua associao
com empresas nacionais. Entre as associaes empresariais a reivindicao
no privilegiar as empresas nacionais mas reduzir as suas desvantagens com-
petitivas, pela equalizao das condies tributrias, de juros, de infra-es-
trutura, etc. de que dispem as estrangeiras.
Mesmo o sistema de financiamento estatal foi moldado por esta
orientao, no mnimo equalizadora. Na verdade, esta mudana teve incio
no governo Collor. J ento o BNDES foi autorizado a financiar empresas
estrangeiras desde que captasse recursos externos e, com autorizao da Pre-
sidncia de Repblica, mesmo sem este tipo de recursos. Quando o governo
tratava de tornar atraente o setor de telecomunicaes para investimentos es-
trangeiros, em 1997, a Presidncia da Repblica, atravs de medida provis-
ria, autorizou emprstimos dos bancos oficiais a empresas de capital estran-
geiro em setores considerados prioritrios, como o de telecomunicaes, inde-
pendentemente da fonte de recursos.
O governo FHC fez, no entanto, mais do que equalizar as condi-
es entre empresas estrangeiras e nacionais. A poltica de estabilizao (ju-
ros altos/cmbio apreciado) por si s desvalorizou as empresas locais porque
contribuiu para descapitaliz-las e favoreceu as empresas multinacionais, na
medida em que dispem de alternativas de financiamento fora do Brasil, alm
de outras vantagens que o tamanho e a presena em vrios mercados lhes do.
Alm disso, o Estado (nos nveis federal e estadual) procurou atrair sistemati-
camente empresas multinacionais para dois setores-chave da indstria, o
automotivo e o de telecomunicaes, no s modulando a legislao tributria
e o sistema de financiamento mas tambm atravs de convites e outras ini-
ciativas destinadas a vender o Brasil como destino prioritrio de investi-
mentos para o capital estrangeiro. Este conjunto de incentivos implcitos e
explcitos certamente contribuiu para o substancial aumento verificado na
participao nos principais mercados das empresas de capital estrangeiro vis-
a-vis s de capital nacional
29
.
Ademais, desapareceu ou quase a prioridade que o nacional-
28
Refiro-me aqui, res-
pectivamente, aos
sob outros aspectos
excelentes trabalhos
de Viana (1995) e de
Barboza Filho (1995).
29
O indicador mais geral
desta mudana o
crescimento muito len-
to do peso dos investi-
mentos no PIB compa-
rado com o aumento
extraordinrio dos in-
vestimentos diretos es-
trangeiros no pas (o
Brasil tornou-se o se-
gundo destino mais im-
portante entre os pases
emergentes).
39
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
desenvolvimentismo dava indstria. No mbito do BNDES, principal agente
financeiro da industrializao do pas, foi notvel a diversificao setorial das
empresas atendidas. Alm da indstria, passou-se tambm a financiar atividades
comerciais (centros de compras), tursticas (parques de diverso), agrcolas, etc.
Em contrapartida, a agricultura empresarial ganhou uma inusitada
preeminncia na gesto econmica do governo Fernando Henrique. Alm de
medidas que beneficiaram diretamente o setor
30
, as autoridades governamen-
tais deram-se conta de que a agricultura brasileira nas novas circunstncias,
de concorrncia internacional mais aberta tem uma grande capacidade de
competio, mesmo sob condies adversas (infra-estrutura, financiamento e
cmbio). Por isso, o setor tornou-se objeto de especial preocupao do gover-
no tambm no plano internacional. A partir de 1996 e, especialmente, em
1997 por ocasio das discusses sobre a Associao de Livre Comrcio das
Amricas (ALCA) e sobre um acordo de livre comrcio com a Unio Euro-
pia as questes agrcolas e o combate ao protecionismo norte-americano e
europeu ganharam posio central na diplomacia brasileira.
As mudanas havidas nas diretrizes de exerccio do poder no foram
to drsticas a ponto de romper um parmetro bsico da aliana nacional-
desenvolvimentista, a intocabilidade da propriedade agrria. verdade que a
prpria estabilizao monetria reduziu drasticamente valor da propriedade
territorial enquanto a fonte de apropriao de riqueza ao desvalorizar a terra em
cerca de 45% (em mdia). Mas, alm disso, por iniciativa prpria e por presso
social (do Movimento dos Sem-Terra [MST], Confederaes Nacional dos Tra-
balhadores na Agricultura [CONTAG] e da Igreja), o governo desenvolveu ao
longo de quatro anos um extenso programa de reforma agrria. Este programa
envolveu no apenas um grande nmero de desapropriaes e de assentamen-
tos
31
. Ademais, promoveu-se um conjunto de reformas institucionais que visa-
vam ampliar a taxao sobre a terra improdutiva e aumentar o poder de inter-
veno do poder pblico na estrutura fundiria. Modificou-se em 1996 o siste-
ma de tributao do Imposto Territorial Rural introduzindo-se sobretaxas para
terras improdutivas (a maior delas de 20% do valor da terra improdutiva para
propriedades com mais de 5000 hectares e menos de 30% de utilizao) e esti-
pulou-se que o valor da terra nua seria declarado pelo proprietrio e serviria
como valor mximo para efeitos de desapropriao. Instituiu-se tambm o rito
sumrio nas desapropriaes de terras dificultando para os proprietrios de ter-
ras improdutivos o uso de medidas protelatrias.
No cabe subestimar estas iniciativas. No entanto, os seus efeitos
estiveram longe de corresponder s expectativas iniciais. Em primeiro lu-
gar, a arrecadao do ITR no apresentou alteraes substanciais (o que j
seria de esperar pela facilidade com que foi aprovado pela bancada
ruralista) e, em segundo lugar, os assentamentos efetuados concentram-se
mais nas regies de ocupao recente do que nas antigas
32
. Isso indica a
grande capacidade de resistncia da velha estrutura agrria e de seus repre-
sentantes, mesmo quando no contam com o respaldo do poder Executivo e
encontram poucos porta-vozes explcitos.
30
Foram renegociadas as
dvidas dos agriculto-
res deu-se carncia,
os prazos foram alon-
gados e os juros redu-
zidos. Com isso, abriu-
se a oportunidade para
novos investimentos.
Foi criada uma linha de
crdito muito favore-
cido para a agricultura
familiar, o PRONAF.
Os planos de safra pas-
saram a ser divulgados
a tempo, antes das de-
cises de plantio. Foi
reformado o sistema de
seguro agrcola, bene-
ficiando os agricultores
obedientes ao zonea-
mento do Ministrio da
Agricultura. Isentou-se
de ICMS as exportaes
agrcolas e os equipa-
mentos destinados
agricultura. Em lugar
da poltica de preos
mnimos, foram criados
instrumentos financei-
ros para aumentar a se-
gurana de comercia-
lizao da safra. Boa
parte das obras de infra-
estrutura do programa
Brasil em Ao des-
tinaram-se a melhorar o
escoamento dos produ-
tos agrcolas (cf. Men-
dona de Barros, 1998).
31
No perodo de 1965 a
1984, foram assenta-
das cerca de 208.889
famlias, as quais re-
ceberam em mdia
135 ha. Entre 1985 e
1994, foram assenta-
das 206.650 famlias,
recebendo em mdia
54 ha. Entre 1995 e
1997, 193.667 famli-
as receberam 44 ha
em mdia (cf. Tavares
dos Santos, 1998).
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
40
Estratgia Poltica e Gesto Econmica
A exposio anterior, apesar de tocar apenas em alguns aspectos da
poltica governamental, indica claramente que, ao longo do primeiro mandato
de Fernando Henrique Cardoso, o governo contribuiu para ocorressem enor-
mes mudanas no sistema socioeconmico nacional e nas suas relaes com o
Exterior. Entretanto, apesar dessas alteraes e/ou por causa delas, alguns
dos seus principais alvos originais no foram atingidos.
Com efeito, passados quase cinco anos desde o lanamento do Pla-
no Real, o governo Cardoso no conseguiu produzir contas pblicas estrutu-
ralmente equilibradas, que pudessem ancorar a moeda nacional em lugar do
dlar. Colheu esse resultado sem desvio significativo em relao ao
neoliberalismo abrasileirado que, desde o Plano Real, dominou a adminis-
trao da poltica monetria e cambial, mesmo que alguns dos seus custos se
tornassem cada vez mais evidentes crescimento medocre, privilegiamento
dos rendimentos financeiros, desnacionalizao da economia, intercmbio cro-
nicamente deficitrio com o Exterior e, por fim, alto desemprego. O eixo da
poltica macroeconmica foi mantido, mesmo em meio instabilidade finan-
ceira mundial reinante de 1997 em diante, at que o governo viu-se na contin-
gncia de romper o prprio regime cambial vigente apesar do respaldo que
tinha do FMI e dos pases do G 7 como ltimo recurso contra o ataque
especulativo (fuga de divisas) ocorrido na virada dos anos 1998/1999
33
.
Como explicar a insistncia nessa poltica macroeconmica se, pelo
menos desde meados de 1996
34
, j era sabido com bastante segurana que
dificilmente se chegaria ao fim do governo Fernando Henrique com finanas
pblicas estruturalmente equilibradas? De fato, a expectativa de demora era
to grande que, nesta poca, j se ensaiava justificar a necessidade de reelei-
o do presidente da Repblica justamente para que se pudesse ter tempo de
completar as reformas estruturais. Qual a razo, ento, de o governo optar
reiteradamente por uma poltica econmica tendente a produzir custos sociais
internos e de riscos financeiros externos muito maiores do que uma alternati-
va de tipo liberal-desenvolvimentista?
No creio que se encontre uma resposta convincente para essas ques-
tes na discusso econmica das alternativas que se apresentavam. Mesmo
que o debate econmico tenha sido, e seja, essencial para identificar as impli-
caes socioeconmicas provveis das opes governamentais, minha hip-
tese que a escolha feita em prol do fundamentalismo liberal tem uma expli-
cao principalmente poltica. Certamente, no foi uma escolha simples, to-
mada de uma vez por todas. A questo apresentou-se vrias vezes durante o
mandato de FHC e mesmo antes dele (quando da crise mexicana, por exem-
plo). Infelizmente no h condies, nos limites deste artigo, de examinar o
problema nas conjunturas que se apresentou. Tentar-se-, de todo modo, iden-
tificar os principais parmetros das decises polticas tomadas.
Creio que a hiptese mais consistente para explicar a opo gover-
namental bastante simples: a manuteno do fundamentalismo neoliberal
32
A repartio por gran-
des regies, entre 1988
e 1997, mostra uma
concentrao de fam-
lias assentadas no Nor-
te (38%) e no Nordes-
te (36%), totalizando
74% dos assentamen-
tos no Brasil. Este pa-
dro se mantm nos l-
timos trs anos (1995-
1997), pois embora o
Nordeste passe a lide-
rar o processo, com
40% das famlias as-
sentadas, o Norte, com
32% e o Centro-Oeste,
com 19%, totalizam 51
% das famlias assen-
tadas (cf. Tavares dos
Santos, 1998).
33
Depois da quebra do
regime cambial e da
introduo do cmbio
flutuante, a estabili-
dade tem sido man-
tida graas a um ajus-
te-fiscal-conjuntural-
e-repressivo e pol-
tica monetria.
34
Em 17 de julho de
1996, um ano e meio
depois de comear a
tramitar o projeto de
reforma da previdn-
cia, chave do ajuste
fiscal, o governo so-
freu vrias derrotas im-
portantes na Cmara
dos Deputados quando
da votao do projeto
em 2 turno. A ponto de
se dar ao senador Beni
Veras a misso de re-
comp-lo no Senado,
41
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
foi interpretado pela Presidncia da Repblica como um meio decisivo para
assegurar o necessrio controle sobre o sistema poltico, tendo em vista reali-
zar a pesadssima agenda de reformas institucionais que constitua o ncleo
duro do programa do governo.
Explico-me. O objetivo central do programa de governo de Fernando
Henrique era preservar a estabilidade monetria e mudar o padro de desen-
volvimento brasileiro, superando a Era Vargas, que nas palavras do Presi-
dente ainda atravanca o presente e retarda o avano da sociedade. J que
ela fora parcialmente constitucionalizada em 1988, o cerne do programa do
novo governo consistia em um conjunto de projetos destinados a reformar
parte da Constituio e alterar leis infra-constitucionais que materializavam
institucionalmente o remanescente do varguismo.
Como as reformas constitucionais programadas eram numerosas e
de aprovao muito difcil (uma mudana constitucional exige 3/5 de votos
nominais em dois turnos de votao em cada uma das casas do Congresso
Nacional), o governo dedicou a maior parte das suas energias luta na arena
poltico-institucional
35
. Ora, nessa arena, a coalizo vitoriosa em 1994 con-
tou, desde o seu incio, com uma posio poltica excepcional para realizar
seus propsitos. O pleito resultou no apenas na vitria da candidatura de
Fernando Henrique Cardoso, mas tambm numa boa maioria no Congresso
Nacional para a coligao partidria de centro-direita que se articulou em tor-
no dele (PSDB-PFL-PTB). Alm disso, nos principais estados da Federao
venceram as eleies candidatos a governador aliados do presidente. Ade-
mais, a escolha do ministrio permitiu ao presidente eleito consolidar sua
maioria parlamentar, incorporando coalizo original o maior partido brasi-
leiro, o PMDB, cujo candidato Presidncia havia sido fragorosamente der-
rotado. Em boa parte das votaes, alm disso, a coligao governista podia
contar com a maioria dos votos do PPB, partido situado direita da aliana
governista. Em contrapartida, as foras de esquerda marcadas pelo naciona-
lismo e pelo estatismo, orientadas para a reconstruo do projeto nacional-
desenvolvimentista numa verso favorvel incorporao das massas popu-
lares conseguiram obter s uma presena frgil no mundo poltico oficial,
cerca de1/5 das cadeiras da Cmara dos Deputados e menos ainda do Senado.
Elegeram alguns governadores, mas estes acabaram mostrando-se favorveis
ao projeto de reforma do Estado defendido por Cardoso. Em suma, na arena
institucional, a coligao poltico-partidria afinada com a orientao poltica
do presidente da Repblica, alm de dominar o Executivo federal, dominava
claramente o Legislativo e tinha grande presena na Federao.
Contudo, uma afinidade de orientao poltico-ideolgica entre
Executivo e sua base parlamentar no costuma converter-se automaticamente
em votos favorveis s propostas governamentais. No sistema poltico brasi-
leiro, essa converso est usualmente associada, tanto distribuio para a
base parlamentar de recursos polticos especficos, controlados pelo Executi-
vo e por seu dispositivo de apoio no Congresso, como ao prestgio polti-
co do governo e do Presidente, isto , aprovao difusa que eles tm da
para que pudesse reco-
mear do zero na C-
mara. Alm da lentido
e diluio da reforma
da previdncia, tam-
bm davam motivos
para pessimismo quan-
to ao ajuste fiscal as
dificuldades de avan-
ar na reforma admi-
nistrativa e os grandes
aumentos de despesas
pblicas ocorridas por
reajustes salariais con-
cedidos, em 1994, por
Itamar Franco e vrios
governadores de Estado
em final de mandato.
35
Distinguem-se aqui
trs arenas de disputa
do poder, segundo os
diferentes tipos de re-
cursos polticos utiliza-
dos: a arena institu-
cional onde os atores
usam os recursos deri-
vados das posies
institucionais que ocu-
pam; a arena da influ-
ncia, em que os ato-
res competem entre si
usando como recursos
sua capacidade de con-
vencimento (espao na
mdia, lideranas lo-
cais, etc.); e a arena de
coero, em que os ato-
res polticos usam mei-
os fsicos para conse-
guir seus objetivos (gre-
ves, passeatas, lockout,
foras para-militares,
etc.). A distino foi
proposta em Flanagan
(1973).
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
42
populao
36
. Pode-se at dizer sem receio que quanto mais o governo dispe
de prestgio poltico, menos necessidade tem de recorrer distribuio de re-
cursos especficos, no estilo clientelista.
Na arena da influncia, onde Fernando Henrique podia obter parte
desse prestgio poltico para si e para seu programa, sua posio tambm era
muito favorvel. Os rgos de comunicao de massa e a maioria dos forma-
dores de opinio j aderira, h bastante tempo, perspectiva mais liberal e
internacionalizante que orientava o novo bloco hegemnico. Em especial, o
prprio presidente da Repblica era apresentado de forma extraordinariamente
favorvel: intelectual brilhante, com prestgio internacional; poltico afeito ao
dilogo, reformista moderado, moralmente inatacvel; e que, alm de tudo
isso, mostrara a rara capacidade de administrar com muita habilidade, em
meio turbulncia econmica e poltica do governo Itamar Franco, um pro-
grama muito bem sucedido de estabilizao. Contudo, a sintonia entre mdia e
governo no algo que se mantm naturalmente, por inrcia; depende, em
parte, do grau em que a massa de consumidores das mdia mostra-se receptiva
s polticas governamentais.
claro que o domnio governamental numa das arenas serviu como
reforo para controlar a outra. Contudo, o mais relevante que tanto na arena
institucional como na de influncia a posio dominante do governo e do pre-
sidente foi sempre alicerada na simpatia da grande maioria da populao,
sentimento derivado da estabilidade dos preos obtida com o Plano Real e da
subseqente melhora temporria das suas condies de vida. Explica-se: ape-
sar de difuso, o prestgio popular tinha possibilidades de se converter, eventu-
almente, em formas especficas e variadas de apoio poltico ao governo boa
receptividade s suas mensagens ou impermeabilidade opinies contrrias a
ele, disponibilidade para mobilizar-se em favor dele ou para votar em candi-
datos a ele associados e assim por diante.
Mesmo na arena coercitiva, onde a oposio dispunha de mais re-
cursos, o referido sentimento difuso de simpatia popular teve relevncia. Ele
dificultou as mobilizaes contrrias ao governo e facilitou o combate polti-
co s organizaes de oposio que conseguiam ultrapassar aquela barreira.
Sublinhe-se, entretanto, que na arena coercitiva o efeito
desmobilizador do prestgio popular difuso proveniente da estabilizao teve
apenas um papel suplementar. A prpria estabilizao quebrou o padro cos-
tumeiro de luta distributiva, quer dizer, o estilo de mobilizao e luta desen-
volvido pelas organizaes de assalariados para enfrentar o regime de infla-
o alta e indexada. Com isso, os resultados das mobilizaes e paralisaes
tornaram-se mais incertos e as reivindicaes mais difceis de obter.
Ademais, o governo tratou de reduzir ao mnimo as possibilidades
da oposio operar na arena coercitiva, tentando derrotar politicamente a Cen-
tral nica dos Trabalhadores. Para isso adotou, j no primeiro semestre de
1995, uma posio no-negociadora e legalista para vencer a greve dos sindi-
catos de petroleiros
37
. Esperava quebrar, assim, a espinha dorsal do sindicalismo
de oposio e debilitar um dos principais cones do estatismo e do nacionalis-
36
Argelina C. Figueiredo
e Fernando Limongi
tm acentuado em v-
rios artigos a fora dos
controle poltico do
Executivo e de seu
dispositivo partid-
rio sobre a base par-
lamentar no interior do
Congresso Nacional.
Eles mostram fora at
na aprovao de mat-
rias impopulares como
a reforma da previdn-
cia (cf. Figueiredo &
Limongi, 1998).
37
A paralisao que
entre outras deman-
das exigia o cumpri-
mento de promessas
salariais feitas no pe-
rodo Itamar Franco
durou cerca de dois
meses. Ela tornou-se
muito impopular por-
que, alm da reivindi-
cao de aumento de
salrios ter sido estig-
matizada pelo discur-
so oficial como exa-
gerada e perigosa
para o Plano Real,
ocasionou falta de gs
de cozinha e de com-
bustveis. Essa impo-
pularidade abalou a
unidade do movimen-
to e facilitou sua der-
rota para o governo,
cuja posio teve o
suporte do Judicirio,
que caracterizou a
greve como ilegal.
43
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
mo. provvel que tenha tido sucesso e que se possa atribuir derrota dos
petroleiros algo da debilidade apresentada pelo movimento sindical ao longo
do governo Fernando Henrique.
A propsito da arena coercitiva, cabem duas pequenas mas impor-
tantes digresses. Em primeiro lugar, o governo Fernando Henrique no fez
esforo para obter a contribuio positiva de organizaes societrias para a
execuo de seu programa. Quer dizer, no apenas procurou desmobilizar a
oposio mas desprezou a mobilizao social em seu favor. Quase sempre
procurou aprisionar a poltica nas arenas institucional e de influncia
38
, iso-
lando a poltica da sociedade organizada (cf. Oliveira, 1996, p. 59-60; p. 69).
Apesar disso e este outro ponto a sublinhar a propsito da arena
coercitiva o Movimento dos Sem-Terra (MST) manteve-se na ofensiva duran-
te todo o governo Cardoso e com alto grau de apoio popular urbano. Fustigando
o governo com invases de terra e manifestaes em todo o pas, o MST obri-
gou a Presidncia da Repblica a transformar os rgos dedicados ao tratamen-
to da questo fundiria e a adotar medidas inovadoras para melhorar o seu pro-
grama de reforma agrria. O inegvel sucesso desse movimento em prol de mais
igualdade mesmo sob as condies adversas que afetavam principalmente os
atores coletivos enraizados nas classes populares indica que o movimento de
democratizao da sociedade ainda continuar, por muito tempo, a ser uma das
molas bsicas da transformao da sociedade brasileira.
Este balano esquemtico da situao nas trs arenas consideradas
indica a enorme importncia que tinha para o governo, e para a realizao de
seu programa, a manuteno do prestgio popular difuso produzido pela pre-
servao da estabilidade de preos. Essa simpatia difundida no plano
psicossocial dava ao governo bases slidas para produzir resultados favor-
veis nos vrios campos de luta poltica.
Cabe tornar mais precisa esta proposio em dois sentidos. O pri-
meiro deles apenas uma reiterao. A ao poltica bem sucedida do gover-
no nas vrias arenas polticas teve no apoio difuso recebido da populao
apenas um dos seus componentes causais. Mesmo na arena poltico-
institucional, onde o governo Cardoso estava melhor posicionado, seu suces-
so dependeu de outras condies tais como, do funcionamento dos sistemas
de controle do dispositivo governista sobre sua base parlamentar, do con-
tedo especfico das medidas que pretendeu aprovar, etc.
O segundo quase bvio mas muito importante: a valorizao da
estabilidade monetria foi socialmente produzida. Ela no teria ocorrido caso
a maior parte da populao no tivesse sofrido a experincia traumtica de
alta inflao no perodo anterior ao Plano Real. Conseqentemente, caso o
status quo ante tivesse sido de estagnao econmica, baixa inflao e de-
semprego elevado, provvel que polticas orientadas para o crescimento r-
pido e o emprego teriam sido as de maior impacto popular.
A argumentao desenvolvida at aqui pretendeu sublinhar a lgi-
ca poltica que explica, em parte, a preferncia pelo fundamentalismo neoliberal
ao longo do primeiro governo Fernando Henrique. Essa escolha pode ter sido
38
Foram excees a mo-
bilizao e organiza-
o do empresariado
agrcola junto ao Mi-
nistrio da Agricultu-
ra no comeo do go-
verno e a tentativa de
negociao com a CUT
de um aspecto da re-
forma da previdncia
social. Sublinhe-se
que, em ambos os ca-
sos, o rompimento do
isolamento deu-se para
melhorar uma posio
governamental tem-
porariamente desvan-
tajosa na arena ins-
titucional.
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
44
percebida pela Presidncia da Repblica como a forma mais segura de preser-
var a estabilidade dos preos, produzir prestgio poltico difuso para o gover-
no e, conseqentemente, maior controle sobre a atuao dos agentes e sobre
os resultados obtidos nas vrias arenas de disputa poltica.
Todavia, desvendar a determinao poltica da opo por uma al-
ternativa de gesto econmica no significa transform-la em algo inevitvel.
Ainda mais porque em cada momento em que a escolha foi reiterada no se
decidiu entre polticas de objetivos antagnicos, como entre inflao versus
estabilidade, ajuste ou desequilbrio fiscal, etc. As alternativas que se ofereci-
am situavam-se no mesmo espectro poltico-ideolgico, embora a se locali-
zassem em plos opostos e cada uma delas produzisse, como j se enfatizou
anteriormente, implicaes socioeconmicas muito diferentes.
Para que se entenda melhor a lgica das escolhas feitas, vale mon-
tar uma pequena equao das implicaes em custos/benefcios provveis da
escolha entre fundamentalismo neoliberal e liberal-desenvolvimentismo. O
primeiro oferecia mais garantias imediatas de segurar o Real preservando
o prestgio poltico difuso que ajudava o governo a manter suas posies nas
vrias arenas polticas e mais riscos de mdio e longo prazo, por conta do
eventual crescimento da taxa de desemprego e de perturbaes provenientes
do sistema financeiro internacional. O segundo prometia mais garantias de
mdio e longo prazo maior impulso ao crescimento e ao equilbrio das rela-
es econmicas com o exterior e menor fragilidade em relao a oscilaes
bruscas do sistema financeiro internacional porm menos segurana polti-
ca de curto prazo, em funo da eventual perturbao monetria derivada, por
exemplo, de uma mudana na poltica cambial ou de juros.
claro que, na avaliao de riscos, a seqncia temporal dos even-
tos altera o peso dos fatores a considerar. Ao longo do transcurso do primeiro
governo Cardoso tornaram-se mais bvios os nus implcitos na gesto
macroeconmica dominada pelo fundamentalismo neoliberal. Em compensa-
o, a dinmica dos eventos polticos que podiam colocar em xeque o dom-
nio da coalizo governante e a liderana da Presidncia da Repblica sobre
ela eleies municipais, aprovao do direito de reeleio, nova eleio para
cargos estaduais e federais, etc. tendeu a acentuar os eventuais prejuzos
polticos de uma mudana de poltica macroeconmica.
A perspectiva poltica de curto prazo, que parece ter dominado as
opes do governo Fernando Henrique em poltica macroeconmica, no pode,
entretanto, ser atribuda apenas ao resultado de clculos polticos ad hoc, fei-
tos a partir de uma equao mais ou menos complexa de custos e benefcios.
Diversamente, ela tem afinidade com uma certa concepo de exer-
ccio de democracia que marcou a estratgia poltica governamental ao longo
do primeiro mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso. Trata-se de
concepo de democracia representativa que no se abre exceto excepcio-
nalmente incorporao no espao pblico de organizaes sociais porta-
dores de interesses coletivos. Com efeito, na elaborao de polticas pblicas,
o governo Fernando Henrique, ancorado no apoio difuso da populao, res-
45
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
tringiu a um mnimo sua articulao direta com grupos de interesse ou agru-
pamentos no-partidrios de opinio. No exerccio do poder, sua estratgia
foi insular-se sistematicamente dos movimentos da sociedade organizada, con-
centrando seus esforos nas arenas institucional e de influncia.
Desta forma, embora no haja como negar ao governo Fernando
Henrique a qualificao de democrtico e representativo, ele afastou-se de qual-
quer veleidade social-democrata. Pelo contrrio, sua prtica democrtica foi de
estilo delegativo. No h que confundi-la, porm, com a concepo de democra-
cia inerente ao programa de Collor, medida que a delegao suposta no exerc-
cio de governo de Fernando Henrique no tem a marca personalista daquele.
Consideraes Finais
Os acontecimentos de janeiro de 1999 quebraram, a despeito da von-
tade do governo Cardoso, as bases macroeconmicas que delimitaram o seu
primeiro mandato presidencial. Em lugar do cmbio semi-fixo e sobrevalorizado,
instituiu-se o cmbio flutuante e provavelmente subvalorizado, pelas circuns-
tncias desfavorveis da mudana. Ao invs de uma poltica de juros altos, o
Banco Central passou a orientar-se para a baixa dos juros at o patamar interna-
cional, medida que o controle da inflao assim o permitir.
O que se inaugurou, porm, com a crise econmico-financeira de ja-
neiro no foi um processo de mudana para alm dos limites do bloco hegemnico.
Lanou-se, sim, em janeiro, as bases econmicas para uma possvel transforma-
o poltica no seu interior, em direo ao plo liberal-desenvolvimentista.
No entanto, uma reverso desse tipo extremamente problemtica.
E no me refiro aqui apenas s circunstncias econmicas desfavorveis em
que se encontra o pas, tanto no plano interno como no externo. O empobreci-
mento da populao, a crise de janeiro e a elevao da inflao liquidaram o
prestgio poltico difuso que sustentava boa parte do controle do governo so-
bre as vrias arenas polticas. Apenas isso j tornaria a operao poltica mui-
to mais difcil. Ademais, a insistncia da Presidncia na preservao do
fundamentalismo liberal no primeiro mandato devorou parte dos quadros tc-
nicos e dos apoios poltico-sociais que lhe permitiriam agora virar o jogo.
Por fim, ainda no est claro se o prprio presidente da Repblica est con-
vencido de que pode e deve transitar para a alternativa liberal-desen-
volvimentista e para formas mais ativas de articulao do Estado com a socie-
dade organizada. Ainda mais porque estas alternativas, embora sintonizadas
com o processo de democratizao da sociedade que o pas continua atraves-
sando, envolvem grandes dificuldades polticas para sua implantao.
Recebido para publicao em agosto/1999
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
46
SALLUM JR., Brasilio. Brazil under Cardoso: neoliberalism and developmentism. Tempo Social; Rev.
Sociol. USP, S. Paulo, 11(2): 23-47, Oct. 1999 (edited Feb. 2000).
ABSTRACT: This article has got three parts. The first makes an exam of the
processes of conquest of the power of the State, which culminated in the
reelection of FHC, using the concept of hegemony and the idea of Machiavellian
moment derived from Pocock. The second part shows that the new political
block in charge, besides its liberal and internationalizating orientation, polari-
zes itself between two opposed versions of liberalism, the neoliberal
fundamentalism and the liberal-developmentism. It also discusses the social
economical effects of the adoption of the neoliberalism by the government as
an axe of its macroeconomic policy. The third part analyses the political reasons,
which guided the presidency reiteratedly to this choice. The suggested
hypothesis are that the Presidency of the Republic interpreted the maintenance
of the neoliberal fundamentalism as a decisive way of assuring the necessary
control over the political system. At the end it is suggested that the
macroeconomical changes that started in January 1999 are the basis for a
liberal-developmentist reorientation of the government.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BARBOZA FILHO, Rubens. (1995) FHC: Os paulistas no poder. In: AMARAL,
Roberto (org.). FHC: Os paulistas no Poder. Niteri, Casa Jorge
Editorial, p. 93-155.
BOBBIO, Norberto et alli.(1994) Dicionrio de Poltica. 6
a
edio, Vol. 1.
Braslia, Editora UnB .
BIERSTEKER, Thomas J. (1995) The triumphof liberal economic ideias. In:
STALLINGS, Barbara (org.). Global change, regional response.
Cambridge, Cambridge University Press, p. 174-196.
CHESNAIS, Franois. (1998a) A fisionomia das crises no capitalismo
mundializado. Novos Estudos, 52: 21-54, novembro.
_______ (org.). (1998b) A mundializao financeira gnese, custos e ris-
cos. So Paulo, Xam.
DINIZ, Eli (org.). (1993) Empresrios e Modernizao Econmica: Brasil
anos 90. Florianpolis, Ed. UFSC/IDACON.
FIGUEIREDO, Argelina C. & LIMONGI, Fernando. (1998) Reforma da Previ-
dncia e Instituies Polticas. Novos Estudos, 51: 63-90, julho.
FIORI, Jos Luiz. (1995) Em Busca do Dissenso Perdido. Rio de Janeiro, Insight.
FLANAGAN, Scott. (1973) Models and methods of analysis. In: ALMOND, G. et alli
(orgs.). Crisis, choice and change. Boston, Little Broen, p. 43-101.
FREIFUSS, Ren. (1989) O Jogo da Direita Na Nova Repblica. Petrpolis,
Vozes, p. 181-294.
UNITERMS:
State,
government,
political crises,
political transition,
hegemony,
economical policy,
development,
neoliberalism,
FHC.
47
SALLUM JR., Brasilio. O Brasil sob Cardoso: neoliberalismo e desenvolvimentismo. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo,
11(2): 23-47, out. 1999 (editado em fev. 2000).
GARRETN, Manuel. (1993) Las transiciones en su contexto. In: Cambio XXI
Fundacin Mexicana (org.). Las transiciones a la democracia.
Mexico, D.F., Miguel Porrua Ed.
MALLOY, James & CONNAGHAN, C. (1996) Unsettling Statecraft, democracy
and neo-liberalism in Central Andes. Pittsburg, Pittsburg University
Press.
MENDONA DE BARROS, Jos Roberto (org.). (1998) Agricultura e Estabili-
zao no Brasil (1995-1998). Braslia-DF, Embrapa-SPI/Minist-
rio da Fazenda.
NOBRE, Marcos & FREIRE, Vincius Torres. (1998) Poltica difcil, estabiliza-
o imperfeita: os anos FHC. Novos Estudos, 51: 123-147.
OLIVEIRA, Francisco de. (1996) O primeiro ano do governo Fernando Henrique
Cardoso (Debate). Novos Estudos, 44: 47-72, maro.
PAULA, Luiz Fernando Rodrigues de & ALVES JR., Antnio Jos. (1999) Fra-
gilidade financeira externa e os limites da poltica cambial no Real.
Revista de Economia Poltica, 19(1): 72-93, janeiro-maro.
POCOCK, J.G.A. (1975) The Machiavellian Moment. Princeton, Princeton
Univerty Press.
SALLUM JR., Brasilio. (1996) Labirintos Dos generais Nova Repblica.
So Paulo, Hucitec/Sociologia-USP.
_______. (1997) Estamos reorganizando o capitalismo brasileiro (entrevista de
Fernando Henrique Cardoso). Lua Nova, So Paulo, 39: 11-31.
_______. (1998) Globalizao e Estratgia para o Desenvolvimento: o Brasil
nos anos 90. In: DINES, Alberto et alii. Sociedade e Estado: Supe-
rando Fronteiras. So Paulo, Edies Fundap, p. 243-280.
SCHWARTSMAN, Alexandre. (1999) A crise cambial e o ajuste fiscal. Revista
de Economia Poltica, 19(1): 5-29, janeiro-maro.
SOLA, Lourdes & KUGELMAS, Eduardo. (1996) Statecraft, instabilidade eco-
nmica e incerteza poltica: o Brasil em perspectiva comparada. In:
DINIZ, Eli (org.). Anais do Seminrio Internacional: O desafio da
democracia na Amrica Latina.Rio de Janeiro, Iuperj, p. 398-414.
TAVARES DOS SANTOS, Jos Vicente. (1998) Relatrio Final do Projeto Con-
flitos Sociais Agrrios. Convnio FAO-INCRA/IFLCH-
UFURGS, dezembro.
UNGER, Roberto Mangabeira. (1998) Democracy Realized The progressive
alternative. London/NewYork, Verso.
VIANA, Luiz Werneck. (1995) O Coroamento da Era Vargas e o Fim da
Histria do Brasil. Dados, Rio de Janeiro, 38(1): 163-170.
Você também pode gostar
- De Como A Natureza Foi Expulsa Da ModernidadeDocumento26 páginasDe Como A Natureza Foi Expulsa Da ModernidadeVitor Da Costa SilvaAinda não há avaliações
- Educação FemininaDocumento17 páginasEducação FemininavinciusAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos - Ciência PolíticaDocumento9 páginasConceitos Básicos - Ciência PolíticaDiego LuisAinda não há avaliações
- A Economia É A Continuação Da Psicologia Por Outros Meios - SAFATLEDocumento28 páginasA Economia É A Continuação Da Psicologia Por Outros Meios - SAFATLESilvio GuimaraesAinda não há avaliações
- Aula 07 Noções de Administração para Assistente Administrativo - EBSERH Prof. Marcelo SoaresDocumento108 páginasAula 07 Noções de Administração para Assistente Administrativo - EBSERH Prof. Marcelo SoaresLuis CostaAinda não há avaliações
- Teste Historia 6 Ano Portugal Na Segunda Metade Do Seculo XIXDocumento4 páginasTeste Historia 6 Ano Portugal Na Segunda Metade Do Seculo XIXFilipa PintoAinda não há avaliações
- 3 Tendências PedagógicasDocumento41 páginas3 Tendências Pedagógicasjoycerodrigues1773Ainda não há avaliações
- LYNCH de Rui A Joaquim Barbosismo No STFDocumento127 páginasLYNCH de Rui A Joaquim Barbosismo No STFGuilherme CamfieldAinda não há avaliações
- Simulado - 3° Ano - 1° BimestreDocumento5 páginasSimulado - 3° Ano - 1° BimestreLutiele Medina De Matos ChavesAinda não há avaliações
- Jorge+Malem+-+Moral+y+Derecho - Es.ptDocumento11 páginasJorge+Malem+-+Moral+y+Derecho - Es.ptSalazar O ShrekAinda não há avaliações
- Resolve 10Documento24 páginasResolve 10Carlos RamosAinda não há avaliações
- Capitulo Do Livro Historia Da Educação - AranhaDocumento11 páginasCapitulo Do Livro Historia Da Educação - AranhaSirleia Nascimento100% (2)
- Dissertacao RoselmaDocumento113 páginasDissertacao RoselmaArlindo Almeida CarvalhoAinda não há avaliações
- Do Estado Regulador Ao Estado GarantidorDocumento37 páginasDo Estado Regulador Ao Estado GarantidorFlávio M R BrunoAinda não há avaliações
- Tobias Barreto de Menezes e A Geração de 1870Documento4 páginasTobias Barreto de Menezes e A Geração de 1870Felipe BarbosaAinda não há avaliações
- Aula 03Documento8 páginasAula 03guilherme0da0costa-1Ainda não há avaliações
- Revista Brasileira 81Documento259 páginasRevista Brasileira 81Eduardo RosalAinda não há avaliações
- Jose Eduardo Faria - o Modelo Liberal de Direito e Estado PDFDocumento9 páginasJose Eduardo Faria - o Modelo Liberal de Direito e Estado PDFLiliane Pommer100% (1)
- Slides-A Rebeldia Tornou-Se de DireitaDocumento21 páginasSlides-A Rebeldia Tornou-Se de DireitaANA CLAUDIA DE SOUSA DANTASAinda não há avaliações
- Gestao de Processos AvaliativosDocumento235 páginasGestao de Processos AvaliativosLuzia liquer100% (1)
- Dissertação de Mestrado PDFDocumento137 páginasDissertação de Mestrado PDFGustavo de RezendeAinda não há avaliações
- Simulado Psu 2009 1Documento27 páginasSimulado Psu 2009 1Glauco BastosAinda não há avaliações
- Dissertaçao - Completa Ceará Seculo XixDocumento225 páginasDissertaçao - Completa Ceará Seculo XixGlecy Anne CastroAinda não há avaliações
- Resumo o Fim DyDocumento3 páginasResumo o Fim Dyigor.rodriguesAinda não há avaliações
- Nóvoa - Livro - Evidentemente PDFDocumento100 páginasNóvoa - Livro - Evidentemente PDFTuanyAinda não há avaliações
- Posição Ideológica Dos Alunos Da USPDocumento12 páginasPosição Ideológica Dos Alunos Da USPEd O EdgarAinda não há avaliações
- História Ef Rco+Aulas 1ºtrimestre 2023Documento21 páginasHistória Ef Rco+Aulas 1ºtrimestre 2023eltoncdzAinda não há avaliações
- Referencial TIATDocumento63 páginasReferencial TIATmediadoratagAinda não há avaliações
- Segundo ReinadoDocumento13 páginasSegundo Reinadofelipe.costaAinda não há avaliações
- Resenha - HALL, Stuart. A Questão MulticulturalDocumento9 páginasResenha - HALL, Stuart. A Questão MulticulturalKarine Conceicao de OliveiraAinda não há avaliações