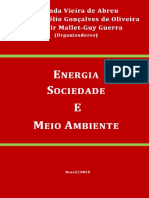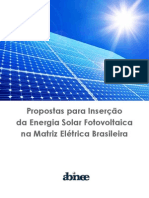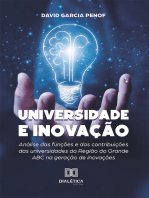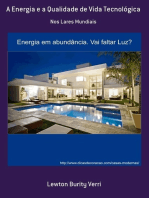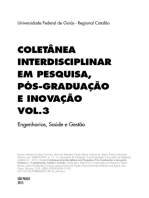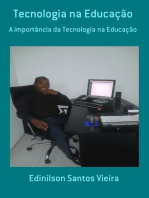Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Energias Renovaveis
Energias Renovaveis
Enviado por
Andre BarbosaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Energias Renovaveis
Energias Renovaveis
Enviado por
Andre BarbosaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Biblioteca Digital da Cmara dos Deputados
Centro de Documentao e Informao
Coordenao de Biblioteca
http://bd.camara.gov.br
"Dissemina os documentos digitais de interesse da atividade legislativa e da sociedade.
Energias Renovveis
riqueza sustentvel ao alcance
da sociedade
Relator: Deputado Pedro Uczai
Equipe Tcnica - Consultores Legislativos:
Wagner Marques Tavares (Coordenador)
Alberto Pinheiro de Queiroz Filho
2012
10
Cadernos de Altos Estudos 10
C
a
d
e
r
n
o
s
d
e
A
l
t
o
s
E
s
t
u
d
o
s
Conhea outros ttulos da srie Cadernos de Altos Estudos
na pgina do Conselho: www.camara.gov.br/caeat
ou na pgina da Edies Cmara, no portal da Cmara dos Deputados:
www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes
A Cmara Pensando o Brasil
Riqueza Sustentvel
ao Alcance da Sociedade
Energias Renovveis
E
n
e
r
g
i
a
s
R
e
n
o
v
v
e
i
s
:
R
i
q
u
e
z
a
S
u
s
t
e
n
t
v
e
l
a
o
A
l
c
a
n
c
e
d
a
S
o
c
i
e
d
a
d
e
capa_energias-renovaveis-riqueza-sust-alcance-sociedade_10.indd 1 25/06/2012 11:49:16
|
|
ENERGIAS RENOVVEIS
RIQUEZA SUSTENTVEL AO ALCANCE DA SOCIEDADE
Mesa Diretora da Cmara dos Deputados
54 Legislatura
2 Sesso Legislativa Ordinria
2011-2015
Presidncia
Presidente: Marco Maia
1
a
Vice-Presidente: Rose de Freitas
2 Vice-Presidente: Eduardo da Fonte
Secretrios
1 Secretrio: Eduardo Gomes
2 Secretrio: Jorge Tadeu Mudalen
3 Secretrio: Inocncio Oliveira
4 Secretrio: Jlio Delgado
Suplentes de Secretrios
1 Suplente: Geraldo Resende
2 Suplente: Manato
3 Suplente: Carlos Eduardo Cadoca
4 Suplente: Srgio Moraes
Diretor-Geral
Rogrio Ventura Teixeira
Secretrio-Geral da Mesa
Srgio Sampaio Contreiras de Almeida
|
|
Cmara do Deputados
Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica
ENERGIAS RENOVVEIS
RIQUEZA SUSTENTVEL AO ALCANCE DA SOCIEDADE
Relator
Pedro Uczai
Deputado Federal
Equipe Tcnica
Wagner Marques Tavares (Coordenador)
Alberto Pinheiro de Queiroz Filho
Consultores Legislativos
Centro de Documentao e Informao
Edies Cmara
Braslia / 2012
Conselho de Altos Estudos e
Avaliao Tecnolgica
Presidente
Deputado Inocncio Oliveira
Titulares
Ariosto Holanda
Arnaldo Jardim
Bonifcio de Andrada
Flix Mendona Jnior
Jaime Martins
Jorge Tadeu Mudalen
Mauro Benevides
Newton Lima
Pedro Uczai
Teresa Surita
Waldir Maranho
Suplentes
Csar Colnago
Fernando Marroni
Jesus Rodrigues
Jos Humberto
Jos Linhares
Luciana Santos
Miro Teixeira
Pastor Marco Feliciano
Paulo Foletto
Pedro Chaves
Secretrio Executivo
Luiz Henrique Cascelli de Azevedo
Coordenao de Articulao Institucional
Paulo Motta
Coordenao da Secretaria
Mrcio Coutinho Vargas
Conselho de Altos Estudos e
Avaliao Tecnolgica CAEAT
Gabinete 566A Anexo III
Cmara dos Deputados
Praa dos Trs Poderes
CEP 70160-900
Braslia DF
Tel.: (61) 3215-8626
E-mail: caeat@camara.gov.br
www.camara.gov.br/caeat
CMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA LEGISLATIVA
Diretor: Afrsio Vieira Lima Filho
CONSULTORIA LEGISLATIVA
Diretor: Luiz Henrique Cascelli de Azevedo
CENTRO DE DOCUMENTAO E
INFORMAO
Diretor: Adolfo C. A. R. Furtado
COORDENAO EDIES CMARA
Diretora: Maria Clara Bicudo Cesar
Apoio do Departamento de
Taquigrafia, Reviso e Redao
Diretora: Cssia Regina Ossipe Martins Botelho
Criao do projeto grfico
Ely Borges
Diagramao e adaptao
do projeto grfico
Mariana Rausch Chuquer e Patrcia Weiss
Capa
Ana Marusia Pinheiro Lima Meneguin e
Alan Santos Alvetti
Reviso
Secretaria do CAEAT
Cmara dos Deputados
Centro de Documentao e Informao Cedi
Coordenao Edies Cmara Coedi
Anexo II Praa dos Trs Poderes
Braslia (DF) CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5809; fax: (61) 3216-5810
editora@camara.gov.br
SRIE
Cadernos de altos estudos
n. 10
Dados Internacionais de Catalogao-na-publicao (CIP)
Coordenao de Biblioteca. Seo de Catalogao.
Energias renovveis : riqueza sustentvel ao alcance da
sociedade / relator: Pedro Uczai ; equipe tcnica: Wagner
Marques Tavares (coord.), Alberto Pinheiro de Queiroz Filho
[recurso eletrnico]. Braslia : Cmara dos Deputados,
Edies Cmara, 2012.
273 p. (Srie cadernos de altos estudos ; n. 10)
Acima do ttulo : Cmara dos Deputados, Conselho de
Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica.
ISBN 978-85-736-5974-0
1. Fonte renovvel de energia, Brasil. 2. Desenvolvimento
sustentvel, Brasil. 3. Poltica energtica, Brasil. I. Uczai, Pe-
dro. II. Tavares, Wagner Marques. III. Queiroz Filho, Alberto
Pinheiro de. IV. Srie.
CDU 620.91(81)
ISBN 978-85-736-5973-3 (brochura)
ISBN 978-85-736-5974-0 (e-book)
5
S
u
m
r
i
o
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
SUMRIO
APRESENTAO _________________________________________________9
Deputado Marco Maia
PREFCIO ______________________________________________________11
Deputado Inocncio Oliveira
Nota Introdutria _______________________________________________15
Deputado Pedro Uczai
RELATRIO _____________________________________________________19
Fontes Renovveis de Energia no Brasil e no Mundo __________________21
1. Introduo: energia no mundo _________________________________21
2. Por que renovveis ___________________________________________22
2.1 Segurana energtica __________________________________23
2.2 Desenvolvimento sustentvel ___________________________24
2.3 Mudanas climticas __________________________________25
2.3.1 Aumento da concentrao de gases de efeito estufa ____26
2.3.2 Evidncias do aquecimento global __________________27
2.3.3 Consequncias do aquecimento ____________________29
2.3.4 Importncia da mitigao _________________________32
2.3.5 Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre a
mudana do clima _______________________________33
2.3.6 Energias renovveis e mudanas climticas ___________34
3. Polticas para fomentar as fontes renovveis de energia _____________35
3.1 Barreiras s fontes renovveis de energia __________________35
3.1.1 Falhas de mercado e barreiras econmicas ___________35
3.1.2 Barreiras de informao ___________________________36
3.1.3 Barreiras socioculturais ___________________________36
3.1.4 Barreiras institucionais e polticas ___________________36
3.2 Polticas de incentivo s fontes renovveis _________________37
6
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
S
u
m
r
i
o
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
3.2.1 Pesquisa e desenvolvimento _______________________38
3.2.2 Polticas para implantao de fontes renovveis _______39
3.2.2.1 Incentivos scais ____________________________40
3.2.2.1.1 Subsdios diretos ______________________40
3.2.2.1.2 Incentivos tributrios ___________________41
3.2.2.2 Mecanismos estatais de nanciamento __________42
3.2.2.3 Polticas regulatrias _________________________43
4. Principais fontes de energia renovvel no mundo __________________46
4.1 Energia solar _________________________________________46
4.1.1 Energia solar fotovoltaica __________________________46
4.1.1.1 Tecnologia _________________________________46
4.1.1.2 Status _____________________________________48
4.1.1.3 Preos _____________________________________51
4.1.2 Energia termossolar ______________________________53
4.1.2.1 Tecnologia _________________________________53
4.1.2.2 Status _____________________________________54
4.1.3 Energia solar termoeltrica ________________________57
4.1.3.1 Tecnologias_________________________________57
4.1.3.2 Status _____________________________________59
4.1.3.3 Custos _____________________________________60
4.2 Biomassa para a produo de eletricidade e co-gerao ______61
4.2.1 Matrias-primas _________________________________61
4.2.2 Tecnologias _____________________________________61
4.2.2.1 Queima conjunta ____________________________62
4.2.2.2 Queima em usinas dedicadas biomassa ________62
4.2.2.3 Gaseicao ________________________________63
4.2.2.4 Digesto anaerbica _________________________64
4.2.3 Status _________________________________________64
4.3 Hidroeletricidade _____________________________________65
4.3.1 Tecnologia ______________________________________65
4.3.2 Status _________________________________________67
4.3.3 Custos _________________________________________69
4.4 Energia elica ________________________________________70
4.4.1 Tecnologia ______________________________________70
7
S
u
m
r
i
o
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4.4.2 Status _________________________________________71
4.4.3 Custos _________________________________________73
4.5 Energia geotrmica ___________________________________74
4.6 Energia dos oceanos ___________________________________75
5. Principais pases e suas polticas ________________________________76
5.1 Introduo___________________________________________76
5.2 Alemanha ___________________________________________77
5.3 Espanha _____________________________________________85
5.4 Estados Unidos _______________________________________90
5.5 China _______________________________________________92
6. Energias renovveis no Brasil ___________________________________94
6.1 Matriz energtica nacional ______________________________94
6.2 Leis sobre fontes renovveis no Brasil (setor eltrico) _________97
6.3 Energia eltrica ______________________________________104
6.3.1 Energia hidrulica _______________________________105
6.3.2 Eletricidade da biomassa _________________________109
6.3.2.1 Bagao de cana-de-acar ___________________109
6.3.2.2 Lixvia ____________________________________111
6.3.2.3 Resduos de madeira ________________________111
6.3.2.4 Biogs ____________________________________112
6.3.2.5 Casca de arroz _____________________________113
6.3.2.6 Capim elefante _____________________________113
6.3.2.7 Carvo vegetal _____________________________113
6.3.2.8 leo de palmiste ___________________________113
6.3.3 Energia elica __________________________________114
6.3.4 Energia solar ___________________________________116
6.3.4.1 Potencial solar brasileiro _____________________116
6.3.4.2 Solar fotovoltaica ___________________________118
6.3.4.3 Energia termossolar _________________________122
7. Concluses nais ____________________________________________124
8. Referncias ________________________________________________131
CONTRIBUIES ESPECIAIS ______________________________________139
1. A Poltica Energtica Atual e as Fontes Renovveis de Energia ________141
Mauricio Tiomno Tolmasquim
8
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
S
u
m
r
i
o
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
2. As Perspectivas da Gerao Distribuda no Brasil __________________153
Rui Guilherme Altieri Silva e Marco Aurlio Lenzi Castro
3. Os Microaproveitamentos Hidrulicos e a Gerao Descentralizada ___173
Augusto Nelson Carvalho Viana e Fabiana Gama Viana
4. Energia Solar Fotovoltaica no Brasil: Situao Atual e Perspectivas
para Estabelecimento de Indstrias Apoiadas em Programas
de P&D e Financiamento ______________________________________193
Adriano Moehlecke e Izete Zanesco
5. O Produto Biogs: Reexes sobre sua Economia __________________213
Ccero Bley Jr.
6. Fontes de Financiamento e Diculdades para a Obteno de Recursos
para Projetos no Campo das Fontes Alternativas Renovveis de
Energia na Regio Sul do Brasil _________________________________235
Rogrio Gomes Penetra
PROPOSIES LEGISLATIVAS _____________________________________251
Requerimento ________________________________________________253
Indicao N
o
2.935, de 2012 _____________________________________254
Projeto de Lei N 3.924, de 2012 __________________________________258
9
A
p
r
e
s
e
n
t
a
o
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
APRESENTAO
A questo energtica sempre esteve entre as preocupaes do
Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica da Cmara dos
Deputados. O primeiro livro desta coleo tratou, com grande xi-
to, da questo do biodiesel, num momento em que o tema ainda
era visto como aposta incerta de cientistas visionrios.
Ao enfocar o tema das energias renovveis, os Cadernos de Altos
Estudos, mais uma vez, procuram iluminar uma questo que est
entre as mais importantes para o futuro do Pas.
Ainda que a abundncia de grandes rios conduza a uma opo
preferencial pela energia hidreltrica, no h dvida, entre os estu-
diosos do assunto, de que preciso diversicar nossa matriz ener-
gtica, ampliando as opes que tenham pouco impacto sobre o
meio ambiente.
O estmulo para novos investimentos em fontes alternativas de
energia passa por oferta de recursos e de crdito e tambm pela
denio de um marco legal compatvel com as demandas de um
novo paradigma tecnolgico capaz de sustentar a ampliao do
modelo nacional de produo de energia.
A complexa articulao desses problemas foi exposta de maneira
clara e abrangente pelos textos que compem mais esta contri-
buio do Conselho de Altos Estudos para o debate dos temas em
destaque na agenda nacional.
10
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
p
r
e
s
e
n
t
a
o
O resultado que agora chega s mos do pblico ser muito til
para estimular a mudana de mentalidades, imprescindvel para
que as concluses tericas se transformem em decises polticas.
Deputado Marco Maia
Presidente da Cmara dos Deputados
11
P
r
e
f
c
i
o
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
PREFCIO
Se existem setores em que o Brasil sente o peso de estruturas que
devem ser modernizadas, a produo de energia um deles. Ain-
da que o modelo vigente, tradicionalmente apoiado em grandes
plantas geradoras, tenha cumprido seu papel, no h mais como
fugir das evidncias que apontam para a necessidade de criarmos
formas alternativas de produo de energia renovvel.
Se, por um lado, temos a sorte de dispor de imenso potencial hi-
dreltrico, por outro lado, vemos que o modelo atual precisa ser
corrigido e adaptado para as necessidades das futuras geraes.
Temos procurado evoluir no plano educacional, na produtividade da
indstria e da agricultura, na distribuio de renda e na estabilidade
monetria. Chegou a hora de enfrentarmos a questo da energia,
sem medo de testar a validade de velhos preconceitos, transforma-
dos em tabus por hbitos arraigados e interesses inconfessveis.
A incorporao, nossa matriz energtica, de estruturas descen-
tralizadas de gerao de energia um avano necessrio e irrefre-
vel. Quanto mais cedo dermos esse passo, menores os custos para
a sociedade e maiores os retornos para o projeto de desenvolvi-
mento sustentvel que todos desejam.
No faz sentido impedir que um pequeno produtor rural produza
energia a partir de biomassa e seja remunerado por esse produto.
A verdade que ele deve ser incentivado, de todas as formas, a
completar esse projeto.
12
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
r
e
f
c
i
o
As diculdades que enfrentamos para realizar uma mudana de
paradigma so de natureza tcnica e legal, mas, acima de tudo,
cultural. Estamos acostumados a pensar em grandes projetos
para hidreltricas ou termeltricas e achamos que eles bastam
para as necessidades brasileiras.
As pessoas que trabalham com a estrutura atual resistem a mu-
danas, porque temem o terreno desconhecido no qual a quanti-
cao de variveis no est denida e os resultados futuros no
foram totalmente formatados.
Mas preciso avanar. Se quisermos manter o atual perl de nossa
matriz energtica cerca de 45% de energia renovvel, contra 13%
na mdia mundial -, devemos atentar para os limites da produo
hidreltrica, que se tornaro mais evidentes no longo prazo.
A opo pela energia renovvel decorre, entre outras coisas, dos efei-
tos nocivos das mudanas climticas, da necessidade de segurana
energtica e da preferncia pelo desenvolvimento sustentvel.
No podemos ignorar a questo ecolgica urgente, cada vez mais
prioritria na agenda internacional. Nem tampouco podemos dei-
xar de criar fontes alternativas para diversicar e complementar a
atual matriz energtica.
Alm disso, a descentralizao da produo de energia tem um
efeito altamente positivo sobre a economia, incentivando novas
cadeias produtivas, com gerao de emprego e renda em lugares
onde pequenos ganhos produzem grande resultados. A criao e
desenvolvimento de tecnologias voltadas para as necessidades lo-
cais uma questo estratgica para o Pas.
O Brasil possui as maiores reservas do mundo de silcio, matria-
prima dos painis fotovoltaicos. E, no entanto, no possui capa-
cidade instalada para processar o minrio, nem para produzir os
equipamentos para captao de energia solar.
Esse exemplo conrma que, muitas vezes, o pequeno projeto de
gerao de energia rentvel ao longo do tempo, mas o produtor
13
P
r
e
f
c
i
o
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
no dispe de recursos para o investimento inicial, o que, por sua,
vez, desestimula a produo de equipamentos.
Para romper esse crculo vicioso, precisamos ter uma ao efetiva
em pelo menos trs linhas de atuao: incentivos scais e tribu-
trios; linhas de nanciamento, para quem produz e para quem
compra a energia; e novo marco regulatrio.
O incentivo criao de uma rede de produo de energias alter-
nativas renovveis uma necessidade indiscutvel para o desen-
volvimento sustentvel. Quanto antes colocarmos em prtica os
conceitos que norteiam essa concluso inegvel, mais rapidamen-
te nos moveremos na direo de uma estrutura gil e moderna,
compatvel com as expectativas da sociedade brasileira.
Deputado Inocncio Oliveira
Presidente do Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica
15
N
o
t
a
i
n
t
r
o
d
u
t
r
i
a
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
NOTA INTRODUTRIA
A todo o momento nos chegam notcias, muitas vezes dramticas,
que do conta do agravamento das alteraes climticas causa-
das pelos desequilbrios ecolgicos provocados pelas atividades
humanas. Essa realidade exige uma mobilizao internacional que
promova as mudanas necessrias para que o desenvolvimento da
humanidade ocorra de maneira mais harmoniosa em relao ao
meio ambiente.
Torna-se, portanto, inevitvel a implantao de um novo paradig-
ma, que implique a utilizao de tecnologias modernas e limpas,
antes pouco exploradas. Surgem, assim, novos mercados e, asso-
ciadas a estes, novas cadeias produtivas.
Acreditamos que esta uma oportunidade mpar para que o Brasil
aproveite esse raro processo de mudanas para adotar solues
que promovam a unio do desenvolvimento tecnolgico e econ-
mico com a mxima incluso social.
Nesse contexto, este estudo tem o objetivo de propor aprimoramen-
tos na legislao brasileira, com a nalidade de superar barreiras e
criar mecanismos de incentivo que contribuam para a utilizao das
fontes renovveis de energia de maneira diversicada e sustentvel,
valorizando as potencialidades regionais, o desenvolvimento tecno-
lgico e a gerao de empregos. Para tanto, procuramos examinar
as tecnologias disponveis, as polticas adotadas internacionalmente
e os resultados obtidos, bem como a situao dessas fontes no Brasil
e as normas jurdicas que disciplinam seu aproveitamento.
16
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
N
o
t
a
i
n
t
r
o
d
u
t
r
i
a
Para subsidiar os trabalhos, o Conselho de Altos Estudos e Ava-
liao Tecnolgica realizou palestras com especialistas do setor
energtico e promoveu um seminrio internacional. Alm disso,
apoiou o Frum sobre Energias Renovveis e Consumo Respons-
vel (IV Sustentar 2011), em Chapec, Santa Catarina.
A primeira dessas atividades ocorreu no ms de maio de 2011,
quando os pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ), Nivalde de Castro e Guilherme Dantas, realizaram apre-
sentao denominada Caractersticas da Expanso Hidroeltrica
e a Necessidade de Implementao de Gerao Complementar.
Nessa oportunidade, os especialistas mostraram a importncia de
se desenvolver o potencial das fontes renovveis no Brasil, com o
propsito de complementar a gerao das hidreltricas, uma vez
que as novas usinas, em geral, so a o dgua, no possuindo re-
servatrios que possam compensar a variao sazonal das aun-
cias hdricas.
Entre 29 e 31 de agosto de 2011, a 4 edio do Frum realizado
em Chapec colocou o debate sobre a sustentabilidade do plane-
ta na agenda do parlamento catarinense. No decorrer do evento,
foram apresentadas palestras referentes a questes regulatrias e
legais concernentes s fontes renovveis de energia, bem como
experincias de sua utilizao na China, ndia e Portugal.
Em 14 de setembro de 2011, o Conselho de Altos Estudos e Avalia-
o Tecnolgica promoveu, no Auditrio Nereu Ramos da Cmara
dos Deputados, o Seminrio Internacional Fontes Renovveis de
Energia, que contou com a participao das maiores autoridades
do planejamento energtico brasileiro, alm de proeminentes tc-
nicos, nacionais e internacionais, que militam no campo das ener-
gias renovveis. Foram debatidos os temas:
poltica energtica e as fontes renovveis de energia;
desaos para a insero da gerao descentralizada no siste-
ma eltrico brasileiro;
17
N
o
t
a
i
n
t
r
o
d
u
t
r
i
a
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
pesquisa e desenvolvimento em energias renovveis no Brasil;
nanciamento das fontes alternativas no Brasil.
As palestras e os debates realizados no encontro foram bastante ri-
cos e reveladores. O secretrio de Planejamento e Desenvolvimen-
to Energtico do Ministrio de Minas e Energia, Sr. Altino Ventura
Filho, por exemplo, noticiou que o governo federal est prestes a
denir os caminhos do aproveitamento da energia solar no Brasil.
O presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa Energtica (EPE),
Dr. Maurcio Tolmasquim, por sua vez, informou que os dois mi-
lhes de casas que sero construdas no Minha Casa, Minha Vida,
todas tero coletores solares. Essa autoridade avaliou, ainda, que
o aproveitamento da energia fotovoltaica nas residncias brasilei-
ras j competitivo, pois seus custos so equivalentes s tarifas
de energia eltrica, quando somados os impostos incidentes. J o
Dr. Adriano Moehlecke, professor do Ncleo de Tecnologia e Ener-
gia Solar da PUC do Rio Grande do Sul, a partir de sua experincia
na construo de laboratrio e planta piloto para a fabricao de
mdulos fotovoltaicos, e da elaborao de um plano de negcios
para essa atividade, armou que vivel produzir clulas solares
no Brasil.
As exposies apresentaram grande convergncia com os objeti-
vos do presente estudo e originaram artigos tcnicos, da mais alta
qualidade, includos como anexos a esta publicao.
Por m, assinalamos que o Conselho de Altos Estudos recebeu, no
ms de maro ltimo, uma comitiva portuguesa, composta por
tcnicos e autoridades locais. Eles relataram a experincia de su-
cesso do municpio de Moura, no campo da energia solar fotovol-
taica, que alia desenvolvimento tecnolgico, econmico e social
com a produo de energia limpa.
As atividades mencionadas e o estudo tcnico realizado, que
apresentado adiante, levaram elaborao de um projeto de lei
que busca fomentar as fontes renovveis e de uma indicao ao
Poder Executivo Federal, sugerindo, no mesmo sentido, algumas
medidas que se inserem em sua rea de competncia.
18
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
N
o
t
a
i
n
t
r
o
d
u
t
r
i
a
Com este trabalho, acreditamos poder contribuir para o desenvol-
vimento, no Brasil, de uma matriz energtica cada vez mais sus-
tentvel e esperamos ainda ajudar a inspirar os parlamentares, os
membros do Poder Executivo das diversas esferas da Unio e os
cidados a juntos caminharmos nessa direo.
Deputado Pedro Uczai
Relator
FONTES RENOVVEIS
DE ENERGIA NO
BRASIL E NO MUNDO
21
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Fontes Renovveis de Energia no Brasil e no Mundo
1. Introduo: Energia No Mundo
A oferta de energia primria no mundo compe-se de 13% de fontes
renovveis e 87% no renovveis (IEA, 2011a).
A distribuio relativa dessas fontes apresentada na Figura 1.1. Po-
de-se verifcar o predomnio do petrleo, carvo mineral e do gs na-
tural como principais energticos utilizados no mundo.
Figura 1.1 Oferta primria de energia no mundo (2009)
Fonte: IEA, 2011a
Entre as fontes renovveis, a principal refere-se a combustveis e re-
sduos, que corresponde a cerca de 10% das fontes primrias. Nessa
categoria, cerca de 67% corresponde utilizao de lenha para
22
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
aquecimento e coco de alimentos nas residncias dos pases em de-
senvolvimento, caracterizada por baixa efcincia.
Quanto gerao de energia eltrica, a participao das fontes reno-
vveis correspondeu, em 2009, a 19,5%. A participao de cada uma
das fontes na produo de eletricidade apresentada na Figura 1.2,
que mostra o predomnio do carvo mineral e do gs natural. Entre
as fontes renovveis, destaca-se a energia hidrulica.
Figura 2.2 Gerao de energia eltrica no mundo (2009)
Fonte: IEA, 2011a
Esse quadro de predomnio dos combustveis fsseis na matriz ener-
gtica mundial fez surgir duas preocupaes principais, especialmen-
te entre os pases mais desenvolvidos. So elas as questes relaciona-
das segurana energtica e mitigao das mudanas climticas,
que sero abordadas a seguir.
2. Por que renovveis
Nesse contexto de preocupaes com a segurana energtica e mu-
danas climticas, a implantao de fontes renovveis essencial. Pela
menor concentrao dos recursos naturais utilizados como fontes re-
novveis, elas so capazes de prover maior segurana energtica aos
pases que as utilizam, e seu aproveitamento em maior escala um
dos principais instrumentos de combate s mudanas climticas de-
correntes da elevao dos gases de efeito estufa na atmosfera.
23
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Mas alm de prover esses benefcios, as fontes de energia renovveis,
se implantadas apropriadamente, podem tambm contribuir para o
desenvolvimento social e econmico, para a universalizao do aces-
so energia e para a reduo de efeitos nocivos ao meio ambiente e
sade (IPCC, 2011).
2.1 Segurana energtica
No que se refere segurana energtica, preciso considerar que exis-
te uma certa dissonncia entre a localizao das maiores reservas de
fontes fsseis e os maiores centros de consumo, especialmente quanto
ao petrleo e gs natural. Assim, observa-se que as principais econo-
mias mundiais so fortemente dependentes da importao de ener-
gia, como mostrado na Tabela 2.1, o que torna suas economias mais
vulnerveis a choques de preos e de oferta. A produo de energia
renovvel a partir de fontes locais contribui para minimizar a exposi-
o causada por essa dependncia externa de energia.
A utilizao de fontes renovveis pelos pases pobres e em desenvolvi-
mento tambm lhes proporciona importantes benefcios, como pro-
teo contra choques de oferta ou o impacto de eventuais elevaes
de preos de energticos importados em suas balanas de pagamento.
Qunia e Senegal, por exemplo, comprometem mais da metade de
seus ganhos com exportaes na importao de energia, enquanto a
ndia compromete 45% (IPCC, 2011).
Tabela 2.1 Dependncia externa de energia
Pas Produo de
Energia (MTep
1
)
Importao de
Energia (MTep)
Participao das
Importaes
Itlia 27 141 84%
Japo 94 384 80%
Espanha 30 111 78%
Alemanha 127 203 62%
Frana 130 134 51%
Estados Unidos 1.686 559 25%
Reino Unido 159 55 26%
1
MTep: milhes de toneladas equivalentes de petrleo.
Fonte: IEA, 2011a
24
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
2.2 Desenvolvimento sustentvel
O termo Desenvolvimento Sustentvel foi popularizado por meio
do relatrio Nosso Futuro Comum, publicado, em 1987, pela Co-
misso Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, da Orga-
nizao das Naes Unidas (ONU).
Esse documento, tambm conhecido como Relatrio Brundtland,
estabeleceu a defnio clssica para o desenvolvimento sustentvel
como sendo o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presen-
tes, sem comprometer a capacidade das geraes futuras de suprir
suas prprias necessidades.
A aceitao do relatrio pela Assembleia Geral da ONU deu ao termo
relevncia poltica e, em 1992, na Conferncia das Naes Unidas sobre
o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a Rio 92, os chefes de Estado
presentes defniram os princpios do desenvolvimento sustentvel.
O desenvolvimento sustentvel possui trs componentes principais,
que so o desenvolvimento econmico, a equidade social e a proteo
ambiental (ONU, 2010).
A partir desses conceitos, verifca-se que, para a obteno do desen-
volvimento sustentvel, torna-se essencial a utilizao de fontes re-
novveis de energia, uma vez que as fontes fsseis no possuem os
requisitos necessrios para se enquadrarem nessa defnio.
As fontes renovveis podem contribuir para o desenvolvimento social
e econmico, acesso energia, segurana energtica, mitigao das
mudanas climticas e reduo de problemas ambientais e de sade
causados pela poluio do ar, alcanando, assim, todas as dimenses
do desenvolvimento sustentvel.
Os ndices de desenvolvimento humano esto diretamente correla-
cionados ao consumo per capita de energia. O acesso a fontes energ-
ticas de qualidade e confveis essencial para a reduo da pobreza e
elevao dos nveis de bem-estar (ONU, 2011a).
A utilizao de fontes renovveis para a universalizao do acesso
energia apresenta diversos benefcios econmicos e sociais. O custo da
25
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
energia assim obtida pode ser inferior energia originada dos combus-
tveis fsseis. reas rurais mais distantes podem ser energeticamente
supridas de forma mais competitiva utilizando-se as fontes limpas. Di-
visas podem ser economizadas com a reduo da importao de com-
bustveis fsseis e redirecionadas para outros fns, como a aquisio de
bens de capital de alta tecnologia.
Alm disso, as energias renovveis so mais efetivas na gerao de
empregos, em comparao com a produzida a partir de fontes fsseis,
podendo criar quase quatro vezes mais empregos (Pollin et al., 2008).
Muitos pases, como China, Coreia, Japo e Estados Unidos, tm des-
tacado em seus programas de desenvolvimento verde a implantao
das energias renovveis como importante medida para a criao de
empregos (IPCC, 2011).
A utilizao de energias renovveis pode tambm contribuir para a re-
duo da poluio de recursos hdricos, como demonstra a experincia
que Itaipu realiza no Estado do Paran, em conjunto com a Compa-
nhia Paranaense de Energia Eltrica (COPEL), como mostra o artigo
O Produto Biogs: refexes sobre sua economia, anexo presente pu-
blicao. A produo de energia renovvel pelos produtores rurais traz
ainda a vantagem de gerar renda e emprego com melhor distribuio
de renda e fxao do homem no campo, evitando o agravamento dos
problemas decorrentes do inchao das grandes metrpoles.
de se destacar que a ONU escolheu 2012 como o Ano Internacional
da Energia Sustentvel para Todos. Esse tema dever ser uma das im-
portantes questes a serem debatidas no mbito da Conferncia das
Naes Unidas sobre Desenvolvimento Sustentvel, a Rio +20, a se
realizar em junho deste ano no Brasil.
2.3 Mudanas climticas
Em 1988, o Programa das Naes Unidas para o Meio Ambiente
( PNUMA) e a Organizao Meteorolgica Mundial (OMM), rgos
vinculados ONU, criaram o Painel Intergovernamental sobre Mudan-
as Climticas (IPCC), com o propsito de fornecer aos governos do
mundo uma viso cientfca sobre o comportamento do clima global.
26
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
O Painel passou, ento, a elaborar relatrios peridicos de avaliao so-
bre o clima. O primeiro deles foi publicado em 1990, seguido de outros
nos anos de 1995, 2001 e 2007. As principais concluses desses traba-
lhos sero apresentadas a seguir, uma vez que a ampliao do aprovei-
tamento das fontes renovveis de energia um dos principais instru-
mentos de mitigao dessas alteraes do clima, como se ver adiante.
2.3.1 Aumento da concentrao de gases de efeito estufa
De acordo com os estudos publicados pelo IPCC, as emisses resul-
tantes das atividades humanas esto aumentando substancialmente a
concentrao atmosfrica de gases associados ao efeito estufa (Figura
2.3). Esses gases so dixido de carbono, metano, clorofuorcarbonos
(CFCs) e o xido nitroso. O aumento de concentrao, de acordo com
o IPCC, soma-se ao efeito estufa natural, resultando em um aqueci-
mento mdio adicional da superfcie da Terra (IPCC, 1990).
As emisses anuais de gases de efeito estufa aumentaram em 70% en-
tre 1970 e 2004. A concentrao atmosfrica de xido nitroso, meta-
no e gs carbnico tem-se elevado, desde 1750, em decorrncia das
emisses antropognicas e hoje superam, em muito, os valores pr-
industriais. As concentraes de gs carbnico e metano superaram,
com ampla margem, a faixa de variao natural dos ltimos 650 000
anos. O aumento da concentrao de gs carbnico deve-se prin-
cipalmente ao uso de combustveis fsseis, sendo que as mudanas
no uso da terra tambm causaram uma contribuio signifcativa.
muito provvel que a elevao dos nveis de metano observada seja,
predominantemente, devida agricultura e aos combustveis fsseis.
J o aumento da quantidade de xido nitroso causado, principal-
mente, pela agricultura (IPCC, 2007).
27
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 2.3 Variao da Concentrao de Gases de Efeito Estufa
Fonte: IPCC, 2007
2.3.2 Evidncias do aquecimento global
O aquecimento do sistema climtico j se tornou inequvoco, eviden-
ciado por observaes do aumento das temperaturas mdias do ar e
dos oceanos, do derretimento generalizado de neve e gelo e da eleva-
o do nvel mdio dos oceanos (IPCC, 2007).
De acordo com o ltimo relatrio de avaliao do IPCC, de 2007,
onze dos doze anos entre 1995 e 2006 classifcaram-se entre os doze
anos mais quentes entre todos os registros da temperatura superfcial
da Terra desde 1850.
Conforme esse mesmo documento, observaes feitas, desde 1961,
mostram que a temperatura mdia global dos oceanos aumentou
at profundidades de, pelo menos, 3 000 metros e que os oceanos
tm absorvido mais de oitenta por cento do calor adicionado ao
sistema climtico global.
De maneira consistente com o aquecimento do clima global, a eleva-
o do nvel dos oceanos alcanou uma taxa mdia de 1,8 milmetros
por ano, entre 1961 e 2003 (Figura 2.4). Informaes colhidas por sa-
tlites desde 1978, por sua vez, mostram que a extenso anual de gelo
do oceano rtico tem se reduzido em 2,7% por dcada. As geleiras
28
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
em montanhas e a cobertura mdia por neve tambm tm diminudo
em ambos os hemisfrios.
Figura 2.4 Mudanas de Temperatura, nvel do mar e cobertura
de neve no hemisfrio norte
Fonte: IPCC, 2007
Estudos desenvolvidos por meio de modelos climticos indicaram
que as temperaturas globais, quando as simulaes computadori-
zadas no utilizavam os fatores decorrentes da atividade humana,
teriam sido inferiores s efetivamente observadas a partir de 1950
(Figura 2.5).
Esses estudos apontam, assim, para uma relao de causa e efeito
entre as emisses de gases de efeito estufa pelo homem e o aqueci-
mento global.
29
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 2.5 Simulao dos fatores antrpicos no aquecimento do
clima global
Fonte: IPCC, 2007
projetado que o aquecimento do clima causado pelo homem e a
elevao do nvel dos oceanos perdurem por sculos, devido s
escalas de tempo associadas aos processos climticos, mesmo que as
concentraes de gases de efeito estufa sejam estabilizadas.
2.3.3 Consequncias do aquecimento
As concluses do IPCC, 2007, demonstram diversas consequncias
decorrentes do aquecimento global, e so mencionadas a seguir.
Evidncias observadas em todos os continentes e na maior parte dos
oceanos mostram que muitos sistemas naturais esto sendo afetados
por mudanas climticas regionais, particularmente por elevaes de
temperatura. So tambm perceptveis a ocorrncia de temperaturas
extremas e mudanas nos padres de vento.
Com as medidas de mitigao de mudanas climticas atuais, de se
esperar que as emisses globais de gases de efeito estufa continuaro
a crescer nas prximas dcadas. Esse padro de emisso, ou um su-
perior a ele, devero causar mais aquecimento e mudanas climticas
neste sculo que o observado durante o sculo XX.
30
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
bastante provvel que eventos extremos, como maiores tempera-
turas mximas, ondas de calor e grandes precipitaes, tornar-se-o
mais frequentes.
De acordo com uma gama de modelos climticos, esperado que os
ciclones tropicais futuros tufes e furaces , associados ao aumen-
to de temperatura da superfcie tropical dos oceanos, tornar-se-o
mais intensos, com ventos mais fortes e maiores precipitaes.
A capacidade de muitos ecossistemas de se adaptarem s mudanas
climticas provavelmente ser excedida neste sculo, em razo de
uma combinao indita de alteraes climticas associadas a distr-
bios como inundaes, secas, incndios forestais, insetos e acidif-
cao dos oceanos e outros vetores de mudanas como mudanas
no uso da terra, poluio, fragmentao de sistemas naturais e sobre-
explorao de recursos.
Figura 2.6 Furaco Catarina (2004)
Fonte: Nasa
Para cenrios de elevao de temperatura acima de 1,5C, at o fnal
do sculo, esperado grande nmero de extino de espcies, perda
de biodiversidade e consequncias adversas no abastecimento de ali-
mentos e de gua.
31
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
As reas costeiras, geralmente as mais densamente povoadas, estaro
expostas a riscos crescentes, como eroso e inundaes devidas ele-
vao do nvel do mar e a eventos climticos extremos.
Estima-se que as condies de sade de milhes de pessoas sero pre-
judicadas por doenas relacionadas a eventos extremos, como secas,
inundaes e aumento de poluio do ar.
esperado que as mudanas climticas exacerbem as presses sobre
os recursos hdricos. As mudanas na temperatura e nos padres de
precipitao, ao alterarem os regimes hdricos, devero levar ao au-
mento das vazes em algumas regies e reduo em outras.
H tambm confana de que muitas reas semiridas, inclusive a re-
gio Nordeste do Brasil, tero a disponibilidade de recursos reduzida
devido mudana do clima global.
O incremento da frequncia e severidade das inundaes e secas tem
o potencial de prejudicar o desenvolvimento sustentvel. As tempera-
turas mais elevadas devero afetar as propriedades fsicas, qumicas e
biolgicas dos rios e lagos de gua doce, alterando seus ecossistemas e
prejudicando a qualidade da gua. Nas regies costeiras, as restries
hdricas devero ser agravadas com o aumento da salinizao de fon-
tes de gua subterrneas.
Na Amrica Latina esperado que a elevao de temperatura e a di-
minuio da gua no solo levem a gradual substituio de forestas
tropicais por savanas no leste da Amaznia. reas de vegetao semi-
rida tendero a apresentar cada vez mais vegetao caracterstica de
locais ridos. Existe o risco de perda de biodiversidade pela extino
de espcies em muitas reas tropicais. Alm disso, esperado que mu-
danas nos padres de precipitao e o desaparecimento de glaciares
afetem signifcativamente a disponibilidade de gua para consumo
humano, agricultura e gerao de energia.
Existe ainda a preocupao adicional de que o aquecimento provoca-
do pelo homem produza danos que sejam abruptos ou irreversveis,
dependendo da velocidade e magnitude da mudana do clima global.
A perda parcial de camadas de gelo polar somada expanso trmica
32
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
dos oceanos em escalas de tempo maiores poderia implicar em me-
tros de elevao do nvel do mar, com inundao de reas baixas, del-
tas de rios e ilhas. Se a elevao mdia de temperatura exceder 3,5C,
as projees dos modelos sugerem a extino de signifcativo nmero
de espcies por todo o planeta.
2.3.4 Importncia da mitigao
Uma eventual deciso global de manter os nveis de emisso atuais
poder levar a mudanas climticas de grande magnitude, exceden-
do, no longo prazo, nossa capacidade de adaptao, bem como a dos
ecossistemas naturais.
Entretanto, muitos dos efeitos adversos das mudanas climticas po-
dem ser atrasados, reduzidos ou evitados por meio de medidas miti-
gatrias, que implicam na remoo de barreiras e na implantao de
polticas adequadas.
O IPCC considera como cenrio mais benfco de estabilizao do
nvel de gases de efeito estufa na atmosfera uma elevao de tempe-
ratura mdia do clima de 2 a 2,4C, com 0,4 a 1,4 metros de elevao
do nvel do mar, apenas pela expanso trmica, isto , sem incluir o
efeito de derretimento de geleiras. Para esse cenrio, o pico de emis-
so ocorreria entre os anos de 2000 e 2015.
Passando por cenrios intermedirios, o cenrio mais pessimista
aponta para uma elevao de temperatura de 4,9 a 6,1C, com um
aumento no nvel do mar, por efeito de dilatao trmica, de 1,0 a
3,7 metros.
O IPCC considera que, provavelmente, os cenrios mais favorveis
de estabilizao podem ser atingidos pela aplicao de um conjunto
de tecnologias j disponveis ou que devero ser comercializadas nas
prximas dcadas, considerando a utilizao de mecanismos de in-
centivo adequados.
Todavia, a postergao das medidas e investimentos necessrios po-
der levar os nveis de gases de efeito estufa a valores elevados, que
difcultariam a consecuo de nveis de estabilizao mais baixos e
aumentariam o risco de ocorrncia de impactos adversos mais graves.
33
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Sendo assim, essencial que as decises polticas sejam tomadas ra-
pidamente e que as polticas efetivas de mitigao sejam implantadas
nas prximas duas a trs dcadas.
De acordo com o World Energy Outlook 2011 (IEA, 2011b), o mais
importante relatrio anual da Agncia Internacional de Energia, no
podemos mais protelar qualquer ao destinada a lutar contra as al-
teraes climticas, se quisermos alcanar, a um preo razovel, o
objetivo de limitar o aumento mdio global da temperatura a 2C.
De acordo com esse documento, que analisa as perspectivas energ-
ticas no mundo, a implementao dos compromissos j assumidos
pelos governos mundiais sufciente apenas para limitar o aumento
de temperatura em 3,5C. Por outro lado, mantidas unicamente as
polticas hoje j implantadas, a expectativa de que a temperatura
mdia global se eleve em 6C no longo prazo.
2.3.5 Conveno-Quadro das Naes Unidas sobre a
mudana do clima
A publicao do primeiro relatrio de avaliao do clima pelo IPCC,
em 1990, motivou a celebrao da Conveno-Quadro das Naes
Unidas sobre a Mudana do Clima (UNFCCC), que foi aberta para
assinaturas durante a Rio 92.
A UNFCCC entrou em vigor em 1994, tendo sido ratifcada por 195
pases, sendo, portanto, quase universal. O principal objetivo da con-
veno atingir uma estabilizao das concentraes de gases de efei-
to estufa em nveis que previnam perigosas interferncias antropo-
gnicas com o sistema climtico. A conveno estabelece, ainda, que
esse nvel deve ser alcanado em prazo sufciente para permitir aos
ecossistemas adaptarem-se naturalmente mudana no clima; asse-
gurar que a produo de alimentos no ser ameaada; e possibilitar
que o desenvolvimento econmico prossiga de maneira sustentvel
(ONU, 1992).
Para promover a implementao dos objetivos da conveno, foi ado-
tado o Protocolo de Kyoto, que instituiu metas objetivas de reduo
das emisses de gases de efeito estufa.
34
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
O protocolo defniu metas compulsrias de reduo de emisses
apenas aos pases chamados desenvolvidos, seguindo os princpios
da conveno, que reconhece que essas naes so responsveis, em
grande parte, pelos nveis elevados de gases de efeito estufa na atmos-
fera, resultantes de mais de 150 anos de atividade industrial.
O Protocolo de Kyoto foi adotado em dezembro de 1997, mas, devido
a um complexo processo de ratifcao, entrou em vigor apenas em 16
de fevereiro de 2005. Em geral, as metas compreendem uma reduo
mdia de emisses, em relao s 1990, de cinco por cento, no decor-
rer do perodo de cinco anos entre 2008 e 2012 (ONU, 2011b).
O Protocolo de Kyoto instituiu tambm o Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo (MDL), que permite que pases com metas compul-
srias possam cumpri-las por intermdio de projetos de reduo de
emisses implantados em pases em desenvolvimento. Esse processo
ocorre por meio da aquisio de certifcados de reduo de emisses,
os denominados crditos de carbono.
Alm desses acordos internacionais importante mencionar a inicia-
tiva da Unio Europeia para reduo de emisses. Em dezembro de
2008, os dirigentes do bloco aprovaram um pacote de medidas que
visa reduzir em, pelo menos, 20% as emisses de gases de efeito estufa
at 2020 (em comparao com nveis de 1990), aumentar a participa-
o das energias renovveis para 20% e fazer baixar em 20% o con-
sumo total de energia (em comparao com as tendncias at ento
projetadas). Para fomentar uma maior utilizao de energias renov-
veis, fcou igualmente acordado que os biocombustveis, a eletricida-
de e o hidrognio deveriam representar 10% da energia utilizada nos
transportes (IE, 2011).
2.3.6 Energias renovveis e mudanas climticas
De acordo com Rogner et al., 2007, a maior parte das emisses antro-
pognicas de gases de efeito estufa decorre da utilizao de combus-
tveis fsseis, sendo que a contribuio do setor energtico, em 2005,
foi de 65% dessas emisses (Tolmasquim, 2011a).
35
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Portanto, a reduo das emisses com o propsito de mitigar as mu-
danas climticas passa, necessariamente, por signifcativa reduo
das emisses decorrentes da queima de combustveis fsseis.
Essa reduo pode ser obtida pela diminuio do consumo de energia,
pelo aumento da efcincia energtica e pelo crescimento da partici-
pao das fontes renovveis de energia na matriz energtica mundial.
Esta publicao tratar essencialmente do objetivo relacionado s
fontes renovveis, sem, entretanto, contemplar o uso dos biocombus-
tveis, por questo de limitao de escopo.
3. Polticas para fomentar as fontes
renovveis de energia
Para que a participao das fontes renovveis de energia cresa na
velocidade desejada para se atingir os objetivos do desenvolvimento
sustentvel, segurana energtica e combate s mudanas climticas
preciso superar diversas barreiras.
3.1 Barreiras s fontes renovveis de energia
Entre as barreiras ao desenvolvimento das fontes renovveis de ener-
gia esto as falhas de mercado e barreiras econmicas, barreiras de
informao e conscientizao, barreiras socioculturais e as barreiras
institucionais e polticas (IPCC, 2011).
3.1.1 Falhas de mercado e barreiras econmicas
No caso das energias alternativas, as falhas de mercado e barreiras
econmicas podem se apresentar em situaes como:
externalidades negativas ou positivas no precifcadas, como
emisso de poluentes e de gases de efeito estufa;
investimentos iniciais elevados, como, por exemplo, o custo
de aquisio de painis fotovoltaicos, que sero amortizados
em vinte anos ou mais;
36
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
riscos econmicos associados utilizao de novas tecnolo-
gias, ainda no maduras;
baixa demanda inicial, que impede a obteno de ganhos de
escala e mantm elevado o custo das novas tecnologias.
Devido aos custos iniciais elevados de algumas tecnologias, uma
questo crucial a obteno de apoio fnanceiro pelos empreende-
dores. Todavia, as instituies fnanceiras, normalmente, preferem
disponibilizar recursos para grandes projetos energticos, tendo di-
fculdade em prover capital a maior nmero de empreendimentos de
escala mais reduzida.
3.1.2 Barreiras de informao
As barreiras de informao, por sua vez, decorrem, por exemplo, da
falta de dados referentes aos potenciais energticos solares, elicos,
geotrmicos e hidrulicos. A falta de profssionais capacitados para
promover a instalao, operao e manuteno de fontes renovveis
representa tambm importante barreira a ser superada.
3.1.3 Barreiras socioculturais
As barreiras socioculturais referem-se aceitao das novas tecnolo-
gias pelo pblico, como, por exemplo, a infuncia esttica da instala-
o de painis solares nos telhados de residncias, ou a aceitao da
modifcao da paisagem natural provocada pela instalao de turbi-
nas elicas.
3.1.4 Barreiras institucionais e polticas
Quanto s barreiras institucionais e polticas, um exemplo a resis-
tncia das indstrias tradicionais em aceitar uma perda de participa-
o no mercado de energia. As grandes empresas desse setor, tanto no
campo da energia eltrica, petrleo, gs natural, ou mesmo biocom-
bustveis, podem opor forte resistncia produo descentralizada
de energia renovvel. Essas empresas, geralmente, preferem operar
por meio de sistemas centralizados e de elevada densidade energtica.
37
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
As normas que regulamentam as atividades energticas, muitas vezes,
foram elaboradas para atender a tais sistemas centralizados e podem
apresentar restries ao aproveitamento de fontes renovveis, especial-
mente quanto produo descentralizada de energia em pequena escala.
Alm disso, os rgos de planejamento e regulao das indstrias de
energia precisam adequar sua cultura interna, anteriormente focada
nas formas tradicionais de produo e distribuio de energia, para
que passem a considerar, apropriadamente, as diversas modalidades
de fontes renovveis disponveis.
3.2 Polticas de incentivo s fontes renovveis
Para superar as barreiras mencionadas e promover o aumento da par-
ticipao das fontes renovveis torna-se imprescindvel a adoo de
polticas que estimulem mudanas no funcionamento dos sistemas
energticos tradicionais. Com esse propsito, atualmente, mais de
115 pases utilizam algum tipo de poltica para promover o desenvol-
vimento das fontes renovveis de energia (IEA, 2011c).
As polticas para promoo de pesquisa, desenvolvimento e implan-
tao de fontes renovveis, geralmente, so classifcadas em trs cate-
gorias (IPCC, 2011 e IEA, 2011c):
Incentivos fscais: correspondem aplicao de recursos pbli-
cos que no sero reembolsados, incluindo mecanismos tribu-
trios, como redues de alquotas, isenes, dedues e crdi-
tos tributrios, bem como a concesso de subsdios;
Mecanismos estatais de fnanciamento: aplicao de recursos
pblicos com expectativa de retorno fnanceiro, incluindo a
concesso de fnanciamentos, garantias e participao societ-
ria em empreendimentos;
Polticas regulatrias: estabelecimento de regras que devem ser
obedecidas pelos agentes regulados.
38
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
3.2.1 Pesquisa e desenvolvimento
Para promoo de pesquisa e desenvolvimento no campo das fontes
renovveis importante a participao direta do setor pblico, assim
como a adoo de mecanismos que tambm estimulem a participa-
o do setor privado.
A participao do setor pblico, realizando diretamente as ativi-
dades de pesquisa ou as financiando, essencial para suprir falhas
de mercado.
A participao da iniciativa privada nos estgios iniciais de desen-
volvimento de algumas tecnologias improvvel, especialmente
quando no se sabe ainda se alcanaro a fase de comercialidade.
Alm disso, os prazos necessrios para a realizao de todas as
etapas de pesquisa e desenvolvimento podem ser mais extensos que
o requerido pelas empresas privadas para a obteno de retorno
fnanceiro de seus projetos. As incertezas relacionadas ao merca-
do de energia no futuro, muito infuenciado por decises polticas,
podem tambm desestimular as empresas a investirem em pesquisa
e desenvolvimento (IPCC, 2011).
O Relatrio Especial do IPCC sobre Energias Renovveis e Mitigao
das Mudanas Climticas SRREN (IPCC, 2011) apresenta diversos
mecanismos que podem ser aplicados para fomentar pesquisa e de-
senvolvimento em energias renovveis, que incluem a utilizao de
incentivos fscais ou fnanciamentos pblicos.
O fnanciamento de pesquisas acadmicas com recursos pblicos
pode estimular o incremento do nvel de conhecimento em deter-
minado tema, que poder ser utilizado no desenvolvimento de no-
vas aplicaes.
Incubadoras podem ser criadas com a fnalidade de prover apoio
gerencial e ajudar na obteno de recursos fnanceiros a empresas
embrionrias que utilizam novas tecnologias no campo das ener-
gias renovveis.
39
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Centros de pesquisa em energias renovveis fnanciados com recur-
sos pblicos podem ser implantados e as inovaes l desenvolvidas
podem ser repassadas s empresas, de forma onerosa ou gratuita.
Premiaes que incentivem o desenvolvimento de inovaes na rea
das energias renovveis podem ser distribudas.
Podem ser ainda criados mecanismos que permitam que as despesas
incorridas nas atividades de pesquisa e desenvolvimento em fontes
renovveis sejam abatidas da base de clculo de determinados tribu-
tos, ou que sejam utilizadas como crdito tributrio a ser abatido no
montante de impostos devidos.
Parcerias pblico-privadas para inovao em fontes limpas podem
ser realizadas com o propsito de repartir custos relacionados a pes-
quisas e desenvolvimento, com a aplicao de recursos pblicos a
fundo perdido.
Outra alternativa a implantao de mecanismos de provimento de
fundos pblicos a projetos de pesquisa, desenvolvimento e demons-
trao, que devero ser reembolsados apenas no caso de sucesso na
comercializao da propriedade intelectual ou na explorao da tec-
nologia desenvolvida.
No fomento pesquisa e desenvolvimento em fontes renovveis, ins-
tituies pblicas podem participar como scias em empresas consti-
tudas para aplicar o resultado de pesquisas em produtos comerciais.
3.2.2 Polticas para implantao de fontes renovveis
Assim como para o caso do fomento de cincia e tecnologia, so mui-
tos os mecanismos potencialmente aplicveis para estimular a im-
plantao de empreendimentos que utilizam as fontes renovveis de
energia. O SRREN (IPCC, 2011) apresenta diversas possibilidades no
que concerne a incentivos fscais, mecanismos estatais de fnancia-
mento e polticas regulatrias.
40
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
3.2.2.1 Incentivos fscais
Os incentivos fscais contribuem para reduzir os custos e riscos re-
lacionados aos investimentos em energias renovveis, reduzindo os
investimentos iniciais e custos de produo ou elevando o valor rece-
bido pela energia renovvel produzida. Dessa forma, podem ser com-
pensadas ou minimizadas as desvantagens das energias renovveis
em relao s fontes tradicionais, decorrentes das falhas de mercado
e barreiras econmicas.
Entre os mecanismos classifcados como incentivos fscais esto os
subsdios diretos e os incentivos tributrios.
3.2.2.1.1 Subsdios diretos
Entre os subsdios diretos esto os subsdios de capital e o pagamento
governamental pela energia produzida.
Entre os subsdios de capital, esto as subvenes e os descontos. As
subvenes so recursos concedidos, antecipadamente, para forma-
o do capital necessrio para a realizao dos investimentos ini-
ciais. J os descontos so reembolsos promovidos aps a realizao
dos investimentos.
Pelo menos 52 pases oferecem algum tipo de subsdio de capital
(REN21, 2011), que so aplicados, por exemplo, na aquisio de
aquecedores solares de gua ou painis fotovoltaicos. Como os bene-
fcirios desses incentivos, geralmente, dispem de poucos recursos,
esses mecanismos so mais apropriados para instalaes que reque-
rem investimento signifcativo, mas possuem custos de operao re-
duzidos (IPCC, 2011).
Esses mecanismos, portanto, so utilizados contra a barreira referente
aos investimentos iniciais elevados. Entretanto, contribuem tambm
para o crescimento da demanda, favorecendo a obteno de ganhos
de escala na fabricao e comercializao dos equipamentos para a
produo de energia renovvel.
Outra forma de subsdio direto o pagamento governamental pela
energia produzida, que contribui para reduo dos riscos econmicos
41
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
associados s novas tecnologias, uma vez que permite ou facilita a co-
bertura dos custos operacionais e fnanceiros dos empreendimentos.
Esses instrumentos tm a vantagem de favorecer diferentes faixas de
rendas de pessoas fsicas ou jurdicas e de serem tambm efetivos du-
rante os perodos de retrao econmica.
3.2.2.1.2 Incentivos tributrios
Incentivos tributrios para fomentar a produo de energia renovvel
incluem a concesso de crditos fscais, dedues, isenes e redu-
es de alquotas, assim como a utilizao de depreciao acelerada
de equipamentos.
A concesso de crditos fscais permite que o benefcirio possa abater
do montante de tributos devido os investimentos realizados em ener-
gias renovveis. Por meio das dedues, permite-se aos benefcirios
abater da base de clculo de determinado tributo os investimentos
realizados em energias renovveis. A iseno, por sua vez, dispensa
o pagamento de tributos que normalmente se aplicariam a operaes
envolvendo equipamentos ou a produo, transporte, comercializa-
o ou consumo de energia renovvel. J a reduo de alquota cor-
responde a uma reduo parcial ou total do valor dos tributos devi-
dos em razo de operaes referentes a equipamentos ou produo,
transporte, comercializao ou consumo de energia renovvel.
Por meio da depreciao acelerada permitido s empresas lanarem
anualmente como despesa uma parcela maior que o normalmente
permitido do montante investido em equipamentos ou instalaes
de produo de energia renovvel. Dessa maneira, reduz-se a base
de clculo de tributos sobre o lucro nos primeiros anos de operao
desses equipamentos ou instalaes.
Esses mecanismos, portanto, envolvem renncia ou diferimento de
receitas pblicas em favor do desenvolvimento das fontes renovveis
de energia. So instrumentos fexveis, que podem ser calibrados para
se ajustarem aos diferentes estgios de maturao de cada tecnologia.
Podem ser usados para infuenciar a oferta ou a demanda das fontes
renovveis, assim como para favorecer os investimentos iniciais ou
42
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
a reduo dos custos de produo. So mais efetivos em locais que
apresentam carga tributria mais elevada, pois agregam maior dife-
rencial em favor das fontes que se deseja incentivar.
3.2.2.2 Mecanismos estatais de fnanciamento
Os principais mecanismos de fnanciamento estatal aplicados s fon-
tes renovveis so a participao societria, a concesso de garantias
e a disponibilizao de linhas de fnanciamento.
O principal objetivo desses mecanismos mobilizar recursos a se-
rem aplicados em fontes renovveis, como forma de compensar a
maior percepo de risco associada aos investimentos no setor ou
suprir a carncia de capital disponvel para aplicao nesse tipo de
empreendimento.
Por meio de participaes societrias em empreendimentos para a
produo de energias renovveis, as entidades estatais compartilham
os investimentos e riscos dos projetos, mas se habilitam tambm a
obter retorno fnanceiro correspondente aos recursos investidos. A
participao pode se dar na forma de capital de risco para o desenvol-
vimento de novas tecnologias ou na formao de sociedades para a
implantao de projetos que estejam em diferentes estgios de desen-
volvimento, desde o inicial at o mais avanado, pronto para o incio
da construo (IPCC, 2011).
A concesso de garantias a empreendimentos para a produo de fon-
tes renovveis, por sua vez, o instrumento apropriado para favorecer a
obteno de crdito proveniente de instituies fnanceiras comerciais,
ou mesmo de fomento. Trata-se de uma ferramenta de grande impor-
tncia, uma vez que a obteno de crdito difcultada, na maioria das
vezes, pela alegao de que os projetos de energias renovveis, especial-
mente os de pequeno porte, no oferecem garantias sufcientes para a
concesso do fnanciamento. O provimento dessas garantias pode ter
efeito adicional de permitir que as instituies fnanceiras ganhem ex-
perincia nesse tipo de projeto, o que pode lev-las a reduzir a percep-
o de risco associada s tecnologias renovveis emergentes.
43
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Outro mecanismo de incentivo corresponde s linhas de fnanciamento
providas por bancos de desenvolvimento estatais ou internacionais,
que, geralmente, apresentam taxas de juro e custos fnanceiros inferio-
res aos que vigoram no mercado. Podem tambm possuir exigncias de
garantia mais fexveis que as requeridas pelos bancos comerciais.
3.2.2.3 Polticas regulatrias
As polticas regulatrias para incentivar a implantao de fontes re-
novveis incluem polticas baseadas em quantidade, em preo, aspec-
tos qualitativos e polticas de acesso (IPCC, 2011).
As polticas regulatrias baseadas em quantidade fxam um deter-
minado montante de energias renovveis que deve ser alcanado,
deixando que o mercado determine o preo. Incluem programas de
cotas e leiles.
Nos programas de cotas, so fxadas metas obrigatrias mnimas de
energias renovveis a serem alcanadas pelos agentes do setor energ-
tico, como produtores, distribuidores e consumidores, em determina-
do perodo de tempo. Essas metas so geralmente defnidas em termos
de percentual da oferta ou do consumo de energia ou da capacidade
instalada de produo de energia. As cotas podem estar relacionadas
a certifcados negociveis de energias renovveis, de modo a permitir
maior fexibilidade no seu cumprimento. Atualmente, pelo menos 96
pases adotam metas para energias renovveis (REN21, 2011).
As polticas de metas uniformes, sem especifcao das fontes favore-
cidas, tm o efeito de favorecer mais efetivamente a implantao das
fontes que j apresentam custos mais reduzidos, tendo pouco efeito
no desenvolvimento daquelas que ainda no alcanaram maior com-
petitividade (IPCC, 2011). Para compensar essa caracterstica, podem
ser utilizadas subcotas especfcas para as tecnologias menos maduras
que se desejar fomentar.
No caso de leiles, as autoridades pblicas ou concessionrias de
energia organizam certames com o objetivo de se alcanar determi-
nado montante de energia renovvel para suprir o mercado. Os pre-
os so defnidos a partir das ofertas dos participantes, podendo ser
44
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
estabelecido um teto pela autoridade organizadora. So ento assina-
dos contratos por prazo determinado, em que garantida a compra
de toda a energia contratada, depois de decorrido um prazo inicial
para a implantao do empreendimento.
Os leiles podem ser realizados separadamente para cada fonte ou
podem permitir a competio entre elas. A primeira opo favorece o
desenvolvimento das fontes contempladas, que podem apresentar est-
gios diversos de maturao, enquanto a segunda estimula apenas aque-
las que apresentam maior competitividade no momento da licitao.
J para o caso das polticas baseadas em preo, fxado um valor a
ser pago por unidade de energia, garantida a aquisio compulsria
da energia produzida e o acesso fsico rede de energia o que eli-
mina a maior parte dos riscos percebidos pelos geradores. Normal-
mente so adotados valores diferentes, conforme a fonte de energia e
a capacidade de gerao.
Um exemplo dessa modalidade de incentivo so as chamadas tarifas
feed-in, por meio das quais fxado um preo pela energia eltrica
injetada na rede. Esse o principal instrumento de apoio s fontes re-
novveis na Unio Europeia, sendo utilizada por Frana, Alemanha,
Espanha, Grcia, Irlanda, Luxemburgo, ustria, Hungria, Portugal
Bulgria, Chipre, Malta, Litunia, Letnia e Eslovquia. Segundo De
Jager et al., 2010, em razo dos baixos riscos dessa modalidade de
incentivo, os custos de capital para investimentos em energias reno-
vveis em pases que aplicam tarifas feed-in tm se mostrado signif-
cativamente inferiores aos verifcados em pases que utilizam outros
instrumentos que apresentam riscos de retorno mais elevados.
Uma variao dessa modalidade consiste em pagar ao produtor do
energtico um adicional em relao ao valor de mercado chamado
de tarifa prmio , que, no entanto, impe aos produtores um ris-
co adicional correspondente variao do preo do energtico. A
vantagem desse mecanismo que ele tende a produzir ajustes na
gerao em razo da sinalizao advinda dos preos de mercado
(De Jager et al., 2010).
45
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Nos mecanismos baseados em preo, importante que seja estabele-
cido um valor equilibrado a ser pago pela energia, de modo a evitar
uma produo excessiva em razo de uma tarifa muito elevada, o que
aumenta demasiadamente o custo do programa, normalmente arca-
do pelos consumidores de energia.
As polticas qualitativas, por sua vez, regulamentam mecanismos
como a aquisio de energias renovveis alm do montante mnimo
exigido pela legislao local, bem como a certifcao de que determi-
nado energtico atende a critrios de sustentabilidade.
J as polticas de acesso incluem a implementao de normas que ga-
rantam ao produtor de energia renovvel o acesso fsico aos merca-
dos, como a rede de energia eltrica. A padronizao das exigncias
tcnicas tambm instrumento regulatrio que pode ser usado para
evitar aes discriminatrias por parte dos operadores da rede. Uma
medida regulatria que tambm favorece a utilizao de fontes reno-
vveis a determinao para que sejam despachadas prioritariamente
em relao s no renovveis.
Outro mecanismo regulatrio importante para a eletricidade produ-
zida a partir de fontes renovveis a chamada medio diferencial,
em que permitido o fuxo bi-direcional da energia eltrica entre a
rede de distribuio e os consumidores que possuam gerao prpria
(REN21, 2011). O consumidor, ento, paga apenas a diferena entre a
energia absorvida e a injetada na rede, se positiva. Caso a quantidade
de energia fornecida ao sistema eltrico seja maior que a consumida,
o consumidor pode passar a deter crditos perante a distribuidora.
Portanto, o preo que o consumidor recebe pela energia por ele pro-
duzida o mesmo que paga por aquela que consome. No Brasil, esse
valor corresponde tarifa de distribuio aplicada classe ou subclas-
se de consumo em que a unidade consumidora est enquadrada. Para
as distribuidoras, esse mecanismo traz o benefcio de elevar o fator de
carga, quando a energia renovvel produzida em perodos de pico
de consumo (IPCC, 2011).
Para o caso do aproveitamento da energia solar para aquecimento de
gua, uma poltica regulatria comumente aplicada a exigncia de
46
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
que as novas edifcaes, especialmente as residncias, ou aquelas que
passem por grandes reformas, atendam parte da demanda por gua
quente por meio da instalao de sistemas termossolares. Normas
nesse sentido foram inicialmente adotadas em vrias municipalida-
des da Espanha, Alemanha, Itlia, Irlanda, Portugal e Reino Unido.
Esse tipo de obrigao atualmente adotada em nvel nacional na
Espanha e Alemanha (IPCC, 2011).
4. Principais fontes de energia renovvel
no mundo
O objetivo deste captulo apresentar a situao das principais fon-
tes renovveis no mundo, com o propsito de subsidiar a avaliao
da realidade brasileira e das medidas que podem ser adotadas para
incentiv-las em nosso pas.
Entretanto, por no estarem includos no escopo do presente traba-
lho, no sero abordados os biocombustveis.
Tambm em decorrncia da realidade brasileira, no ser abordada
a aplicao das fontes renovveis com a fnalidade de aquecimento,
com exceo da energia solar trmica para aquecimento de gua.
4.1 Energia solar
As trs principais tecnologias para o aproveitamento da energia so-
lar para a produo de energia so a fotovoltaica, a termossolar e a
solar termoeltrica.
4.1.1 Energia solar fotovoltaica
4.1.1.1 Tecnologia
Os sistemas fotovoltaicos transformam, diretamente, a energia solar
em energia eltrica. A clula fotovoltaica o componente bsico do
sistema, sendo constituda de material semicondutor que converte a
energia solar em eletricidade em corrente contnua. As clulas foto-
voltaicas so interconectadas para formar um mdulo, ou painel fo-
tovoltaico, cuja capacidade tpica situa-se entre 50 e 200 watts (W).
47
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Esses painis so ento combinados com outros componentes, como
inversores e baterias
1
, de acordo com a aplicao desejada. So extre-
mamente modulares, podendo formar sistemas de alguns watts at
dezenas de megawatts (MW) (IEA, 2010a).
Os mdulos fotovoltaicos utilizam, basicamente, duas tecnologias: si-
lcio cristalino e flmes fnos.
Os de silcio cristalino, que podem ser mono ou multicristalinos, detm
de 85% a 90% do mercado anual atualmente (IEA, 2010a). Entre os
comercialmente disponveis, os painis de silcio monocristalino so os
que apresentam maiores rendimentos, entre 15% e 20% de converso
da luz solar em eletricidade. Os de silcio multicristalino, por sua vez,
apresentam rendimento mdio de 14%, apresentando, porm, menores
custos de produo que os monocristalinos (IEA, 2011d).
Os de flme fno representam 10% a 15% das vendas anuais de m-
dulos fotovoltaicos (IEA, 2010a) e so fabricados aplicando-se fnas
camadas de materiais semicondutores sobre um material de suporte,
como vidro, plstico ou ao inoxidvel, podendo formar mdulos fe-
xveis. Os painis de flme fno apresentam rendimentos inferiores,
entre 7% e 13%, mas possuem a vantagem de apresentarem menores
custos de fabricao. Apesar de mais baratos, requerem maior rea
para a obteno de uma determinada potncia eltrica (IEA, 2011d).
Clulas com concentradores de energia solar so as que apresentam
as maiores efcincias (at 40% de converso), estando a tecnologia
prxima de tornar-se comercialmente disponvel (IEA, 2011e).
Os sistemas fotovoltaicos apresentam a vantagem de utilizarem, alm
da luz solar direta, tambm a componente difusa, para a produo de
eletricidade, permitindo seu funcionamento em dias em que o cu
no est completamente limpo.
1
Os inversores convertem a corrente contnua em alternada, de modo a permitir a cone-
xo rede ou a utilizao de equipamentos de corrente alternada. As baterias so uti-
lizadas em sistemas sem conexo rede, como forma de armazenamento da energia
produzida para utilizao em momentos em que a radiao solar no estiver disponvel.
48
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
4.1.1.2 Status
A energia fotovoltaica foi a fonte que apresentou maior crescimento
no mundo entre os anos de 2000 a 2010, a uma taxa mdia de cerca
de 39% ao ano, em evoluo praticamente exponencial (Figura 4.1).
A capacidade instalada atingiu cerca de 40 gigawatts (GW) no fnal de
2010, contra 1,5 GW em 2000. Entre os anos de 2005 e 2010, o cresci-
mento foi ainda mais expressivo, alcanando uma taxa mdia de 49%
(IEA, 2011e, e EPIA, 2012).
Figura 4.1 Capacidade fotovoltaica no mundo
Fonte: EPIA, 2012
Esse rpido crescimento ocorreu, principalmente, pelas polticas ba-
seadas em tarifas feed-in e pela reduo do custo de aquisio dos
sistemas fotovoltaicos, como ser detalhado adiante. A maior parte
da energia fotovoltaica provm de autoprodutores residenciais, como
mostra a Figura 4.2.
49
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 4.2 Produo de energia fotovoltaica por segmento (2010)
Fonte: IEA, 2010a
A Tabela 4.1 apresenta a capacidade instalada de gerao fotovoltaica
nos maiores mercados, enquanto a Figura 4.3 mostra a participao
relativa de cada um deles.
Tabela 4.1 Energia fotovoltaica: capacidade instalada total
Pas (2010) Capacidade (MW)
Alemanha 17.370
Espanha 3.915
Japo 3.618
Itlia 3.502
EUA 2.534
Mundo 39.700
Fonte: EPIA, 2012
A partir desses dados, observa-se que 72% da capacidade instalada
encontra-se em pases da Europa e no Japo, pases que dispem de
menor insolao, relativamente a pases tropicais, como o Brasil. Essa
realidade demonstra que a formatao da poltica para o setor mais
importante que os prprios recursos energticos.
50
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Figura 4.3 Participao na capacidade instalada fotovoltaica (2010)
Fonte: EPIA, 2012
Estima-se que, em 2011, ocorreu um acrscimo de 27,7 GW de sis-
temas fotovoltaicos conectados rede eltrica. Dados preliminares
indicam que foi na Itlia onde se deu o maior acrscimo em potncia
instalada, da ordem de 9 GW (EPIA, 2012).
Quanto oferta de equipamentos, o maior fabricante de mdulos fo-
tovoltaicos no mundo a China, que tem ampliado sua participao.
A Tabela 4.2 apresenta os principais fabricantes de mdulos fotovol-
taicos no mundo e a Figura 4.4 mostra a participao relativa dos
maiores parques industriais. A tecnologia de silcio cristalino repre-
sentou 88% dos mdulos produzidos em 2010 (IEA, 2011d).
Tabela 4.2 Mdulos fotovoltaicos produzidos em 2010
Pas Mdulos Produzidos (GW)
China 10.000
Alemanha 2.460
Japo 2.304
EUA 1.265
Coreia 925
Espanha 699
Itlia 305
Mxico 232
51
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Sucia 181
ustria 112
Canad 110
Outros 1.816
Mundo 20.409
Fonte: IEA, 2011d
Figura 4.4 Maiores fabricantes de mdulos fotovoltaicos (2010)
Fonte: IEA, 2011d.
4.1.1.3 Preos
Os preos dos mdulos fotovoltaicos tm apresentado uma tendncia
de queda expressiva. O preo mdio no mundo caiu de US$ 22 por
watt (W) em 1980 para menos de US$ 1,5 por watt em 2010, a preos
de 2005 (IPCC, 2011).
Nos ltimos vinte anos, os preos dos mdulos fotovoltaicos apresenta-
ram uma reduo mdia de 20% cada vez que dobrou a capacidade acu-
mulada dos mdulos vendidos. Em consequncia, os preos dos sistemas
fotovoltaicos declinaram em 50% nos ltimos cinco anos na Europa e es-
perada uma reduo nos prximos dez anos de 36% a 51% (EPIA, 2011).
O comportamento recente do preo dos mdulos no atacado, em eu-
ros (), entre maio de 2009 e dezembro de 2011, pode ser visto na
Figura 4.5. Observa-se que, nesse perodo, os mdulos tornaram-se
52
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
57% mais baratos na Alemanha, com redues de 56% e 63% no Ja-
po e na China, respectivamente (PVXchange, 2012).
Os custos dos sistemas fotovoltaicos, em junho de 2011, situavam-se
entre US$ 3.300 a US$ 5.800 por quilowatt-pico (kWp) para sistemas
instalados em telhados e US$ 2.700 a US$ 4.100 por kWp para siste-
mas montados no solo (ver pgina 77). J o custo da energia gerada
depende, alm do custo dos sistemas, dos custos de capital e da in-
solao. A partir dos mencionados preos de sistemas, os custos da
eletricidade produzida situam-se entre US$ 138 e US$ 688 por MWh,
para sistemas montados sobre telhados e entre US$ 113 e US$ 486 por
MWh para sistemas montados no solo (IEA, 2011e).
Figura 4.5 Preos no atacado dos mdulos fotovoltaicos
Fonte: PVXchange
Portanto, considerando uma taxa de converso de R$ 1,75 por dlar
americano, a energia eltrica de origem fotovoltaica, produzida a par-
tir de mdulos montados em telhados, pode apresentar custos que se
situam entre R$ 241,50 a R$ 1.204,00 por megawatt-hora. Portanto,
o preo da energia em locais que apresentam condies propcias,
como elevada incidncia de radiao solar, j apresentam custos com-
petitivos com os preos cobrados pelas distribuidoras pela energia
eltrica, uma vez que so comuns tarifas aplicadas a consumidores
53
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
residenciais superiores a US$ 200 por megawatt-hora, ou seja, R$ 350
por megawatt-hora, mesma taxa cambial.
4.1.2 Energia termossolar
4.1.2.1 Tecnologia
Em um sistema de aquecimento solar, o coletor transforma a radiao
solar em calor e, por meio de um fuido, como a gua, o transfere para
armazenamento em reservatrio termicamente isolado, para poste-
rior utilizao.
As principais tecnologias utilizadas nos coletores para aquecimento
de gua so os coletores planos, envidraados ou no envidraados, e
os coletores de tubos a vcuo (Figura 4.6).
Figura 4.6 Coletor solar de tubos a vcuo
Fonte: Wikipedia
Os coletores planos envidraados so construdos de tubos condutores de
gua (metlicos pintados de preto ou de material plstico) instalados no
interior de uma caixa isolada termicamente, com cobertura transparente.
Com esses coletores, podem ser atingidas temperaturas de at 80C, com
uma efcincia de converso entre 50% e 60% (IEA, 2010b).
Os coletores planos no envidraados, por sua vez, so confecciona-
dos como um nico painel absorvedor de calor e condutor de gua,
54
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
sem isolamento, e so aplicados para a obteno de temperaturas
mais baixas, como para o aquecimento de piscinas.
J os coletores de tubos a vcuo so constitudos de tubos transpa-
rentes de vidro, a vcuo, em cujo interior montado o absorvedor.
Esses tubos so montados em fleiras paralelas e conectados por meio
de uma tubulao, que contm o fuido que absorver o calor das
extremidades aquecidas dos tubos. O vcuo utilizado para reduzir
as perdas de calor, aumentando assim as temperaturas mximas que
podem ser atingidas por meio desse sistema, que podem superar os
100C. Esse desempenho permite que sejam tambm utilizados para
algumas aplicaes industriais.
Os sistemas domsticos para aquecimento de gua, alm dos coleto-
res, utilizam um reservatrio isolado termicamente para armazena-
mento da gua quente, que pode ser instalado junto ao coletor ou se-
paradamente. A montagem normalmente feita de modo que o fuxo
da gua entre coletores e reservatrio ocorra naturalmente, em razo
da diferena de densidade entra a gua fria e a aquecida. Os reserva-
trios de gua aquecida podem contar com um sistema alternativo de
aquecimento, como uma resistncia eltrica, para as situaes em que
a insolao no seja sufciente para produzir o aquecimento desejado.
Os coletores solares, alm do uso residencial, podem tambm ser di-
mensionados para aplicaes comerciais e industriais. Estima-se que
entre 30% e 40% da demanda industrial por calor possa ser atendida
por meio de sistemas de aquecimento solar comerciais (IEA, 2010b).
4.1.2.2 Status
Estima-se que a capacidade instalada de coletores solares no mundo tenha
atingido 196 gigawatts trmicos (GWt) ao fnal de 2010, o que correspon-
de a uma rea de coletores de, aproximadamente, 280 milhes de metros
quadrados. A capacidade instalada em 2010 elevou-se em 25 GWt, sem
considerar os coletores no envidraados para o aquecimento de piscinas
(REN21, 2011). Entre 2004 e 2009 a rea de coletores solares instalada no
mundo praticamente triplicou e a taxa de crescimento anual entre 2000 e
2009 foi de 20,8% (Weiss e Mauthner, 2011).
55
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Os pases com maior capacidade instalada de coletores solares para aque-
cimento de gua podem ser vistos na Tabela 4.3, bem como na Figura 4.7.
Tabela 4.3 Capacidade instalada de coletores termossolares em
2009 (MWt)
Pas No envidraados Envidraados Tubo a vcuo Total
China - 7.105,00 94.395,00 101.500,00
Estados Unidos 12.455,50 1.787,80 61,40 14.304,70
Alemanha 504,00 7.508,70 844,50 8.857,20
Turquia - 8.424,50 - 8.424,50
Austrlia 3.304,00 1.710,50 51,70 5.066,20
Japo - 3.936,10
68,10
4.004,20
Brasil 890,30 2.799,70 3.690,00
ustria 431,90 2.543,80 38,40 3.014,10
Grcia - 2.852,20 1,80 2.854,00
Israel 20,60 2.827,50 - 2.848,10
Fonte: Weiss e Mauthner., 2011
Observa-se, portanto, a grande capacidade instalada da China, que uti-
liza, predominantemente, a tecnologia de coletores de tubos a vcuo.
Figura 4.7 Capacidade instalada de coletores termossolares em
2009 (MWt)
Fonte: Weiss e Mauthner, 2011
Todavia, quando analisada a capacidade instalada de coletores solares
por habitante, verifca-se que alguns pases conseguiram estabelecer
56
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
ambientes institucionais bastante favorveis utilizao desses equi-
pamentos, como mostrado na Figura 4.8.
Figura 4.8 Capacidade per capita de coletores solares em 2009
(watts/habitante)
Fonte: Weiss e Mauthner, 2011
A principal aplicao dos coletores solares para o aquecimento de
gua em habitaes individuais. Todavia, em alguns pases da Europa
e na ndia, outras aplicaes apresentam participao notvel, como
grandes sistemas em edifcaes residenciais coletivas, assim como
sistemas combinados de aquecimento de gua e calefao (Weiss e
Mauthner, 2011).
Na China, maior mercado dos sistemas de aquecimento solar de gua,
o custo dos investimentos iniciais varia de US$ 120 a US$ 540 por
quilowatt trmico instalado (IPCC, 2011). Para o topo da faixa, consi-
derando um fator de capacidade de 10%, um custo anual de operao
e manuteno de US$ 5 por kW, prazo de amortizao de 15 anos e
uma taxa de juros de 7% ao ano, chega-se a um custo de US$ 73 por
megawatt-hora trmico. Esse valor corresponde a R$ 128 por MWh,
a uma taxa de converso de R$ 1,75 por dlar americano.
Na Europa, por sua vez, os sistemas solares de aquecimento de gua
apresentam custos entre 50 e 160 por megawatt-hora de calor, o
que corresponderia a R$ 115 a R$ 345 por MWh, a uma taxa de con-
verso de R$ 2,30 por euro.
57
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Observa-se, portanto, que o custo da energia solar trmica para aque-
cimento de gua competitiva at mesmo com as fontes de gerao
de grande porte. Todavia, a situao dessa energia solar em relao
energia eltrica ainda mais favorvel, pois seu custo compete com
o valor das tarifas referentes aos consumidores fnais, que incluem,
alm do custo de gerao, os de transmisso e de distribuio.
4.1.3 Energia solar termoeltrica
4.1.3.1 Tecnologias
As usinas solares termoeltricas funcionam concentrando a radiao
solar direta para aquecimento de um receptor, que, por sua vez, aque-
ce um fuido. O calor absorvido pelo fuido ento transformado em
energia mecnica, por meio de turbinas a vapor, por exemplo, e ento
convertido em energia eltrica.
Trata-se, portanto, de um processo semelhante ao utilizado para a
produo de energia termeltrica convencional, como a obtida a par-
tir de gs natural, carvo ou energia nuclear. A diferena principal a
forma de obteno do calor que aquecer o fuido de trabalho.
As usinas solares termoeltricas utilizam, basicamente, quatro tecno-
logias: sistemas de calhas parablicas, sistemas de refetores Fresnel
lineares, torres solares e discos parablicos.
Sistemas de calhas parablicas consistem em fleiras de espelhos re-
fetores, curvados em uma dimenso, que focalizam os raios solares
sobre tubos absorvedores de calor isolados a vcuo do meio externo
por intermdio de tubos de vidro (Figura 4.9 a). No interior dos tubos
absorvedores, circula o fuido que transferir o calor captado para o
sistema composto de turbina a vapor e gerador eltrico. Os espelhos
refetores acompanham o movimento do sol em torno de um eixo,
normalmente orientado no sentido norte-sul. Centrais que utilizam
essa tecnologia podem ser construdas com sistemas de armazena-
mento trmico, para a produo de eletricidade em momentos em
que a radiao solar no esteja disponvel, como noite.
Sistemas de refetores Fresnel lineares so constitudos por longas f-
leiras de espelhos planos, ou quase planos, que refetem a radiao
58
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
solar sobre um nico receptor horizontal fxo, alinhado com as flei-
ras de espelhos (Figura 4.9 b). Esse sistema tem a vantagem de apre-
sentar menor custo por rea, sendo, porm, menos efciente que o
sistema de calhas parablicas (IPCC, 2011).
Figura 4.9 Sistemas de Concentrao Solar
Fonte: IEA, 2011e (modifcado)
Os sistemas de torres solares, ou sistemas de receptores centrais, utilizam
centenas, ou milhares de espelhos planos para concentrar os raios do sol
sobre um receptor central situado no topo de uma torre (Figura 4.9 c).
Alguns sistemas comerciais utilizam sal derretido como fuido que far a
transferncia de calor, podendo realizar tambm o armazenamento dessa
energia, de modo que a central possa operar em horrios em que no
ocorra a incidncia de radiao solar. Os espelhos refetores devem pos-
suir sistema para acompanhar o sol com movimentao em dois eixos, o
que os torna mais complexos e dispendiosos. Todavia, esse tipo de central
solar capaz de atingir elevadas temperaturas, o que eleva a efcincia da
converso de calor para eletricidade e reduz os custos de armazenamento
trmico (IEA, 2010c).
59
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
J o disco parablico concentra os raios de sol no ponto focal situado aci-
ma de seu centro. Todo o sistema acompanha o sol, movendo-se em dois
eixos. A maioria dos discos possui um conjunto individual motor-gerador
no ponto focal, que utiliza, por exemplo, motores Stirling ou microturbi-
nas. Os discos parablicos oferecem o melhor desempenho na conver-
so de energia solar para eltrica entre todos os sistemas de concentra-
o (IEA, 2010c). A capacidade tpica dos sistemas que utilizam motores
Stirling situa-se entre 10 kW e 25 kW de energia eltrica (IPCC, 2011).
As plantas solares termoeltricas podem ser tambm equipadas com sis-
tema de produo de energia a partir de combustveis, como gs natural,
por exemplo, compartilhando um nico conjunto turbina-gerador. Nes-
sa confgurao hbrida, podem se comportar como usinas de base.
Como somente a radiao solar direta pode ser concentrada, as plantas
de concentrao precisam ser instaladas em locais de grande insolao,
como regies ridas e semiridas (Figura 4.10). Assim, os sistemas de
concentrao solar necessitam de sistemas de transmisso para transpor-
tar a energia eltrica dos locais de produo at os centros de consumo.
4.1.3.2 Status
As primeiras usinas de concentrao solar comerciais iniciaram a
operao na Califrnia, no perodo de 1984 a 1991, devido a incenti-
vos estaduais e federais (IEA, 2010c), quando se chegou a uma capa-
cidade instalada de cerca de 350 MW (IEA, 2011e). A queda no preo
dos combustveis fsseis, entretanto, levou os governos de ambas as
esferas a desmontar a poltica de incentivos que sustentava o avano
das usinas solares termoeltricas.
Figura 4.10 Recursos solares para usinas de concentrao
(em kW/m
2
por ano)
Fonte: IEA, 2010c
60
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Em 2006, as atividades referentes a essa fonte se reiniciaram nos Esta-
dos Unidos, com a implantao de uma planta de calhas parablicas
de 64 MW, resultante de polticas de cotas, que obrigam as distribui-
doras a obter parte da energia de que necessitam a partir de fontes
renovveis. Na Espanha, at 2010, foram instalados projetos de con-
centrao que somaram cerca de 350 MW de capacidade instalada,
como resultado da adoo de tarifas feed-in para essa fonte. Assim, a
capacidade instalada total no mundo, ao fnal de 2010, atingiu aproxi-
madamente 764 MW. Todavia, novos projetos esto sendo planejados
e construdos em diversos pases, incluindo Arglia, Egito, Marrocos,
Austrlia, China, ndia, Israel, Jordnia, Mxico, frica do Sul e Emi-
rados rabes. Se todos os projetos forem concludos, a capacidade
global da fonte solar termoeltrica poder superar 7,4 GW em 2016,
com a liderana da Espanha, seguida dos Estados Unidos. A maioria
desses projetos utiliza a tecnologia de calhas parablicas (IEA, 2011e).
4.1.3.3 Custos
Os custos de investimentos para implantao de modernas plantas
de calhas parablicas de grande potncia, na faixa de 50 MW, esto
entre US$ 4.200 e US$ 8.400 por quilowatt, dependendo dos custos
de construo, da energia solar incidente no local e da capacidade
projetada de armazenamento de calor. As unidades que no possuem
sistema de armazenamento trmico e se situam em regies que rece-
bem elevada radiao solar direta esto na faixa mais baixa de custos
de investimento, enquanto aquelas com grande capacidade de esto-
car calor, implantadas em locais de menor incidncia de energia so-
lar direta apresentam custos mais elevados. Os custos de produo
de energia eltrica, por sua vez, situam-se entre US$ 180 a US$ 300
por megawatt-hora (IEA, 2011e). Considerando uma taxa de cmbio
de 1,75 real por dlar americano, o custo no mercado internacional
da energia eltrica proveniente da concentrao solar situa-se entre
R$ 315 e R$ 525 por megawatt-hora.
Todavia, de acordo com estudos realizados pela Agncia Internacio-
nal de Energia, os custos de investimentos em sistemas de concen-
trao solar tm potencial para reduzirem-se entre 30% a 40%, at o
61
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
ano de 2020 (IEA, 2010c). Se concretizada tal estimativa, o custo da
energia produzida poder tambm diminuir signifcativamente.
4.2 Biomassa para a produo de eletricidade e co-gerao
Vrias matrias-primas e tecnologias esto disponveis para a produ-
o de energia eltrica a partir da biomassa.
4.2.1 Matrias-primas
As fontes de matria-prima para a produo de energia a partir da
biomassa so muito diversas e incluem (IEA, 2007):
resduos agrcolas;
dejetos de animais;
resduos das indstrias forestais, de papel e celulose e alimentcia;
resduos urbanos (lixo);
matria orgnica de esgotos sanitrios;
culturas energticas, como as provenientes de rotao de cul-
tura, forestas energticas (eucalipto e pinus), gramneas (ca-
pim elefante), culturas de acar (cana-de-acar e beterraba),
culturas de amido (milho e trigo) e oleaginosas (soja, girassol,
colza, sementes oleaginosas, pinho-manso e leo de palma).
Todavia, verifca-se que os resduos orgnicos, urbanos, industriais
e rurais, so, em geral, as principais fontes para a produo de eletri-
cidade e co-gerao. Isso porque os produtos primrios das culturas
energticas, normalmente, possuem custo mais elevado, sendo utili-
zados para a produo de biocombustveis, como etanol e biodiesel,
ou como redutores e fontes de calor na indstria siderrgica, como o
carvo vegetal proveniente de plantaes de eucalipto.
4.2.2 Tecnologias
As principais tecnologias aplicadas para a produo de eletricidade
e co-gerao so a queima conjunta; queima em usinas dedicadas
biomassa; gaseifcao; e digesto anaerbica.
62
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
4.2.2.1 Queima conjunta
O processo de queima conjunta consiste em utilizar biomassa sli-
da e carvo mineral em usinas termeltricas a carvo mineral. Essa
forma de gerao faz uso das usinas a carvo j existentes, exigindo
baixos investimentos iniciais, realizados na preparao da biomassa
para queima e na adaptao de sistemas de alimentao de combust-
vel. Esse mtodo tem a vantagem de aproveitar a maior efcincia de
grandes plantas de gerao a carvo mineral. Entretanto, o percentual
de biomassa que pode ser usado para mistura direta com o carvo
mineral limita-se a 10%, acima do qual so requeridos maiores inves-
timentos para adaptao da usina. A biomassa apresentada na forma
de pellets frequentemente usada para minimizar os custos de trans-
porte, como no caso do transporte martimo da Colmbia Britnica,
situada a noroeste do Canad, para a Europa (IEA, 2011e).
O custo adicional para adaptar as usinas a carvo mineral para a quei-
ma conjunta varia de US$ 50 a US$ 250 por quilowatt. Onde existe
matria-prima orgnica a baixo custo, ou sem custo, a biomassa pode
reduzir o custo de gerao para cerca de US$ 20 por megawatt-hora.
Se a biomassa est disponvel a custos entre US$ 3 e US$ 3,5 por giga-
joules (GJ), o custo de gerao ultrapassa o custo da gerao a carvo,
indo para a faixa de US$ 30 a US$ 50 por megawatt-hora (IEA, 2007).
4.2.2.2 Queima em usinas dedicadas biomassa
Em usinas dedicadas biomassa, esse material queimado para pro-
duo de eletricidade, ou de eletricidade e calor (co-gerao), por
intermdio de sistemas que utilizam caldeira, turbina a vapor e gera-
dor eltrico. A capacidade tpica dessas plantas de 1 a 100 MW
cerca de dez vezes menor que a potncia de grandes usinas a carvo,
em razo da disponibilidade de matria-prima e para evitar maiores
custos de transporte. Essa tecnologia usada com o objetivo de apro-
veitar grandes quantidades de resduos, como o bagao de cana, por
exemplo. A menor dimenso das unidades praticamente dobra os in-
vestimentos por quilowatt e resulta em menor efcincia eltrica, em
comparao com as usinas a carvo (IEA, 2007).
63
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Todavia, em plantas de co-gerao, a competitividade pode ser maior,
uma vez que possvel alcanar uma faixa de efcincia total (eltrica
mais trmica) entre 80% e 90% (IEA, 2011e).
Para plantas dedicadas biomassa com capacidade tpica entre 10
e 100 megawatts eltricos, estimam-se os custos da energia eltrica
como sendo entre US$ 69 e US$ 150 por megawatt-hora, a uma taxa
de juros de 7% ao ano (IPCC, 2011).
A produo de eletricidade a partir da queima de resduos slidos
urbanos apresenta custos mais elevados, pois exige rgido controle da
emisso de poluentes, provenientes da grande diversidade de mate-
riais presentes no lixo das cidades. Assim, em consequncia dos ele-
vados custos de capital e de operao, semelhantes usinas so viveis
apenas quando o responsvel pelos resduos assume parte dos custos.
Portanto, so aplicveis somente em locais onde outra forma de dis-
posio impossvel ou muito dispendiosa (IEA, 2011e). Porm, esse
tipo de tratamento de resduos slidos tem a vantagem de apresentar
balano de emisso de gases de efeito estufa mais favorveis que ou-
tras alternativas, como os aterros sanitrios (IEA, 2007).
4.2.2.3 Gaseifcao
A gaseifcao um processo termoqumico em que a biomassa
transformada em gs combustvel. O gs combustvel, em princpio,
pode ser queimado diretamente em motores de combusto interna
ou turbinas a gs para mover um gerador eltrico. A energia eltrica
pode tambm ser obtida em usinas de ciclo combinado, que alcanam
maiores efcincias, e utilizam turbinas a gs e a vapor (IEA, 2011e).
Estima-se o custo de gerao em plantas de gaseifcao da biomassa
entre US$ 100 e US$ 130 por megawatt-hora, considerando-se um
custo de US$ 3 por gigajoules para a matria-prima (IEA, 2007).
64
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
4.2.2.4 Digesto anaerbica
A digesto anaerbica o processo de degradao biolgica da bio-
massa por bactrias, na ausncia de oxignio, produzindo biogs
2
. Esse
gs pode ento ser usado para a produo de energia eltrica, tipica-
mente, por meio de sua combusto em motores estacionrios. A diges-
to anaerbica particularmente adequada para o aproveitamento de
matrias-primas com alto teor de umidade, como dejetos de animais,
lodo decorrente do tratamento de esgotos sanitrios, resduos agrcolas
midos e a frao orgnica dos resduos slidos urbanos. A digesto
anaerbica tambm ocorre naturalmente no interior de aterros sani-
trios, que podem conter sistema de capitao e transporte do biogs
com a fnalidade de produo de energia eltrica (IEA, 2011e).
A produo de eletricidade a partir do biogs originado de resduos
orgnicos apresenta tambm grande vantagem sob o aspecto ambien-
tal, pois evita que esses resduos sejam descartados no ambiente sem
tratamento, poluindo, especialmente, os recursos hdricos.
Um exemplo de experincia de sucesso no tratamento de resduos
animais o programa desenvolvido por Itaipu no Sul do Brasil, que
estimula e apoia a produo de biogs por criadores de sunos, o que
trouxe melhora da qualidade da gua dos corpos hdricos que desa-
guam no lago da usina hidreltrica, conforme relata o artigo O Pro-
duto Biogs: refexes sobre sua economia, j mencionado.
4.2.3 Status
Estima-se que a capacidade instalada mundial de gerao de energia
eltrica a partir da biomassa, ao fnal de 2010, era de 62 GW. Nesse
ano, ocorreram importantes acrscimos de capacidade de gerao em
pases da Europa, Estados Unidos, China, ndia e muitos pases em
desenvolvimento (REN21, 2011).
2
BIOGS: Composto gasoso, constitudo em mdia por 59% de gs metano (CH4), 40%
de gs carbnico (CO2) e 1% de gases-trao entre eles o gs sulfdrico (H2S), resultante
da degradao anaerbia (ausncia de oxignio) da matria orgnica, por colnias mistas
de microorganismos. (Bley, 2012)
65
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Os cinco pases que possuem a maior capacidade instalada para a
produo de energia eltrica da biomassa so Estados Unidos, Brasil,
Alemanha, China e Sucia. A Tabela 4.4 mostra a energia eltrica da
biomassa produzida por pases de destaque em 2010 (REN21, 2011).
Nos Estados Unidos, a maior parte da eletricidade produzida de ma-
tria orgnica provm de resduos forestais e agrcolas e da lixvia,
tambm chamada de licor negro
3
. Uma parcela crescente derivada
de gs de aterro, que somou 8 terawatts-hora em 2010, a partir de mais
de 550 plantas, que detm 1,7 GW de capacidade (REN21, 2011).
Tabela 4.4 Eletricidade da biomassa (2010)
Pas Energia produzida (TWh)
Estados Unidos 48,0
Alemanha 28,7
Brasil 28,0
Sucia 12,1
Japo* 10,0
China 4,0
*No inclui a queima conjunta com carvo mineral.
Fonte: REN21, 2011
Na Alemanha, a energia eltrica proveniente da biomassa teve um
crescimento anual de mais de 22% na ltima dcada, atingindo um to-
tal de 28,7 TWh, a partir de uma capacidade instalada de 4,9 GW, em
2010. Ao fm desse ano, a bioeletricidade representou 5,5% do total de
energia eltrica consumida naquele pas, sendo a segunda maior fonte
renovvel de sua matriz eltrica, atrs apenas da elica. A matria-pri-
ma da biomassa que apresenta maior participao na gerao eltrica
o biogs, que produziu 13,8 TWh em 2010 (REN21, 2011).
4.3 Hidroeletricidade
4.3.1 Tecnologia
A hidroeletricidade proveniente da energia da gua dos rios que fui
de elevaes mais altas para mais baixas (REN21, 2011). Nessas usinas,
a energia potencial da gua transformada em energia cintica, que, na
3
Matria orgnica subproduto da indstria de papel e celulose.
66
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
turbina, convertida para energia mecnica, por sua vez transformada em
energia eltrica no gerador (Figura 4.11). A quantidade de energia produ-
zida depende da vazo e da queda, o desnvel vertical do aproveitamento.
O processo de converso de energia altamente efciente nas moder-
nas centrais hidreltricas. A efcincia normalmente superior a 90%
nas turbinas e mais de 99% nos geradores, levando o fator de con-
verso total a mais de 90% (IPCC, 2011). , portanto, a forma mais
efciente de produo de energia eltrica disponvel.
Os trs principais tipos de aproveitamento so usinas com reservat-
rio de acumulao, usinas a fo dgua e usinas com bombeamento.
Nas usinas com reservatrio de acumulao, construda uma bar-
ragem para o represamento da gua do curso dgua, criando um
reservatrio que permite a formao do desnvel necessrio para o
armazenamento da gua em volume adequado para a regularizao
da vazo dos rios, que varia devido a perodos de chuva ou estiagem.
No caso das usinas a fo dgua, no so construdos reservatrios de
acumulao e a energia gerada depende da vazo do rio. So aprovei-
tamentos que reduzem as reas de alagamento, mas no permitem
que seja estocada gua para regularizar a produo de eletricidade.
J as usinas com bombeamento possuem dois reservatrios, sendo a
gua bombeada do inferior para o superior em momentos de baixa
demanda, utilizando-se a energia da rede eltrica. Nos momentos de
maior demanda, essa gua ento liberada, gerando energia eltrica.
Figura 4.11 Composio de uma usina hidreltrica
Fonte: Aneel, 2008
67
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A hidroeletricidade uma tecnologia madura e plenamente comer-
cial, apesar de existirem possibilidades de reduo de custos e aumen-
to de efcincia, especialmente para o caso de projetos de pequena
capacidade ou de baixa queda. A hidroeletricidade tambm uma
fonte de energia renovvel que apresenta grande fexibilidade, poden-
do operar como usina de base ou para atender o pico da demanda,
permitindo ainda o armazenamento de energia (IEA, 2011e).
Destaca-se que a capacidade de gerao de muitas usinas j existentes
poderia ser elevada de 5% a 20% por meio da instalao de novas
e mais efcientes turbinas (IEA, 2011e). Semelhantes reformas so a
maneira mais rpida, econmica e de menor impacto ambiental para
obteno de capacidade adicional de gerao.
4.3.2 Status
Estima-se que, em 2010, a capacidade instalada mundial teve um
acrscimo de 30 GW, chegando a 1010 GW (REN21, 2011). Em 2009,
a produo de energia hidreltrica no mundo foi de 3.329 TWh,
representando 16,5 % da produo mundial de eletricidade (IEA,
2011a). Estima-se que, em 2010, essa produo de eletricidade tenha
aumentado em 5% (REN21, 2011).
Os pases que detm maior capacidade instalada de energia hidre-
ltrica so mostrados na Tabela 4.5, enquanto aqueles que possuem
maior participao dessa fonte nas respectivas matrizes eltricas so
apresentados na Tabela 4.6.
Tabela 4.5 Capacidade instalada em hidreltricas (2010)
Pas Capacidade (GW)
China 213
Brasil 80,7
Estados Unidos 78
Canad 75,6
Rssia 55
Fonte: REN21, 2011
68
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Tabela 4.6 Participao da hidroeletricidade na matriz eltrica (2010)
Pas Participao (%)
Noruega 99
Brasil 83,9
Venezuela 73,4
Canad 59
Sucia 48,8
Fonte: IPCC, 2011
O Atlas Mundial e Guia da Indstria 2010 (IJHD, 2010) publicado
pelo Jornal Internacional sobre Hidroeletricidade e Barragens IJHD,
estima que o mundo possui um potencial tcnico para a produo de
14.576 TWh por ano, cerca de quatro vezes a gerao atual, o que
corresponderia a uma capacidade instalada estimada de 3.721 GW.
A Tabela 4.7 mostra, para as regies do mundo, a capacidade instalada
atual e potencial, o percentual no aproveitado e o fator de capacidade
4
mdio. A partir desses dados, observa-se que a sia a regio que possui
a maior capacidade instalada no mundo, apresentando tambm o maior
potencial absoluto de crescimento dessa fonte renovvel. A frica, por
sua vez, o continente que menos explora a hidroeletricidade, enquanto
a Amrica Latina possui as melhores condies para a gerao de ener-
gia eltrica, devido ao maior fator de capacidade mdio que possui.
Tabela 4.7 Potencial hidreltrico no mundo
Regio
Capacidade
Instalada em
2009 (GW)
Capacidade
Instalada
Potencial (GW)
Potencial no
aproveitado (%)
Fator de
Capacidade
Mdio (%)
Amrica do Norte 153 388 61 47
Amrica Latina 156 608 74 54
Europa 179 338 47 35
frica 23 283 92 47
sia 402 2037 80 43
Oceania 13 67 80 32
Mundo 926 3.721 75 44
Fonte: IJHD, 2010
4
O fator de capacidade corresponde relao entre a energia produzida pela usina
em um determinado perodo de tempo e sua capacidade nominal de gerao.
69
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4.3.3 Custos
O investimento inicial necessrio para implantao de cada aprovei-
tamento hidreltrico varia de acordo com as particularidades do local
do projeto, mas normalmente inferior a US$ 2.000 por kW.
O custo da energia gerada, por sua vez, infuenciado por diversos fa-
tores, como investimento inicial, escala do projeto, presena e dimen-
so do reservatrio, custo de capital e fator de capacidade. Todavia,
apesar de muito varivel, geralmente situa-se na faixa entre US$ 50 e
US$ 100 por MWh (IEA, 2011e), portanto, entre R$ 87,5 a R$ 175 por
MWh, para uma taxa de converso de R$ 1,75 por dlar americano.
O REN21, 2011, por sua vez, estima valores mais baixos para o custo
da energia hidreltrica, como mostrado na Tabela 4.8.
Tabela 4.8 Custo da energia hidreltrica
Classicao Capacidade instalada Custos tpicos da
energia (US$/MWh)
Grandes 10 megawatts (MW)18000 MW 3050
Pequenas 110 MW 50120
Mini 1001.000 kilowatts (kW) 50120
Micro 1100 kW 70300
Pico 0,11 kW 200400
Fonte: REN21, 2011
A Tabela 4.8 apresenta tambm os valores estimados para o custo da
energia em usinas de escala mais reduzida, com potncia instalada de
at 1 MW. Esse tipo de aproveitamento pode suprir eletricidade de
forma descentralizada em reas rurais, de maneira a promover a uni-
versalizao de acesso energia eltrica ou substituir a gerao obtida
a partir de fontes fsseis, como leo diesel.
Um exemplo de sucesso na utilizao de aproveitamentos hidreltri-
cos de pequena escala o caso da China, onde mais de 45000 usi-
nas hidreltricas de pequena escala, que totalizam uma capacidade
de 55 GW, foram construdas e esto produzindo 160 TWh por ano.
Participam do suprimento de mais de 300 milhes de habitantes, che-
gando a representar um tero da capacidade instalada em hidroeletri-
cidade naquele pas (IPCC, 2011).
70
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Para esses aproveitamentos de escala reduzida podem ser usadas tec-
nologias alternativas nos aproveitamentos, com o propsito de sim-
plifcar e reduzir os custos de construo. Exemplos de solues nesse
sentido so a utilizao de turbinas tipo bank, bombas centrfugas
funcionando como turbina (Viana e Viana, 2011) e o uso do parafuso
de Arquimedes em pequenas centrais (Werder, 2010).
4.4 Energia elica
4.4.1 Tecnologia
A energia elica provm da energia cintica do ar em movimento
(o vento), captada por turbinas, cujo rotor est ligado a um gerador el-
trico, seja diretamente ou por intermdio de uma caixa de engrenagens.
As turbinas modernas de grande porte utilizam um rotor horizon-
tal, no topo de uma torre, com uma hlice de trs ps, que podem
ter o ngulo de ataque ajustado de acordo com a velocidade do ven-
to. O rotor pode ser conectado a um gerador eltrico por meio de
uma caixa de engrenagens multiplicadora de velocidade. O eixo do
rotor pode tambm ser ligado diretamente ao gerador, sem a neces-
sidade de caixa de engrenagens, utilizando-se, para tanto, geradores
eltricos de maior dimetro, de mltiplos polos e com excitao por
ms permanentes.
Os sistemas elicos podem ser instalados em terra (onshore) ou sobre
o mar (ofshore).
Os sistemas sobre o mar apresentam a vantagem de aproveitarem
ventos normalmente mais favorveis e utilizam as grandes turbinas
para instalao em terra com adaptaes, como maior proteo cor-
roso. Entretanto, enfrentam difculdades que, at o momento, tor-
nam os projetos no mar mais desafadores e custosos. A gerao no
mar requer dispendiosas estruturas de suporte para as torres, exige
sistemas submersos de transmisso de eletricidade e possui condies
de construo, manuteno e operao mais restritas.
As turbinas elicas produzem energia com ventos a partir de 15 qui-
lmetros por hora (km/h) at 90 km/h (IEA, 2009a). As maiores
71
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
turbinas elicas atuais so de 5 MW a 6 MW de potncia por unida-
de, com um dimetro de rotor de 126 metros. As turbinas comerciais
tpicas tm capacidade entre 1,5 MW e 3 MW. As turbinas tm au-
mentado de tamanho muito rapidamente, mas esperada uma dimi-
nuio desse ritmo de crescimento para as turbinas em terra, devido
a restries estruturais, de transporte, e de instalao (IEA, 2011e).
4.4.2 Status
Em 2010, o acrscimo da potncia instalada em energia elica foi de
39 GW, maior que qualquer outra fonte alternativa (REN21, 2011).
Em 2011, de acordo com Conselho Global de Energia Elica (Global
Wind Energy Council GWEC), a capacidade instalada em energia
elica no mundo cresceu 21%, com o acrscimo de 41,2 GW, alcan-
ando assim um total de 238 GW (GWEC, 2012a).
Os principais pases que utilizam essa fonte so listados na Tabela 4.9,
que mostra a liderana da China, seguida pelos Estados Unidos, Ale-
manha e Espanha.
Tabela 4.9 Capacidade elica instalada em 2011
Pas Acrscimo 2011
(GW)
Total 2011 (GW) Crescimento (%)
China 18,0 62,4 40%
Estados Unidos 6,8 46,9 17%
Alemanha 2,1 29,1 8%
Espanha 1,1 21,7 5%
ndia 3,0 16,1 23%
Frana 0,8 6,8 14%
Itlia 1,0 6,7 16%
Reino Unido 1,3 6,5 25%
Canad 1,3 5,3 32%
Portugal 0,4 4,1 10%
Fonte: GWEC, 2012a
Em 2011, o Brasil foi o pas que apresentou o maior crescimento rela-
tivo no mundo, equivalente a 63%, com sua capacidade instalada pas-
sando de 927 MW, em 2010, para 1.509 MW, em 2011 (GWEC, 2012a).
72
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
A evoluo da capacidade instalada mundial a partir de 2001 apre-
sentada na Figura 4.9. Observa-se um crescimento de dez vezes no
perodo, que correspondeu a uma taxa anual mdia de 26%.
Figura 4.9 Evoluo da capacidade elica mundial (GW)
Fonte: GWEC, 2012a
Todavia, o mercado elico global manteve-se praticamente estvel nos
ltimos trs anos 38,6 GW em 2009, 38,8 GW em 2010 e 41,2 GW
em 2011 devido a um crescimento menor nos Estados Unidos e
Europa, em razo de incertezas nas polticas para fontes renovveis;
pela crise econmica, que diminuiu o acesso a fnanciamentos; e pela
reduo da demanda por eletricidade em muitos pases desenvolvi-
dos (REN21, 2011).
No fnal de 2010, a capacidade instalada de energia elica na Unio
Europeia representava 5,3% do consumo de eletricidade na regio.
Muitos pases, no entanto, obtiveram maior participao da energia
elica no atendimento da demanda por eletricidade, incluindo a Di-
namarca (22%), Portugal (21%), Espanha (15,4%), Irlanda (10,1%) e
Alemanha (6%). Na Alemanha, quatro estados atenderam a mais de
40% de suas necessidades de energia eltrica por meio da energia e-
lica. Nos Estados Unidos, nesse mesmo ano, a liderana foi do estado
de Iowa, com 15% da demanda por eletricidade atendida pela fonte
elica (REN21, 2011).
Alm disso, o interesse em pequenas turbinas elicas est crescendo,
impulsionado pela necessidade de energia eltrica no meio rural, pelo
73
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
desenvolvimento de inversores de baixo custo para conexo rede
eltrica e por incentivos governamentais (REN21, 2011). O uso da
energia elica para suprimento de comunidades rurais isoladas ou de
consumidores residenciais ou comerciais conectados rede pode tra-
zer benefcios de desenvolvimento econmico e social (IPCC, 2011).
No fnal de 2010, o nmero de pequenas turbinas elicas, com capaci-
dade de at 100 kW, instaladas no mundo alcanou 656084 unidades,
que geraram mais de 382 GWh no ano. O crescimento, em relao a
2009, foi de 26%. A capacidade instalada total alcanou 443,3 MW ao
fnal de 2010. Como mostrado na Tabela 4.10, a China lidera em n-
mero de unidades instaladas, enquanto os Estados Unidos possuem a
maior potncia instalada (WWEA, 2012).
Tabela 4.10 Pequenas Turbinas Elicas (2010)
Pas N de unidades Capacidade
instalada (MW)
Tamanho mdio
das turbinas (kW)
China 450.000 166 0,37
Estados Unidos 144.000 179 1,24
Reino Unido 21.610 43 2,0
Canad 11.000 12,6 1,15
Alemanha 10.000 15 1,5
Fonte: WWEA, 2012
4.4.3 Custos
Os custos de investimentos em energia elica tm apresentado redu-
o expressiva a partir do incio dos anos oitenta do sculo passado,
apesar de ter ocorrido elevao do preo das turbinas, no perodo en-
tre 2007 e 2009, devido demanda aquecida e ao aumento dos preos
de matrias-primas para sua fabricao. Entretanto, recentemente,
com o desenvolvimento do mercado abaixo da expectativa, ocorreu
um excesso de capacidade de fabricao, o que levou a uma queda nos
preos das turbinas. Para contratos assinados no fnal de 2010, para
entrega no segundo semestre de 2011, os preos das turbinas estavam
em US$ 1.350 por kW, 19% inferiores aos preos de pico entre 2007 e
2008 (IEA, 2011e).
74
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
De acordo com a IEA (2011e), o custo da energia elica depende do
preo das turbinas, do custo fnanceiro e das condies do local de
instalao, situando-se na faixa entre US$ 40 e US$ 160 por mega-
watt-hora para o caso de projetos em terra. J em REN21 (2011), esse
custo foi estimado entre US$ 50 e US$ 90 por MWh. Para a faixa in-
ferior de custos, empreendimentos elicos j so competitivos, sem a
necessidade de polticas governamentais de apoio.
Para os empreendimentos sobre o mar, essas publicaes estimam
os custos entre US$ 180 e US$ 190 por MWh (IEA, 2011e) e entre
US$ 100 e US$ 200 por MWh (REN21, 2011).
Para pequenas turbinas com capacidade entre 3 e 100 kW, estima-
se o custo da energia produzida entre US$ 150 e US$ 200 por MWh
(REN21, 2011). Considerando uma taxa de converso de R$ 1,75 por
dlar, est faixa estaria entre R$ 262,50 e R$ 437,50, que so inferiores
maior parte das tarifas residenciais pagas pelos consumidores no Brasil.
4.5 Energia geotrmica
A energia geotrmica consiste no aproveitamento da energia trmi-
ca armazenada no interior da terra, em rochas ou a partir de gua
aprisionada no estado lquido ou de vapor, para a produo de ele-
tricidade ou calor.
So utilizados poos para a produo de fuidos aquecidos, que movi-
mentam turbinas a vapor para a produo da energia mecnica, que
ser convertida em eletricidade por meio de geradores eltricos. Atual-
mente so utilizadas trs tecnologias para a explorao desses recursos.
Plantas de vapor rpido, que utilizam vapor originado da reduo
da presso da gua proveniente de reservatrios hidrotermais de alta
temperatura. Esse tipo de usina representa dois teros da capacidade
hoje instalada em energia geotrmica (IEA, 2011e).
Plantas de vapor seco, quando se dispe de reservatrios que produ-
zem vapor seco, isto , sem gua lquida, que pode ser enviado direta-
mente para as turbinas a vapor.
75
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Plantas binrias, que podem utilizar recursos geotrmicos de baixas
para mdias temperaturas, que vaporizam fuidos de baixo ponto de
ebulio por meio de trocadores de calor.
A capacidade instalada mundial para a produo de energia eltrica
em usinas geotrmicas atingiu 11 GW ao fnal de 2010 (REN21, 2011).
Os principais pases a explorar essa fonte de energia so mostrados na
Tabela 4.11. Nota-se que esto todos situados em regies de impor-
tante atividade vulcnica.
Em termos relativos, a liderana da Islndia, que produziu, em 2010,
26% de sua eletricidade a partir de energia geotrmica, enquanto nas Fili-
pinas, 18% da eletricidade originou-se dessa mesma fonte (REN21, 2011).
Tabela 4.11 Capacidade geotrmica total em 2010
Pas Capacidade instalada (GW)
Estados Unidos 3,1
Filipinas 1,9
Indonsia 1,2
Mxico 1
Nova Zelndia 0,8
Islndia 0,6
Japo 0,5
Fonte: REN21, 2011
Em mdia, os custos de produo de energia eltrica em plantas de
vapor rpido a partir de recursos hidrotermais de alta temperatura
situam-se entre US$ 50 e US$ 80 por MWh. J em plantas binrias,
os custos variam entre US$ 60 e US$ 110 por MWh, mas em planas
menores e com recursos geotrmicos que apresentam temperaturas
mais baixas, chegam a US$ 200 por MWh (IEA, 2011e).
4.6 Energia dos oceanos
A energia dos oceanos a que apresenta menor grau de maturidade,
com limitada aplicao comercial, mas com uma ampla gama de dis-
positivos ainda em fase de pesquisa e desenvolvimento (REN21, 2011).
Para o aproveitamento dos recursos energticos dos oceanos, cinco
alternativas tecnolgicas so consideradas.
76
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Energia das mars, extrada a partir da construo de barragens em locais
que apresentam grandes diferenas de nvel entre a alta e a baixa mar.
Energia das correntes de mar e marinhas, derivada da energia cin-
tica associada s correntes das mars e correntes marinhas, aproveita-
da por meio da instalao de turbinas que aproveitam o fuxo da gua,
sem a necessidade de construo de barragens.
Energia das ondas, que aproveita a energia cintica ou potencial asso-
ciada s ondas do mar para a produo de energia eltrica, por meio
de grande variedade de dispositivos em desenvolvimento.
Energia de gradientes de temperatura, obtida a partir da utilizao
da diferena de temperatura entre a superfcie e o fundo dos oceanos,
por meio de diferentes processos de converso de energia trmica dos
oceanos (IEA, 2011e).
Energia de gradientes de salinidade, que aproveita a diferena de sa-
linidade entre a gua do mar e a gua doce dos rios em esturios, ex-
plorando a diferena de potencial qumico ou a diferena de presso
osmtica entre as duas solues.
At o fnal de 2010, apenas os sistemas de energia das mars com o
uso de barragens atingiram escala comercial. Segundo REN21 (2011),
a capacidade instalada mundial de apenas 0,3 GW, decorrente, prin-
cipalmente, da usina de La Rance, na Frana, que utiliza uma barra-
gem para aproveitar a energia de mar e possui 240 MW de capacida-
de instalada, tendo sido inaugurada em 1966.
O custo da energia proveniente da explorao da diferena de nvel
das mars estimado entre US$ 180 e US$ 240 por MWh, a uma taxa
de juros de 7% ao ano (IPCC, 2011).
5. Principais pases e suas polticas
5.1 Introduo
Alguns pases tm obtido grande sucesso no objetivo de elevao da
participao das fontes renovveis em suas matrizes energticas, por
77
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
meio da adoo de polticas, muitas vezes inovadoras, que acabaram
por se tornar referncia mundial. Esse o caso da Alemanha e tam-
bm da Espanha.
Outras naes, por sua vez, conseguiram resultados expressivos em
alguns setores energticos, por meio da adoo de polticas apropria-
das. Nessa situao, podem ser citados os Estados Unidos e a China,
no que se refere energia elica. A China tambm lder no aprovei-
tamento da energia solar para aquecimento de gua e na implantao
de pequenas unidades de gerao descentralizadas.
5.2 Alemanha
A Alemanha, ao fnal de 2009, apresentava uma populao de cerca
de 82 milhes de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) de
aproximadamente US$ 2,0 trilhes (IEA, 2011a).
A composio de sua matriz energtica mostrada na Figura 5.1, onde
se observa o predomnio do petrleo, gs natural e carvo mineral.
Apesar de utilizar, predominantemente, combustveis fsseis, a Alemanha
um dos pases que maiores esforos tem empreendido com o propsito
de elevar a participao das fontes renovveis em sua matriz energtica.
Figura 5.1 Oferta de energia primria na Alemanha (2009)
Fonte: IEA, 2012a
78
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Em razo desses esforos, entre 1990 e 2010, a participao das re-
novveis no consumo de energia primria do pas passou de 1,3%
para 9,4% (BMU, 2011). A contribuio de cada fonte renovvel no
consumo fnal de energia na Alemanha, em 2010, mostrada na Fi-
gura 5.2. A grande participao da biomassa para aquecimento deve-
se, principalmente, queima de madeira. A participao da fonte ge-
otrmica decorre, essencialmente, de seu uso para aquecimento.
Entre os segmentos do setor energtico, aquele onde se observou
maior crescimento da participao relativa das fontes renovveis na
Alemanha foi o setor eltrico. Nesse segmento, a participao das re-
novveis passou de 3,1%, em 1990, para 17%, em 2010. A produo
de energia eltrica a partir dessas fontes, em 1990, foi de 17 TWh,
enquanto, em 2010, atingiu 103 TWh, o que corresponde a um cres-
cimento de 505% no perodo (BMU, 2011).
Figura 5.2 Energia renovvel consumida na Alemanha em 2010
Fonte: BMU, 2011
Na matriz eltrica, as mais importantes fontes renovveis so a elica,
biomassa, hidreltrica e solar fotovoltaica, como mostrado na Figura 5.3.
Ressalte-se que, dos 37793 GWh produzidos pela fonte elica em 2010,
apenas 174 GWh foram obtidos em instalaes situadas sobre o mar.
79
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 5.3 Renovveis na matriz eltrica na Alemanha (2010)
Fonte: BMU, 2011
Quanto biomassa, segunda mais importante fonte em produo de
eletricidade na Alemanha, as matrias-primas que mais se sobressaem
so o biogs e a biomassa slida, conforme mostrado na Tabela 5.1.
Tabela 5.1 Energia eltrica derivada da biomassa na Alemanha
(2010)
Combustveis da biomassa Energia eltrica (GWh)
Slidos 11800
Lquidos 1800
Biogs 13300
Gs de esgoto 1101
Gs de aterro 680
Queima de resduos 4 651
Total 33 332
Fonte: BMU, 2011
O aumento da energia renovvel produzida naquele pas decorrente
de uma expressiva e contnua elevao da capacidade instalada a partir
de fontes dessa natureza, como mostra a Figura 5.4. A capacidade eli-
ca, entre 1990 e 2010, elevou-se de 55 MW para 27 204 MW; a solar fo-
tovoltaica, partindo de 1 MW em 1990, alcanou 17 320 MW em 2010;
a capacidade de produo de eletricidade a partir da biomassa obteve
um acrscimo de 1.032% nesse mesmo perodo, chegando a 6 610 MW.
A energia hidreltrica, por outro lado, apresentou pequeno crescimen-
to nesse intervalo temporal (9%), alcanando 4 780 MW em 2010.
80
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Essa rpida evoluo das fontes renovveis para gerao de energia
eltrica resultado da legislao pioneira implantada pela Alemanha,
que se tornou referncia em todo o mundo.
Figura 5.4 Evoluo da capacidade instalada de gerao de
energia eltrica
Fonte: BMU, 2011
Inicialmente, foi instituda, em 1990, a Lei de Venda de Eletricidade
Rede (StrEG), que entrou em vigor em 1991. Ela exigia que as dis-
tribuidoras de energia eltrica conectassem as instalaes para gera-
o a partir de fontes renovveis rede eltrica e que adquirissem a
energia produzida a uma determinada tarifa mnima. poca, essa
tarifa feed-in correspondia a percentuais da tarifa mdia paga pelos
consumidores fnais, sendo 90% para o caso das fontes solar e elica.
Em relao s hidreltricas e energia da biomassa, a tarifa era de 65%
a 80% da tarifa mdia aplicada aos consumidores fnais, dependendo
da capacidade instalada. A lei, no entanto, no se aplicava a unidades
de capacidade superior a 5 MW.
Essa forma de remunerao, no entanto, no dava garantia sufciente
aos investimentos, uma vez que a remunerao poderia cair em razo
de eventuais quedas no valor das tarifas pagas pelos consumidores f-
nais. Em relao energia solar fotovoltaica, o valor recebido pelos ge-
radores, em torno de 85 (oitenta e cinco euros) por MWh, no era su-
fciente para cobrir os custos de cerca de 900 por MWh (IEA, 2011f).
81
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
No ano 2000, a lei StrEG foi substituda pela Lei de Fontes Renovveis
de Energia (EEG), que defniu o objetivo de, pelo menos, dobrar a
participao das fontes renovveis no consumo de energia eltrica at
2010, como forma de minimizar o aquecimento global e proteger o
meio ambiente.
Essa nova lei manteve a obrigao de conectar as fontes renovveis e
exigiu que fosse dada prioridade compra de sua energia. Alm disso,
mudou a forma de remunerao, estabelecendo tarifas feed-in que va-
riavam de acordo com o custo da energia de cada fonte e a dimenso de
cada instalao, com pagamento garantido por vinte anos, como forma
de incentivar investimentos de longo prazo. Foi tambm previsto, para
o caso de algumas fontes, um percentual de decrscimo anual das ta-
rifas pagas, que variava de 1% para a biomassa (exceto para biogs de
aterros sanitrios e de esgotos), 1,5% para elica e 5% para energia so-
lar. Esse decrscimo tem a fnalidade de absorver a reduo dos custos
de gerao decorrentes de ganhos de escala ou avanos tcnicos.
A EEG tambm defniu novos limites de capacidade instalada para as
instalaes benefciadas e incluiu em seu mbito a fonte geotrmica,
assim como a energia eltrica produzida pela queima do gs liberado
em minas de carvo. Tambm instituiu uma sistemtica nacional para
compartilhar os custos decorrentes de sua aplicao.
Em 2004, foi realizada uma primeira reviso da EEG, tendo sido fxa-
da a meta de se atingir 12,5% de participao das fontes renovveis no
suprimento de energia eltrica at 2010 e 20% at 2020. Foram feitas
modifcaes, como:
incluso de defnies, com a fnalidade de elevar a segurana
jurdica da norma;
previso de pagamento pela energia gerada por hidreltricas de
at 150 MW;
ajustes nas tarifas, como a elevao do valor pago pela energia
geotrmica, solar e eletricidade derivada da biomassa;
estabelecimento de percentuais de decrscimo anual das tarifas
para todas as fontes;
82
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
estabelecimento de tarifas diferenciadas para os cinco primei-
ros anos de operao das plantas elicas;
introduo de uma limitao da participao das indstrias
eletrointensivas na cobertura dos custos decorrentes das tarifas
feed-in previstas na EEG.
Em 2008, foi realizada nova reviso da EEG, com as modifcaes vigo-
rando a partir de 2009. Essa verso fxou como meta aumentar a parti-
cipao das fontes renovveis no suprimento de eletricidade para, pelo
menos, 30% em 2020. Entre as modifcaes empreendidas, foram atu-
alizados os valores das tarifas a serem pagas para cada fonte renovvel,
tendo sido aumentados para algumas (como biomassa) e reduzidos para
outras, especialmente elica e solar. Os percentuais de decrscimo anu-
ais das tarifas para a energia fotovoltaica foram aumentados, passando a
variar entre 9% e 11%. Esses percentuais poderiam se elevar ainda mais,
conforme a capacidade total instalada no pas em cada exerccio. Foi
tambm includo incentivo ao consumo local da energia produzida.
Em 2011, realizou-se nova reviso, para vigorar a partir de 2012, tendo
sido defnidas metas de participao das fontes renovveis no supri-
mento de energia eltrica de 35% at 2020, 50% at 2030 e 80% at
2050. Tambm se estabeleceu o objetivo de, at 2020, elevar para 18% a
participao das fontes renovveis no consumo fnal de energia do pas.
Nessa verso atualmente em vigor, alm de outras alteraes, foram re-
defnidos os valores das tarifas por fonte, com signifcativa elevao das
tarifas correspondentes energia geotrmica e derivada da biomassa.
Essa legislao, somada a outros programas governamentais, levou a
Alemanha a expressiva liderana mundial em termos da capacidade
instalada em energia fotovoltaica. O pas tambm ocupa a terceira
posio em energia elica e a segunda colocao no que se refere
eletricidade da biomassa.
Quanto energia fotovoltaica, cabe ressalvar que os incentivos con-
cedidos e a acelerada queda nos preos dos mdulos fotovoltaicos
(Figura 4.5) ocasionaram acrscimos de capacidade em ritmo muito
acelerado nos ltimos anos, como mostrado na Figura 5.5, acima das
expectativas do governo da Alemanha.
83
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 5.5 Nova capacidade instalada fotovoltaica na Alemanha
Fontes: BMU, 2011 e EPIA, 2012
Como resultado dessa situao, os custos anuais decorrentes da pol-
tica de fontes renovveis para produo de energia eltrica elevaram-
se acima das estimativas. O crescimento dos custos decorrentes da
EEG pode ser visto na Figura 5.6.
Figura 5.6 Custos anuais da EEG (bilhes de euros)
Fonte: BMU, 2011
Esse ritmo de crescimento de custos levou o pas a adotar o mecanis-
mo previsto nas reformas de 2008 e 2011 da lei de fontes renovveis,
que consiste em elevar os percentuais de reduo do valor da tarifa
vlida para determinado perodo, quando a instalao de painis foto-
voltaicos no perodo anterior for maior que determinados patamares
84
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
de potncia, de modo a controlar a evoluo dessa fonte. A Tabela 5.2
mostra os percentuais de reduo a serem aplicados anualmente, de
acordo com a legislao em vigor. Ressalte-se que variao na taxa de
reduo poder ocorrer tambm duas vezes por ano, caso a evoluo
da capacidade instalada ocorra muito rapidamente.
Tabela 5.2 Reduo anual da tarifa feed-in fotovoltaica na Alemanha
Nova capacidade nos 12 meses anteriores Reduo anual da tarifa feed-in
abaixo de 1500 MW 1,5%
entre 1 500 MW e 2 000 MW 4%
entre 2 000 MW e 2 500 MW 6,5%
entre 2 500 MW e 3 500 MW 9%
entre 3 500 MW e 4 500 MW 12%
entre 4 500 MW e 5 500 MW 15%
entre 5 500 MW e 6 500 MW 18%
entre 6 500 MW e 7 500 MW 21%
acima de 7 500 MW 24%
Fonte: EEG
A tarifa mdia paga pelos consumidores residenciais de energia eltrica
na Alemanha, em 2010, foi de cerca de 240 por MWh, sendo que a
parcela correspondente cobertura dos custos da poltica para fontes
renovveis foi de 23 por MWh. Entretanto, preciso considerar que a
utilizao das fontes renovveis provoca tambm uma reduo da de-
manda por energia de origem fssil, o que acarreta uma queda de preo
no custo dessa energia convencional. O governo alemo estimou, para
os anos de 2008 e 2009, que essa reduo foi de cerca de 6 por MWh,
o que chamado de efeito de ordem de mrito (BMU, 2011).
A Alemanha tambm implantou, em 2009, a Lei de Energias Renov-
veis para Aquecimento, modifcada em 2011, que estipula que os no-
vos edifcios, residenciais ou no residenciais, devero atender parte
de sua demanda por calor ou frio por meio de fontes renovveis de
energia. Essa parcela obrigatria varia de 15% a 50%, de acordo com
a fonte utilizada, que pode ser escolhida pelo proprietrio. O setor
pblico tambm dever cumprir essa exigncia para edifcios j exis-
tentes que venham a sofrer reformas importantes. O governo tam-
bm fornece apoio fnanceiro para que os proprietrios de edifcios
85
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
j existentes instalem sistemas de aquecimento e resfriamento basea-
dos em fontes renovveis, conforme consta do stio do Ministrio de
Meio Ambiente da Alemanha (em http://www.erneuerbare-energien.
de/inhalt /42351/). Em 2010, a participao das fontes renovveis no
consumo fnal de calor na Alemanha foi de 9,5% (BMU, 2011).
J os biocombustveis contriburam com 5,8% da demanda por com-
bustveis para transporte na Alemanha em 2010, sendo que o biodie-
sel participou com 4,3%, o etanol com 1,4% e o leo vegetal com 0,1%
(BMU, 2011).
Quanto ao refexo da poltica para energias renovveis no mercado
de trabalho, o governo alemo estima que, em 2010, 367 mil empre-
gos podiam ser atribudos s fontes renovveis no pas, sendo que,
desse total, 262 mil decorriam da lei de fontes renovveis de energia.
Sob o aspecto econmico, estima-se que as empresas alems efetua-
ram vendas equivalentes a 25,3 bilhes, includas as exportaes. As
energias renovveis resultaram ainda em outros ganhos de quantif-
cao mais difcil, como reduo da dependncia de importaes e o
aumento da segurana no suprimento energtico devido diversifca-
o das fontes (BMU, 2011).
Em relao aos benefcios ambientais, estima-se que as energias reno-
vveis na Alemanha evitaram emisses equivalentes a 115 milhes de
toneladas de CO
2
, que corresponderiam a 8,4 bilhes economizados
com a reduo de efeitos nocivos causados pela poluio do ar, como
despesas para mitigao de mudanas climticas, despesas devidas a
danos sade, perdas agrcolas e materiais, bem como reduo da
biodiversidade (BMU, 2011).
5.3 Espanha
A populao da Espanha, em 2009, era de cerca de 46 milhes de
habitantes e seu PIB situava-se em torno de US$ 713 bilhes (IEA,
2011a). As principais fontes de energia que o pas utiliza so o petr-
leo e o gs natural (Figura 5.7), mas, assim como a Alemanha, tem
tido uma estratgia de aumentar a participao das fontes renovveis,
tendo tambm obtido sucesso nesse objetivo. Em 2010, a participao
das fontes renovveis na oferta de energia primria, alcanou 11,1%
86
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
(Espanha, 2011). A distribuio dessa energia entre cada fonte reno-
vvel mostrada na Figura 5.8.
Figura 5.7 Oferta de energia primria na Espanha (2009)
Fonte: IEA, 2012b
Figura 5.8 Participao das fontes renovveis na Espanha (2010)
Fonte: Espanha, 2011
87
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
No que se refere energia eltrica, a participao da energia renov-
vel mais signifcativa e atingiu 32,4% em 2010, enquanto, em 1998,
era de apenas 18,6% (Espanha, 2011). A contribuio de cada fonte
em 2010 mostrada na Tabela 5.3.
Tabela 5.3 Participao das renovveis na gerao de energia
eltrica na Espanha (2010)
Fonte de energia Participao na gerao Capacidade
instalada (MW)
Hidrulica 14,1 % 18.535
Elica 14,6 % 20.759
Biomassa 1,5 % 958
Fotovoltaica 2,2 % 3.944
Solar termoeltrica 0,23 % 682
Fontes: Espanha, 2011 e IDAE, 2011
de se destacar que as fontes renovveis que apresentaram maior
crescimento a partir de 1999 foram a elica, que produziu, em 2010,
16 vezes mais energia que em 1999, e a solar, cuja produo, em 2010,
foi 35 vezes superior de1999, de acordo com dados da Eurostat.
A estrutura atual da matriz eltrica foi alcanada por meio de uma
poltica governamental baseada em uma legislao que utiliza as
tarifas feed-in como principal instrumento para elevar a participao
das fontes renovveis de energia.
Inicialmente, o Decreto Real n 2.818/1998 estabeleceu que as insta-
laes geradoras de energia eltrica que utilizassem fontes renovveis,
com capacidade instalada igual ou inferior a 50 MW, poderiam ven-
der a energia produzida ao sistema eltrico, por meio de um regime
especial, cuja remunerao correspondia ao preo mdio do merca-
do de gerao adicionado de um prmio, que variava com a fonte de
energia utilizada. No caso da energia solar, havia um prmio para ins-
talaes de at 5 kW, que era o dobro do estabelecido por instalaes
maiores, de at 50 MW. Essas instalaes poderiam tambm optar
por vender a energia a um preo fxo (tarifa feed-in), exceto para o
caso das hidreltricas e daquelas que utilizassem biomassa secund-
ria, como resduos agrcolas e urbanos.
88
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Em 2004, o regime especial para fontes renovveis foi alterado pelo De-
creto Real n 436/2004. Essa norma estabeleceu um regime opcional,
com tarifas reguladas, calculadas como uma percentagem de uma ta-
rifa mdia de referncia. Cada instalao poderia tambm optar por
vender a energia no mercado, recebendo um prmio, que era calculado
como um percentual da tarifa mdia de referncia. Esse decreto permi-
tiu tambm que instalaes maiores que 50 MW, como as de energia
solar, pudessem se benefciar do regime especial. Alm disso, estabele-
ceu metas de capacidade instalada que, quando atingidas, ensejariam a
reviso das tarifas e prmios.
Em 2007, o governo espanhol, considerando que os objetivos estabele-
cidos no Plano de Energias Renovveis 2005-2010 ainda estavam dis-
tantes de serem alcanados, editou o Decreto Real n 661/2007, que
passou a regular o regime especial de produo de energia eltrica re-
novvel. O decreto voltou a defnir as tarifas e os prmios em valores f-
xos por unidade de energia produzida. Entretanto, a norma estabeleceu
metas de potncia anual a contratar, determinando que, uma vez atin-
gido 85% da meta de determinada fonte, seria fxado, pelo Secretrio-
Geral de Energia, um prazo mximo para registro de novas instalaes
que teriam direito a tarifas e prmios, que no poderia ser inferior a
doze meses. Esse mecanismo teve efeito importante sobre o mercado
fotovoltaico da Espanha e mesmo do mundo. Isso porque, em agosto de
2007, a instalao de sistemas fotovoltaicos superou 85% da meta para
2010, ocasionando sua aplicao. Assim, durante o prazo de um ano
que se seguiu, ocorreu uma corrida para instalao de novas unidades
fotovoltaicas de gerao, que levou ao registro de mais de 3 000 MW,
provocando uma elevao dos preos das clulas de silcio policristali-
no no mundo (IEA, 2011e). Aps a exploso de 2008, o mercado espa-
nhol praticamente entrou em colapso em 2009, com uma capacidade
instalada de apenas 60 MW (IEA, 2011d).
Para permitir a sobrevivncia da cadeia produtiva fotovoltaica que
se instalara na Espanha, seu governo, por meio do Decreto Real
n 1.578/2008, decidiu mudar o regime para essa fonte. Inicialmente,
promoveu uma diferenciao entre instalaes fxadas em fachadas
ou coberturas de construes e aquelas instalaes sobre o solo. De-
89
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
fniu tambm que seriam fxadas quotas para cada convocao de re-
gistro de novas unidades de gerao fotovoltaica. No primeiro ano foi
estabelecida uma meta de 400 MW. Houve uma reduo das tarifas
pagas a instalaes de menor potncia e elevao daquelas aplicveis
s de maior capacidade. Em 2009, sob esse novo regime, a potncia
fotovoltaica instalada foi de 392 MW.
Posteriormente, foi ainda editado o Decreto Real 1.565/2010, que deter-
minou, entre outras disposies, uma reduo das tarifas pagas fonte
fotovoltaica, mais incisiva para o caso dos sistemas sobre o solo e daque-
les de maior potncia instalados em edifcios, com reduo de 25%. As
pequenas instalaes sobre edifcios tiveram a tarifa reduzida em 5%.
Em razo dessas alteraes de poltica para a energia fotovoltaica, o
aumento de capacidade na Espanha ocorreu de forma irregular, como
mostrado na Figura 5.9.
Figura 5.9 Capacidade instalada em energia fotovoltaica na Espanha
Fonte: IEA, 2011d
Todavia, a reduo da demanda de energia e o aumento da produo
de energia eltrica a partir de fontes renovveis subsidiadas causaram
dfcits tarifrios no setor eltrico. Com o agravamento dos efeitos da
crise fnanceira sobre a Espanha, o governo decidiu, entre as medidas
de ajuste recentemente implantadas, suspender os incentivos cons-
truo de novas instalaes dessa natureza. Essa medida de carter
radical se deu por intermdio do Real Decreto-Lei n 1/2012.
90
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Quanto energia termossolar, de se destacar que o Cdigo Tcnico
da Edifcao da Espanha, que entrou em vigor em 2006, exige que os
edifcios novos e os reformados atendam uma parcela da demanda
domstica por gua quente por meio de energia solar trmica. Essa
parcela varia entre 30% e 70%, dependendo do clima e outras condi-
es locais (IEA, 2009b).
5.4 Estados Unidos
Os Estados Unidos possuam, em 2009, uma populao de cerca de
307 milhes de habitantes e um PIB de US$ 11,4 trilhes. O pas o
segundo maior consumidor de energia no mundo, atrs apenas da
China (IEA, 2011a). A composio da sua matriz energtica apre-
sentada na Figura 5.10, onde se observa o predomnio das fontes fs-
seis, com destaque para o petrleo.
Figura 5.10 Oferta de energia primria nos Estados Unidos (2010)
Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA)
A participao das fontes renovveis no tem apresentado uma cla-
ra tendncia de elevao nos ltimos anos, como mostrado na Fi-
gura 5.11.
Entretanto, algumas fontes apresentaram desenvolvimento expressi-
vo. No caso da energia elica, por exemplo, a capacidade instalada
passou de 2,6 GW em 2000 para 47 GW em 2011 (IPCC, 2011, e
GWEC, 2012a), sendo o segundo maior parque do mundo, atrs ape-
nas do implantado na China.
91
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 5.11 Participao das fontes renovveis no consumo de
energia primria nos Estados Unidos
Fonte: U.S. Energy Information Administration (EIA)
No mbito federal, a principal norma de incentivo s fontes renov-
veis a Lei de Recuperao e Reinvestimento dos Estados Unidos
(American Recovery and Reinvestment Act ARRA), de fevereiro
de 2009, que destina US$ 80 bilhes para pesquisa, desenvolvimento
e implantao de energia limpa. Desse montante, cerca de US$ 30 bi-
lhes sero utilizados na concesso de incentivos fscais e US$ 50 bi-
lhes apropriados diretamente (IEA et al., 2012a). Entre os incentivos
fscais esto includos crditos tributrios decorrentes da produo
de energia renovvel, correspondentes a aproximadamente US$ 21
em crditos tributrios por megawatt-hora produzido. Cabe assinalar
que esses incentivos calculados sobre a produo j vinham sendo
concedidos desde 1999, sendo considerados como um dos fatores
responsveis pelo desenvolvimento da energia elica naquele pas
(IPCC, 2011). Tambm esto previstos crditos tributrios pelo in-
vestimento em tecnologias de energia renovvel, equivalentes a 30%
do investimento realizado. O empreendedor pode ainda optar por re-
ceber uma subveno direta, isto , recursos em dinheiro, no mesmo
valor dos crditos decorrentes de investimentos. Essa ltima opo
foi adotada porque, em perodos de crise econmica, os crditos tri-
butrios perdem parte de sua efccia. Esse mecanismo de incentivo
o programa federal de maior importncia para o crescimento de
instalaes fotovoltaicas nos Estados Unidos.
92
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
A lei de recuperao econmica permite tambm a utilizao de de-
preciao acelerada, de 50% no primeiro ano, nos projetos de energia
renovvel. So previstos ainda crditos tributrios para fabricantes de
componentes e sistemas para produo de energia limpa.
No que se refere a apropriaes diretas, a lei destina recursos para
programas relacionados s fontes renovveis, como concesso de
fnanciamentos e garantias, desenvolvimento de redes inteligentes
(smart grids), realizao de pesquisas e capacitao de mo de obra
(IEA et al., 2012b).
No nvel estadual, destacam-se as polticas de fxao de cotas mni-
mas de energia renovvel (Renewable Portfolio Standards). Essa siste-
mtica implica em se exigir dos fornecedores de energia eltrica que
obtenham um percentual mnimo de participao de fontes renov-
veis at determinada data. Alguns estados defnem a composio das
fontes que devero ser utilizadas para atingir o objetivo, enquanto ou-
tros deixam que o mercado decida. Um componente central dessa po-
ltica a utilizao de certifcados negociveis de energia eltrica de
origem renovvel, de modo que as empresas fornecedoras de energia
possam alcanar suas cotas por meio de gerao prpria renovvel ou
da aquisio dos certifcados de outros geradores. Atualmente, 33 es-
tados mais o Distrito de Colmbia possuem semelhantes sistemas de
cotas (IEA et al., 2012c). A sistemtica adotada pelo estado da Cali-
frnia uma das mais ambiciosas, estabelecendo para suas distribui-
doras de eletricidade a meta de 33% de participao de renovveis at
2020 (IEA et al., 2012d).Outro mecanismo difundido entre os estados
norte-americanos a medio diferencial (net-metering), atualmente
adotada por 44 unidades da federao (Aneel, 2011). Esse sistema
consiste na utilizao de medidores de consumo que registram, para
fns de faturamento, a diferena entre a energia consumida da rede
eltrica e a nela injetada devido gerao local.
5.5 China
A populao da China a maior do planeta e, em 2009, alcanava 1,331
bilho de pessoas, contando com um PIB de US$ 2,94 trilhes. Atual-
mente, o pas o maior consumidor de energia do mundo (IEA, 2011a).
93
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A estrutura de sua matriz energtica apresentada na Figura 5.12, onde
se observa a predominncia do carvo mineral. As fontes renovveis,
em 2009, contriburam com 12% da oferta primria de energia.
Figura 5.12 Oferta de energia primria na China (2009)
Fonte: IEA, 2012c
A China o maior produtor de energia hidreltrica no mundo. Em
2009, foram gerados 616 TWh, que contriburam com 16,7% da ele-
tricidade produzida no pas (IEA, 2011a). O pas tambm lder glo-
bal em energia elica, possuindo uma capacidade instalada de 62,4
GW (Tabela 4.9). Quanto energia solar trmica para aquecimen-
to de gua, a China a nao que possui a maior potncia trmica
instalada, de 101,5 GWt, sete vezes maior que a detida pelo segundo
colocado e 27 vezes superior capacidade brasileira. Alm disso, a
China o maior fabricante de painis fotovoltaicos, alcanando uma
participao de 55% do mercado mundial em 2010 (REN21, 2011).
Quanto poltica energtica, ressalte-se que, a partir de 2006, pas-
sou a vigorar a Lei de Energia Renovvel, posteriormente revisada
em 2009. De acordo com essa lei, os geradores de energia eltrica de-
vero obter uma licena administrativa para implantar os projetos.
No caso de haver mais de uma solicitao de licena para o mesmo
projeto, realizar-se- um processo licitatrio aberto. Uma vez obtida
a licena, o empreendedor ter garantidas a conexo rede eltrica e
a venda da energia produzida distribuidora, a preos pr-defnidos
94
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
(IEA et al., 2012e).As distribuidoras de eletricidade estaro tambm
obrigadas a garantir a compra de uma parcela mnima de eletricidade
produzida a partir de fontes renovveis (IEA, 2011f). Essas empresas
tambm devero contribuir para um fundo destinado a subsidiar as
energias renovveis, pagando um valor fxo por cada quilowatt-hora
que comercializarem (IEA, 2011g). Foram tambm previstas tarifas
feed-in para energia eltrica proveniente da biomassa, e sistemas fo-
tovoltaicos foram benefciados com subvenes diretas (IPCC, 2011).
O 12 Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econmico e Social da
Repblica Popular da China inclui metas compulsrias relacionadas
ao setor energtico, com a previso de que os combustveis no fsseis
atinjam 11,4% do consumo primrio de energia em 2015 (IEA et al.,
2012f).
Foi tambm aprovado no pas o 12 Plano Quinquenal para Energia
Renovvel, que inclui metas para diversas fontes renovveis. Para o
caso da energia elica, o objetivo atingir 100 GW de capacidade
instalada em 2015, sendo 70 GW provenientes de grandes projetos e
30 GW de projetos de pequena escala (GWEC, 2012b).
6. Energias renovveis no Brasil
6.1 Matriz energtica nacional
De acordo com o Boletim Mensal de Energia, referente a dezembro
de 2011, publicado pelo Ministrio de Minas e Energia, a participao
das fontes renovveis na oferta de energia brasileira, ao fnal de 2011,
era de 44%.
Observa-se que ocorreu uma pequena queda da parcela correspon-
dente a essas fontes renovveis em relao a 2010, quando atingiram
45,2% da oferta energtica. Tal reduo refetiu a quebra de safra da
cana-de-acar em 2011 (MME, 2012). A evoluo da participao
das fontes renovveis nos ltimos dez anos apresentada na fgura
que segue.
95
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 6.1 Participao das fontes renovveis na oferta de
energia primria
Fontes: EPE, 2011a, e MME, 2012
A quantidade de energia ofertada no Brasil em 2011 foi de 272,1 mi-
lhes de toneladas equivalentes de petrleo TEP (MME, 2012), va-
lor 40,3% superior de 2001, que foi de 193,9 TEP. A contribuio
relativa de cada uma das fontes primrias para a oferta de energia no
Brasil em 2011 mostrada na Figura 6.2, onde se verifca que a mais
utilizada pelo pas ainda o petrleo.
Figura 6.2 Composio da oferta de energia primria no Brasil (2011)
Fonte: MME, 2012
96
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Entretanto, a participao relativa do petrleo na matriz energtica
brasileira vem regredindo nos ltimos anos, passando de 45,4% em
2001 para 39,1% em 2011, o que representou uma queda de 14% no
perodo. Em 2010, a principal destinao do petrleo consumido no
pas foi para o setor de transporte (53%), seguido do consumo no
energtico (14%) e do industrial (12%) (EPE, 2011a). Destaca-se,
ainda, que o Brasil, em 2001, importava 22,5% do que consumia em
petrleo e derivados, enquanto, em 2010, sua produo foi 1,3% su-
perior ao consumo.
Em relao ao gs natural, ocorreu um grande aumento de partici-
pao relativa, que passou de 6,5%, em 2001, para 10,1%, em 2011.
A importao desse energtico correspondeu a 44% do consumo. As
principais atividades consumidoras desse energtico so a indstria e
a gerao de energia eltrica.
A participao do carvo mineral passou de 6,9%, em 2001, para
5,3%, em 2010. Destina-se, principalmente, indstria siderrgica,
que utiliza o tipo metalrgico, totalmente importado. O carvo vapor,
cuja origem 91% nacional, utilizado, essencialmente, para a gera-
o de energia eltrica.
O urnio tem apresentado uma queda relativa na matriz energtica
brasileira, passando de 2%, em 2001, para 1,4%, em 2010. Seu consu-
mo somente dever se elevar, em valores absolutos, aps a entrada em
operao da usina Angra 3, o que est programado para o fnal de 2015.
A energia hidrulica, por sua vez, tem mantido sua participao rela-
tiva constante nos ltimos dez anos, em uma faixa entre 14% e 15%, e
destina-se produo de energia eltrica.
A participao da lenha e carvo vegetal tambm vem se reduzindo,
passando de 11,6%, em 2001, para 9,5% em 2011. Da lenha produzida
em 2010, 34,6% foi usada para a produo de carvo vegetal. Ou-
tros setores que so grandes consumidores de lenha so o residencial
(27,9%), o industrial (27,5%) e o agropecurio (9,7%). O carvo ve-
getal, por sua vez, consumido principalmente pelo setor industrial
(87%), com destaque para a produo de ferro gusa e ao.
97
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Os produtos da cana, por outro lado, vm apresentando crescimento
relativo. A contribuio para a oferta primria passou de 11,8%, em
2001, para 17,8%, em 2010, o que quer dizer que seu espao aumen-
tou em 51% nesse perodo. Em 2011, como j mencionado, houve
uma quebra de produo e a participao desses produtos caiu para
15,7%. O consumo energtico dos produtos da cana foi composto, em
2010, pelo bagao (70%) e pelo lcool etlico (30%), utilizado em sua
maior parte (90%) pelo setor de transporte rodovirio.
As demais fontes renovveis indicadas na Figura 6.2, cuja participa-
o na oferta interna de energia passou de 2,4%, em 2001, para 4,0%,
em 2011, incluem a elica, a lixvia (licor negro) e as matrias-primas
para a produo de biodiesel.
Portanto, as fontes renovveis de energia, no Brasil, so utilizadas
principalmente para a produo de energia eltrica e pelo setor de
transportes, por meio dos biocombustveis, etanol e biodiesel. Por li-
mitao de escopo, este trabalho no abranger o estudo dos biocom-
bustveis. Sendo assim, a ateno principal ser focada na produo
de energia eltrica a partir de fontes renovveis.
6.2 Leis sobre fontes renovveis no Brasil (setor eltrico)
Para melhor compreenso da legislao acerca das fontes renovveis
de energia no setor eltrico brasileiro, cabe examinar, inicialmente, os
ditames constitucionais acerca do tema.
A Constituio de 1988 estabelece que os potenciais de energia hi-
drulica so bens da Unio (artigo 20, inciso VIII). Alm disso, deter-
mina que compete Unio explorar, diretamente ou mediante auto-
rizao, concesso ou permisso, os servios e instalaes de energia
eltrica e o aproveitamento energtico dos cursos de gua (artigo 22,
inciso XII, alnea b).
O artigo 175 dispe que incumbe ao poder pblico, na forma da lei, di-
retamente ou sob regime de concesso ou permisso, sempre atravs de
licitao, a prestao de servios pblicos, entre os quais inclui-se o de
distribuio de energia eltrica. O artigo 22 da Lei Maior, por sua vez,
estabelece que compete exclusivamente Unio legislar sobre energia.
98
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Portanto, a partir dessas regras bsicas, que reservam papel de des-
taque Unio, foi defnido o arcabouo legal que rege o setor eltri-
co brasileiro.
A principal norma que disciplina a contratao de fontes de energia
eltrica para suprimento do mercado nacional a Lei n 10.848, de
15 de maro de 2004, que estabeleceu dois ambientes de contratao
distintos: o livre e o regulado, tambm chamado de mercado cativo.
O ambiente de contratao livre objetiva o atendimento da demanda
de energia dos chamados consumidores livres, que so aqueles que
podem optar por contratar seu fornecimento, no todo ou em parte,
com produtor independente de energia eltrica, no estando obri-
gados a adquirir sua energia da concessionria local de distribuio.
So, geralmente, os grandes consumidores de energia eltrica. Nes-
se ambiente de contratao, o preo e as condies de fornecimento
so negociados livremente entre os compradores e vendedores. No
mercado livre existe tambm a fgura do comercializador de energia
eltrica, que, uma vez autorizado pela Aneel, pode celebrar contratos
de compra e venda de energia eltrica com quaisquer outros agentes
participantes do mercado livre.
A maior parte dos consumidores, todavia, constitui o mercado regu-
lado, ou cativo, e esto obrigados a adquirir a energia eltrica de que
necessitam da concessionria local de distribuio.
No ambiente de contratao regulada, as empresas distribuidoras de
energia eltrica devem garantir o atendimento totalidade de seu mer-
cado por meio de licitaes, que devem ter, como critrio de seleo
das propostas vencedoras, o menor custo total de gerao. Excees
na aplicao dessa sistemtica so os contratos que j estavam em vi-
gor quando da implementao da Lei n 10.848/2004, bem como para
o caso da contratao de energia das usinas eletronucleares de Angra
1 e 2 e da hidreltrica de Itaipu. Duas outras excees referem-se s
usinas enquadradas no Programa de Incentivo s Fontes Alternati-
vas de Energia Eltrica Proinfa e de empreendimentos classifcados
como gerao distribuda, que sero abordados mais adiante.
99
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Sero apresentados a seguir os dispositivos legais vigentes que pro-
curam incentivar s fontes alternativas renovveis, no estando in-
cludos aqueles referentes ao aproveitamento dos grandes potenciais
hidreltricos, uma vez que se trata de tecnologia j madura, sendo
hoje a mais competitiva no Brasil.
Inicialmente, cabe ressaltar que a Lei n 5.655, de 20 de maio de 1971,
em seu artigo 4, prev a destinao de recursos da Reserva Global de
Reverso (RGR) que um encargo pago pelas empresas de ener-
gia eltrica para instalaes de produo a partir de fontes elica,
solar, de biomassa e de pequenas centrais hidreltricas. A lei tambm
determina que a Eletrobrs institua programa de fomento para a uti-
lizao de equipamentos, de uso individual e coletivo, destinados
transformao de energia solar em energia eltrica.
J o artigo 26 da Lei n 9.427, de 26 de dezembro de 1996, inclui di-
versas disposies que favorecem as fontes alternativas renovveis.
Permite a utilizao do regime de autorizao para o aproveitamento
de potencial hidrulico de potncia superior a 1 000 kW e igual ou
inferior a 30 000 kW, destinado a produo independente ou autopro-
duo, mantidas as caractersticas de pequena central hidreltrica. A
vantagem dessa regra reside no fato de que os procedimentos de auto-
rizao so mais simples que aqueles aplicados s concesses, que so
outorgadas mediante licitao. O mesmo artigo tambm institui des-
contos nas tarifas de transmisso e distribuio, no inferiores a 50%,
para as pequenas centrais hidreltricas, para os empreendimentos hi-
droeltricos com potncia igual ou inferior a 1 000 kW e para aqueles
com base em fontes solar, elica, biomassa e co-gerao qualifcada
cuja potncia injetada nos sistemas de transmisso ou distribuio
seja menor ou igual a 30 000 kW. Tambm isenta todas as PCHs do
pagamento da compensao fnanceira pela explorao dos recursos
hdricos para fns de gerao de energia eltrica. Alm disso, estabe-
lece que as PCHs, os empreendimentos hidroeltricos com potncia
igual ou inferior a 1 000 kW e aqueles com base nas fontes solar e
elica, na biomassa e na co-gerao qualifcada cuja potncia injetada
nos sistemas de transmisso ou distribuio seja menor ou igual a
50 000 kW podero comercializar energia eltrica com consumidor
100
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
ou conjunto de consumidores, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW,
se atendidos pelo Sistema Interligado Nacional SIN, ou maior ou
igual a 50 kW quando o consumidor ou conjunto de consumidores
estiverem situados em reas atendidas por sistemas isolados.
A Lei n 9.074, de 7 de julho de 1995, por seu turno, estabelece que
o aproveitamento de potenciais hidrulicos, iguais ou inferiores a
1 000 kW, e a implantao de usinas termeltricas de potncia igual
ou inferior a 5 000 kW esto dispensados de concesso, permisso ou
autorizao, devendo apenas ser comunicados ao poder concedente.
J a Lei n 9.478, de 6 de agosto de 1997, em seu artigo 1, incluiu
entre os objetivos da poltica energtica nacional a utilizao de
fontes alternativas de energia, mediante o aproveitamento econ-
mico dos insumos disponveis e das tecnologias aplicveis. Essa lei,
em seu artigo 2, tambm atribuiu ao Conselho Nacional de Poltica
Energtica (CNPE) a tarefa de rever periodicamente as matrizes
energticas aplicadas s diversas regies do pas, considerando as
fontes convencionais e alternativas e as tecnologias disponveis, bem
como de estabelecer diretrizes para programas especfcos, como os
de uso da energia solar, da energia elica e da energia proveniente de
outras fontes alternativas.
A Lei n 9.648, de 27 de maio de 1998, por sua vez, prev que a ge-
rao de energia eltrica a partir de PCHs ou de fontes elica, solar,
de biomassa e de gs natural, que venha a ser implantada em sistema
eltrico isolado e substitua a gerao termeltrica que utilize derivado
de petrleo ou desloque sua operao para atender ao incremento do
mercado poder receber recursos da Conta de Consumo de Combus-
tveis (CCC), destinada a ressarcir os custos adicionais de gerao de
eletricidade nos sistemas isolados. Cabe aqui observar que a redao
do inciso I do 4 dessa lei no incluiu entre os benefcirios da sub-
rogao do direito de recebimento de recursos da CCC os empreen-
dimentos hidroeltricos com potncia igual ou inferior a 1 000 Kw.
No caso da Lei n 9.991, de 24 de julho de 2000, o incentivo s fon-
tes alternativas d-se pela iseno da obrigao de investir um mon-
tante mnimo correspondente de 1% da receita operacional lquida
101
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
concedida s empresas que gerem energia a partir das fontes elica,
solar, biomassa e pequenas centrais hidreltricas.
Outro diploma legal que apresenta importantes medidas em favor das
fontes alternativas de energia eltrica a Lei n 10.438, de 26 de abril
de 2002. Seu artigo 3 instituiu o Programa de Incentivo s Fontes
Alternativas de Energia Eltrica Proinfa, enquanto o artigo 13 criou
a Conta de Desenvolvimento Energtico (CDE), que tem como um
de seus objetivos aumentar a competitividade da energia produzida a
partir de fontes elica, pequenas centrais hidreltricas e biomassa nas
reas atendidas pelos sistemas interligados.
Em relao Lei n 10.847, de 15 de maro de 2004, que autorizou
a criao da Empresa de Pesquisa Energtica EPE, de se ressaltar
que, entre as competncias dessa empresa pblica, esto vrias atri-
buies relacionadas s fontes alternativas de energia, como identi-
fcar e quantifcar os potenciais de recursos energticos; desenvolver
estudos de impacto social, viabilidade tcnico-econmica e socio-
ambiental para os empreendimentos de energia eltrica e de fontes
renovveis; desenvolver estudos para avaliar e incrementar a utiliza-
o de energia proveniente de fontes renovveis; elaborar e publicar
estudos de inventrio do potencial de energia eltrica proveniente
de fontes alternativas.
Disposies importantes acerca das fontes alternativas renovveis de
energia eltrica tambm constam da Lei n 10.848/2004. A norma pre-
v, em seu artigo 2, a participao de fontes alternativas nas licitaes
para suprimento das distribuidoras atendidas pelo SIN e permite que
essas empresas adquiram energia eltrica proveniente de gerao dis-
tribuda. A lei prev tambm a contratao de reserva de capacidade de
gerao (artigos 3 e 3-A), mecanismo que tem sido utilizado para a
contratao de fontes alternativas de energia. Ressalte-se que o Decreto
n 5.163, de 30 de julho de 2004, defniu a gerao distribuda como a
produo de energia eltrica proveniente de empreendimentos conec-
tados diretamente no sistema eltrico do agente de distribuio com-
prador. Essa energia, porm, no poder ser produzida em empreen-
dimento hidreltrico com capacidade instalada superior a 30 MW ou
termeltrico, inclusive de co-gerao, com efcincia energtica inferior
102
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
a setenta e cinco por cento. Todavia, os empreendimentos termeltricos
que utilizem biomassa ou resduos de processo como combustvel
no estaro limitados a esse percentual de efcincia energtica. A
contratao de energia eltrica proveniente de empreendimentos de
gerao distribuda dever ser precedida de chamada pblica promovi-
da diretamente pelo agente de distribuio. Observa-se, entretanto, que
as concessionrias de distribuio de energia eltrica no tm utilizado
esse mecanismo para a aquisio de volumes considerveis de energia
eltrica. Alm disso, o valor mximo de remunerao para os gerado-
res que comercializarem energia nessa modalidade o Valor Anual de
Referncia previsto no artigo 34 do Decreto n 5.163, de 2004, que cor-
responde mdia do custo da energia adquirida por meio dos leiles de
contratao de energia eltrica para suprimento das distribuidoras do
Sistema Interligado Nacional.
Quanto utilizao da energia solar para o aquecimento de gua, a Lei
n 11.977, de 7 de julho de 2009, que dispe sobre o Programa Minha
Casa, Minha Vida, em seu artigo 82, autoriza o custeio, no mbito do
programa, da aquisio e instalao de equipamentos de energia solar.
Ressalte-se que o principal mecanismo utilizado internacionalmente
para promover a expanso de aquecimento solar de gua so exign-
cias de implantao desses sistemas por meio de normas de edifcao.
No Brasil, entretanto, semelhantes medidas envolvem normas de ca-
rter local, cuja legislao de competncia municipal, de acordo com
a Constituio Federal (artigo 30, inciso I). Portanto, para incentivar
essa fonte limpa e vivel economicamente no pas, a legislao federal
precisar adotar outros instrumentos, como a oferta de fnanciamento
para aquisio dos equipamentos, alm de outros incentivos, como,
por exemplo, a concesso de descontos nas tarifas de energia eltrica,
pelos benefcios que os aquecedores solares trazem para o sistema el-
trico, como ser abordado mais adiante neste trabalho.
No que se refere ao fnanciamento das fontes alternativas renovveis
de energia no Brasil, verifca-se a carncia de linhas de fnanciamen-
to adequadas para a gerao descentralizada em pequena escala. O
Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES,
maior banco de fomento do Brasil, por exemplo, possui uma linha de
103
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
apoio s energias alternativas, mas o valor mnimo de fnanciamento
de R$ 10 milhes
5
.
Por fm, observa-se que a Lei n 12.111, de 9 de dezembro de 2009,
estabelece, para os sistemas isolados, sistemtica de contratao de
energia semelhante prevista para o sistema interligado, que poder
incluir as fontes renovveis, de acordo com diretrizes do Ministrio
de Minas e Energia.
No que se refere produo de energia eltrica de forma descentra-
lizada por instalaes de pequeno porte, cabe mencionar legislao
infra-legal recentemente aprovada pela Aneel. Trata-se da Resoluo
n 482/2012, que cria sistema de compensao de energia eltrica.
Por meio desse mecanismo, os consumidores que instalarem peque-
nas unidades de produo de energia eltrica, de at 1 000 kW de
capacidade, utilizando fontes renovveis ou co-gerao qualifcada,
podero abater a energia que injetarem na rede eltrica da energia
que dela absorverem, sendo que o excedente no compensado gerar
crditos vlidos por at 36 meses. A norma prev, portanto, a ado-
o de um sistema de medio diferencial de energia, denominado de
net-metering na bibliografa internacional. No sistema adotado pela
Aneel, os custos de adequao do sistema de medio sero imputa-
dos aos consumidores e cada fatura mensal dever apresentar um va-
lor positivo mnimo, correspondente a um custo de disponibilidade.
Destaque-se que essa resoluo representa um avano no incentivo
gerao distribuda. No entanto, no incorpora os mesmos benefcios
que j so oferecidos na legislao internacional, pelo reconhecimen-
to das vantagens desse tipo de gerao. Cabe assinalar, por exemplo,
que a energia excedente fornecida rede eltrica ser efetivamente
vendida pela distribuidora para outras unidades consumidoras, ge-
rando, portanto, uma receita. Assim, o fato de haver um valor positi-
vo mnimo da fatura e de expirarem os crditos no utilizados, impli-
ca dizer que as distribuidoras podero se apropriar de toda a receita
referente aos crditos que perderem a validade, sem que o gerador
5
Conforme conta do stio www.bndes.gov.br, consultado em 18/4/2012.
104
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
receba a devida contraprestao pela sua produo. Alm disso, mes-
mo que o consumidor acabe por utilizar os crditos, o perodo de 36
meses de validade poder signifcar que as unidades consumidoras
acabaro por fnanciar as distribuidoras por um longo perodo, isto ,
as distribuidoras auferiro receita imediatamente pelo excedente de
gerao, enquanto a utilizao dos crditos ser diferida.
6.3 Energia eltrica
No que se refere gerao de energia eltrica no Brasil, observa-se
uma predominncia das fontes renovveis, cuja participao foi de
85,6%, em 2010, conforme mostra a fgura seguinte.
Figura 6.3 Oferta interna de energia eltrica (2010)
Fonte: EPE, 2011a
Destaca-se que, no planejamento energtico brasileiro atual, consoli-
dado por meio do Plano Nacional de Expanso de Energia 2020 PDE
2020 (EPE, 2011a), considera-se o acrscimo de novas termeltricas
a combustveis fsseis at o ano de 2013, por j estarem contratadas
por meio de leiles de energia j realizados. A partir de ento, o PDE
2020 no prev novos empreendimentos movidos a combustveis fs-
seis, pois avalia que a expanso por intermdio de fontes renovveis
mostra-se mais apropriada, sob o aspecto ambiental e tambm pela
tica da modicidade tarifria.
105
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
6.3.1 Energia hidrulica
A principal fonte de eletricidade no Brasil a hidrulica, que respondeu,
em 2010, com 80,5% da oferta interna de eletricidade de 545,1 TWh.
A parcela de origem hidrulica considera a produo nacional de
377 TWh hidreltricos, alm da importao lquida de 35,9 TWh, pro-
veniente da parte paraguaia da Usina de Itaipu e, uma pequena parcela,
originria da Venezuela, para suprimento do Estado do Amap. Essa
elevada participao da energia hidrulica na produo de energia el-
trica a segunda maior do mundo, fcando atrs apenas da Noruega.
De acordo com o Banco de Dados de Gerao da Agncia Nacional de
Energia Eltrica (Aneel, 2012), a capacidade instalada em usinas hidre-
ltricas no Brasil de 82,4 GW. So 977 aproveitamentos, sendo:
181 usinas hidreltricas, de capacidade instalada superior a
10 MW, que, juntas, somam 78,3 GW;
423 Pequenas Centrais Hidreltricas (PCHs), de capacidade
superior a 1 MW at 30 MW, cujo conjunto de usinas totaliza
3,9 GW; e
373 Centrais Geradoras Hidreltricas (CGHs), com capacidade
inferior a 1 MW, que, somadas, alcanam 0,22 GW.
Observa-se, portanto, que a base da gerao hidreltrica de gran-
des usinas, que respondem por 95% da capacidade instalada. Esses
empreendimentos de grande porte, que comearam a ser explorados
a partir do fnal da dcada de cinquenta do sculo passado contribu-
ram decisivamente para o desenvolvimento industrial brasileiro. Hoje
o Brasil detm grande conhecimento tcnico em relao construo
dessas usinas, que apresentam o menor custo por unidade de energia
produzida, frequentemente inferior a R$ 100,00 por MWh. As usinas
hidreltricas de Belo Monte (11 233 MW) e Teles Pires (1 820 MW),
por exemplo, venderam energia para o mercado regulado por R$ 78,97
por MWh e R$ 58,35 por MWh, respectivamente.
Os grandes empreendimentos, no entanto, possuem o inconveniente
de, muitas vezes, necessitarem da construo de grandes sistemas de
transmisso, que so dispendiosos e acarretam perdas de energia.
106
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Alm disso, alagam reas produtivas e de importncia sob o aspecto
da biodiversidade, podendo tambm inundar locais habitados, o que
exige a transferncia da populao atingida para outros locais. Atual-
mente, conciliar o benefcio da produo de energia com os impactos
ambientais e sociais adversos tem sido o maior desafo enfrentado
para a implantao de grandes projetos hidreltricos no Brasil.
Quanto ao planejamento energtico, o PDE 2020 (EPE, 2011c) con-
sidera que a capacidade de gerao hidrulica atingir 115 GW em
2020, apontando, assim, um crescimento de 40% at o fm do hori-
zonte de planejamento. Apesar desse crescimento, a participao re-
lativa da capacidade instalada em hidreltricas dever cair de 75,7%
em 2010 para 67,3% em 2020. So previstos 23,6 GW provenientes de
empreendimentos j contratados e 8,6 GW de aproveitamentos indi-
cativos, cujos estudos esto em fase de concluso. A maior parte dessa
expanso ocorrer na regio Norte, com destaque para as usinas mos-
tradas na tabela que se segue.
Tabela 6.1 Grandes hidreltricas previstas para a regio Norte
Aproveitamento Potncia (MW) Previso de operao
Santo Antnio 3 150 2012
Jirau 3 300 2013
Belo Monte 11 233 2015
Teles Pires 1 820 2015
Total 19 503 -
Fonte: PDE 2020
As pequenas centrais hidreltricas, por sua vez, representam 4,7% da
capacidade de gerao hidreltrica no Brasil, com 3,9 GW instalados.
Possuem a vantagem de apresentar menores impactos ambientais e
sociais por empreendimento instalado. Todavia, no momento, essas
usinas tm enfrentado difculdades em competir no mercado de ge-
rao de energia no Brasil, especialmente pela elevao dos preos de
equipamentos e insumos para sua construo.
O PDE 2020 (EPE, 2011c) estima que a capacidade instalada em PCHs
em 2020 atingir 6,4 GW, representando, portanto, um acrscimo de
66% em relao ao parque gerador atual.
107
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
As CGHs, por outro lado, respondem por apenas 0,3% da capacidade
instalada em hidreltricas, ou seja, 0,22 GW. Lembrando que a China,
conforme mencionado no item 5.5, possui mais de 45 000 aproveita-
mentos hidreltricos de pequena escala, cuja capacidade total chega a
55 GW, equivalente a 26% de toda sua capacidade instalada, observa-se
que o Brasil ainda tem muito que avanar na criao de um ambiente
institucional favorvel a esse tipo de gerao descentralizada.
A construo desses pequenos aproveitamentos pode contribuir para
o fornecimento de energia a menor custo em reas rurais, especial-
mente as isoladas. Quando conectadas aos grandes sistemas eltricos,
podem contribuir para melhorar a qualidade do suprimento na ponta
fnal das redes de distribuio rural. Alm disso, a disseminao de
sua utilizao pode gerar um mercado de equipamentos e de trabalho
capaz de produzir maior desconcentrao de renda e maior desenvol-
vimento nas regies rurais do Brasil. Apesar disso, essa modalidade
de gerao hidrulica sequer citada no PDE 2020, o que no de se
estranhar, pois no existe em vigor no pas um mecanismo que favo-
rea a produo de energia eltrica por meio de aproveitamentos de
capacidade inferior a 1 MW.
Quando aos recursos hidrulicos existentes no Brasil, o Balano Ener-
gtico Nacional 2011 BEN 2011 (EPE, 2011a) defne o potencial hi-
dreltrico como o potencial possvel de ser tcnica e economicamente
aproveitado nas condies atuais de tecnologia, medido em termos
de energia frme, que a gerao mxima contnua na hiptese de
repetio futura do perodo hidrolgico crtico. Em conformidade
com esse critrio, a publicao apresenta o potencial hidreltrico bra-
sileiro como equivalente a 133,85 GW, composto por 102,08 GW j
aproveitados ou inventariados e 31,77 GW estimados. Esse potencial
corresponde a 241,82 GW de capacidade instalada, considerando-se
um fator de capacidade de 55%. Assim, considerando a capacidade
instalada de 82,4 GW, conclui-se que j foram aproveitados 34% do
potencial hidreltrico atualmente conhecido.
Todavia, conforme assinala Castro et al., 2010, a tendncia que a ex-
panso do parque hidreltrico brasileiro se dar por meio de usinas
sem reservatrios de grande porte, o que reduzir a capacidade de
108
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
regularizao da disponibilidade de energia. Isso porque a construo
de grandes reservatrios de regularizao tornou-se difcil em razo
de restries ambientais. Essa tendncia reforada pelo fato de que
59% do potencial hidreltrico ainda no aproveitado esto situados na
Regio Amaznica (Tolmasquim, 2011a), em que o relevo normalmen-
te mais plano requer maior alagamento por unidade de energia armaze-
nada e onde existe grande nmero de unidades de conservao e reas
indgenas. Para ilustrar essa questo, o PDE 2020 (EPE, 2011c) informa
que, de 2002 a 2020, previsto um crescimento de 140% da carga eltri-
ca do Sistema Interligado Nacional SIN, enquanto a capacidade de ar-
mazenamento dever aumentar em apenas 30% no perodo. impor-
tante destacar tambm que a variao sazonal da vazo dos rios, entre
a poca de chuva e de seca, mais pronunciada na regio Norte. Como
exemplo, a Figura 6.4 mostra a variao da Energia Natural Afuente
(ENA) nas regies Norte e Sudeste, em 2011, conforme dados do Ope-
rador Nacional do Sistema Eltrico ONS. Observa-se que, enquanto
no Sudeste a maior energia afuente mensal foi cinco vezes superior
menor, no Norte, a maior ENA mensal foi dezessete vezes superior
menor afuncia mensal. Portanto, esse quadro de reduo relativa da
capacidade de armazenamento somada maior variao sazonal dos
regimes hidrolgicos das novas usinas da regio Norte, implicar a ne-
cessidade de maior complementao da gerao hidreltrica durante
o perodo seco. Assim, de grande interesse para o Brasil aproveitar
outras fontes renovveis para a realizao dessa complementao.
Figura 6.4 Variao da Energia Natural Afuente nas regies
Norte e Sudeste (2011)
Fonte: ONS
109
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
6.3.2 Eletricidade da biomassa
A biomassa contribuiu com 4,7% da oferta interna de energia eltri-
ca no Brasil em 2010, tendo sido produzidos 25,1 TWh. Desse total,
64% originaram-se do bagao de cana, 29% da lixvia (subproduto da
indstria de papel e celulose). A maior parte dessa produo (mais de
90%) foi destinada para o autoconsumo (EPE, 2011a). Quanto capa-
cidade instalada, esto registrados no Banco de Dados de Gerao da
Aneel (Aneel, 2012) 431 unidades de gerao a biomassa, com uma
capacidade de 9,0 GW, representando 7,2% da capacidade de gerao
do Brasil. A capacidade instalada decomposta por matria-prima uti-
lizada apresentada na Figura 6.5.
Figura 6.5 Capacidade instalada em usinas a biomassa no Brasil
Fonte: Aneel, 2012
6.3.2.1 Bagao de cana-de-acar
A maior parte das usinas a biomassa no Brasil utiliza o bagao de cana-
de-acar como combustvel. So 348 usinas, que somam 7 268 MW de
potncia instalada, que contribuem com 81% da capacidade de produ-
o de eletricidade a partir da biomassa e 5,8% do parque de gerao do
pas. A capacidade mdia de cada usina de 21 MW, mas a maior usina
possui 111 MW de capacidade instalada. Essas geradoras de energia
eltrica esto, normalmente, associadas s usinas de cana-de-acar,
que fabricam etanol e acar, queimando o bagao para a gerao de
calor para o processo produtivo e energia eltrica. Portanto, a gerao
110
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
de eletricidade a partir do bagao est, em geral, associada a grandes
projetos industriais, que envolvem considerveis investimentos.
A gerao de energia eltrica a partir do bagao de cana de grande
interesse para o sistema eltrico brasileiro, pelo carter complementar
gerao hidreltrica. Essas usinas produzem apenas nos meses de
processamento da safra de cana-de-acar, que, naquelas localizadas
na regio centro-sul, ocorre entre os meses de abril e novembro, justa-
mente o perodo de menor oferta de energia hidreltrica (Figura 6.6).
Figura 6.6 Complementaridade entre o regime hdrico e a oferta
de bagao da cana
Fonte: Nyco, 2011
Todavia, segundo a Unio da Indstria de Cana-de-Acar (Unica),
das 432 usinas de cana-de-acar em atividade, apenas cem unida-
des exportam energia para a rede eltrica. Em 2010, foram expor-
tados 1 002 MW mdios (Unica, 2011a), apesar de um potencial
de 3 358 MW mdios. Uma parcela importante desse potencial no
aproveitado devidamente pelo sistema eltrico de usinas antigas, que
utiliza caldeiras de baixa presso e menor rendimento energtico. Es-
sas usinas, se instalarem unidades de co-gerao efcientes, podero
obter excedentes de energia para venda rede eltrica.
Estima-se o potencial de produo de eletricidade a partir do bagao
da cana para 2020 como sendo de 13 158 MW mdios, que corres-
ponderiam a 26 315 MW de capacidade instalada (Castro et al., 2010).
O Plano Decenal de Expanso de Energia (EPE, 2011c) todavia in-
forma que, de 2011 a 2013, novos empreendimentos com capacidade
111
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
de 2 185 MW de gerao a partir da biomassa, essencialmente bagao
de cana, j esto contratados por meio de leiles de energia para su-
primento s distribuidoras de energia eltrica do Sistema Interligado
Nacional SIN. Esse plano considera ainda que, at 2020, a capacida-
de instalada de energia da biomassa, sem considerar a autoproduo,
alcanar 9 163 MW. Portanto, apesar de existirem algumas questes
que difcultam o pleno aproveitamento dessa fonte renovvel, o me-
canismo dos leiles existente vem permitindo a insero da fonte no
mercado brasileiro de energia eltrica.
6.3.2.2 Lixvia
A lixvia, ou licor negro, um subproduto do processo de produo
de celulose, sendo queimado em caldeira, por essa indstria, para a
produo de vapor e eletricidade para o prprio consumo.
De acordo com a Aneel, existem hoje 14 usinas termeltricas movi-
das a licor negro, com a capacidade instalada de 1 245 MW e uma
potncia mdia de 89 MW por usina. Essas usinas representam 14%
da capacidade instalada em biomassa e 1,0% do parque gerador de
energia eltrica no Brasil.
6.3.2.3 Resduos de madeira
Existem hoje em operao no Brasil 38 usinas termeltricas que utili-
zam resduos de madeira como combustvel, que, em conjunto, pos-
suem uma capacidade instalada de 320 MW (Aneel, 2012).
A potncia mdia por usina de 8,4 MW, mas esto registradas uni-
dades de gerao de capacidade variando desde 27 kW at 53 480 kW.
Ressalte-se que as usinas de maior porte, se tiverem interesse em for-
necer energia eltrica rede, podem se utilizar do mecanismo de lei-
les de energia para suprimento das concessionrias de distribuio
de eletricidade, ou negociarem contratos bilaterais no mercado livre.
Todavia, essas opes no se aplicam s pequenas usinas, uma vez que
os custos dessa comercializao no so compatveis com as receitas
que podem ser por elas auferidas pela venda de sua energia.
Destaca-se que um empreendimento que utiliza resduos de madeira,
que possui 30 MW de capacidade, negociou a venda de energia em
112
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
leilo de reserva realizado em 2011 a preo bastante competitivo, de
R$ 101,99 por MWh, mesma faixa de preo da energia oferecida pelos
projetos elicos e por muitas usinas hidreltricas.
Cabe ressaltar que, no primeiro leilo para contratao de energia
eltrica nos Sistemas Isolados, foram negociados pouco mais de 8,1
MW mdios por trs empreendimentos, que utilizaro resduos de
madeira como combustvel e vendero energia para as distribuidoras
Celpa, no Estado do Par, e CERR, em Roraima. O preo da energia
negociada no certame variou de R$ 148,50 MWh (reais por mega-
watt-hora) a R$ 149,00 MWh.
6.3.2.4 Biogs
Esto registrados na Aneel dezoito empreendimentos de gerao de
energia a partir do biogs, que possuem uma capacidade instalada
total de 76 MW. A potncia mdia de cada usina de 4,2 MW. Entre-
tanto, assim como para o caso dos resduos de madeira, o tamanho
dos projetos bastante varivel, com a capacidade instalada variando
de 20 kW a 21 560 kW. Oito unidades possuem capacidade instalada
maior que 1 400 kW. As maiores usinas utilizam biogs provenien-
te de resduos slidos urbanos das grandes metrpoles brasileiras.
As outras dez geradoras, que so de pequena escala, com capacida-
de igual ou inferior a 160 kW, no dispem de um mecanismo na-
cional de incentivo para a venda de energia eltrica para a rede de
distribuio. Nesta faixa constam projetos de produo de biogs a
partir de esgotos sanitrios e de resduos agropecurios, como de-
jetos de sunos, por exemplo. Todavia, a Companhia Paranaense de
Energia Eltrica Copel realiza a experincia de adquirir energia de
seis projetos geradores de energia eltrica com biogs e saneamento
ambiental localizados no oeste do Paran, com apoio de Itaipu. O pre-
o recebido por esses geradores de R$ 135,55 por megawatt-hora,
equivalente ao Valor Anual de Referncia previsto no artigo 34 do
Decreto n 5.163, de 2004 (Bley Jr., 2011). Esse valor corresponde
mdia do custo da energia adquirida por meio dos leiles de energia
eltrica, o que implica que a energia adquirida do biogs, produzida
113
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
em pequena escala, adquirida pelo preo mdio da proveniente dos
grandes empreendimentos de gerao.
6.3.2.5 Casca de arroz
So oito unidades de gerao de energia eltrica a partir de casca de
arroz, que perfazem uma capacidade instalada de 32,6 MW. A po-
tncia mdia de 4,1 MW por usina, todas com capacidade superior
a 1 MW. Cinco usinas esto situadas no Rio Grande do Sul, com os
Estados de Santa Catarina, Mato Grosso e Roraima recebendo, cada
um, uma geradora.
6.3.2.6 Capim elefante
Duas usinas em operao produzem energia eltrica a partir do capim
elefante. Uma, com capacidade de 30 MW est situada no Estado da
Bahia, enquanto outra, com capacidade de 1,5 MW, opera no Estado
do Amap. Entretanto, trs outros empreendimentos esto em cons-
truo e, em conjunto, acrescentaro 53,6 MW de capacidade de gera-
o dois com potncia de 9,8 MW e um com capacidade prevista de
34 MW. Portanto, at o momento, essa gerao utilizando biomassa
realizada em projetos que demandam maiores investimentos e esto
aptos a utilizarem os mecanismos disponveis para comercializao
de maiores blocos de energia eltrica. Um dos projetos, de 30 MW
de capacidade, negociou a venda de eletricidade s distribuidoras do
Sistema Interligado Nacional SIN por meio do 1 Leilo de Energia
de Reserva, ocorrido no ano de 2009.
6.3.2.7 Carvo vegetal
Trs usinas situadas no municpio de Aailndia, no Estado do Ma-
ranho, compem o parque gerador a carvo vegetal. A potncia ins-
talada total de 25,2 MW, e a menor das unidades tem a capacidade
de 7,2 MW.
6.3.2.8 leo de palmiste
Duas usinas que produzem eletricidade a partir de leo de palmiste
com capacidades instaladas de 1,6 MW e 2,7 MW esto registradas
114
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
na Aneel, ambas localizadas no Estado do Par, sendo de propriedade
de uma mesma indstria alimentcia.
6.3.3 Energia elica
A energia elica tem apresentado expressivo crescimento nos ltimos
anos no Brasil. A produo, em 2010, de 2,18 TWh, representou ape-
nas 0,4% da oferta interna de eletricidade naquele ano. Entretanto,
em relao a 2009, o crescimento foi de 76%. Atualmente, de acordo
com a Aneel (2012), existem 73 usinas elicas em operao no pas,
que possuem uma capacidade instalada total de 1 576 MW. Entre-
tanto, esto em construo outros 59 empreendimentos que, juntos,
alcanam 1 507 MW, o que permitir dobrar a capacidade instalada
em pouco tempo. O nmero de usinas elicas outorgadas, mas que
ainda no iniciaram a construo chega a 180, com uma potncia to-
tal prevista de 5 207 MW.
Essa expanso iniciou-se com o Programa de Incentivo s Fontes Al-
ternativas de Gerao de Energia Eltrica (PROINFA), institudo pela
Lei n 10.238, de 2002. O Proinfa garantia a compra, pela Eletrobrs,
durante vinte anos, da energia eltrica gerada por fontes alternativas
renovveis. O preo pago pela energia foi fxado pelo Ministrio de
Minas e Energia para cada uma das fontes incentivadas. Foram con-
tratados 1 288 MW de origem elica, com prazo fnal para entrada em
operao fxado para o fnal de 2011 (Tolmasquim, 2011b).
Em 2009, foi realizado o primeiro leilo de comercializao de energia
voltado exclusivamente para fonte elica, que resultou na contratao
de 1 805,7 MW, a um preo mdio de venda de R$ 148,39/MWh.
A modalidade de reserva, utilizada no leilo, que se caracteriza pela
contratao de um volume de energia alm do que seria necessrio
para atender demanda do mercado total do pas. A partir de ento, a
energia elica passou a obter sucesso nos leiles realizados para aqui-
sio de energia eltrica para suprimento das concessionrias de dis-
tribuio, competindo diretamente com as demais fontes, renovveis
e fsseis. A Tabela 6.2 apresenta o resultado da contratao de energia
elica por meio de leiles promovidos pelo governo federal.
115
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Tabela 6.2 Energia elica contratada em leiles
Leilo Projetos Potncia
(MW)
Energia contratada
(MW mdios)
Preo mdio
(R$/MWh)
A-5 2011 39 977 479 105,12
Reserva 2011 34 861 429 99,54
A-3 2011 44 1.068 484 99,58
Alternativas e
reserva 2010
70 2.048 899 130,86
Reserva 2009 elica 71 1.806 753 148,39
Total 258 6.759 3.044 -
Fontes: EPE e CCEE
6
O PDE 2020 (EPE, 2011c) prev que a fonte elica atingir a capaci-
dade instalada de 11 532 MW em 2020, e sua participao na capaci-
dade nacional de gerao passar, dos atuais 1,25 %, para 6,7%.
Somadas as potncias instaladas dos empreendimentos elicos
do Proinfa e anteriores, mais a dos leiles de energia, chega-se a
8 047 MW de capacidade j contratados para suprimento do Sistema
Interligado Nacional SIN. Alm disso, antes dos empreendimen-
tos do Proinfa, j estavam operando unidades de gerao elica de
29 MW de potncia instalada.
Ressalte-se que a energia elica tambm apresenta grande comple-
mentaridade com o regime hdrico no Brasil, como mostrado na Fi-
gura 6.7, que ilustra o comportamento da energia natural afuente nas
hidreltricas da regio Sudeste em 2011 e a gerao elica no per-
odo. Essa sinergia contribui para compensar a progressiva reduo
da capacidade de armazenamento de energia hidrulica em relao
demanda no Brasil.
Segundo o Atlas do Potencial Elico Brasileiro (Amarante et al.,
2001), o potencial elico brasileiro de 143 GW de potncia ou
272 TWh por ano de energia. Entretanto, este potencial foi medido
para torres de 50 metros de altura, padro da tecnologia elica po-
ca da realizao do Atlas. Em funo da evoluo tecnolgica, que
hoje permite a instalao de turbinas a mais de 100 metros de altura,
6
CCEE: Cmara de Comercializao de Energia Eltrica.
116
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
este potencial certamente apresentar valores bem maiores quando
revisto (Tolmasquim, 2011b).
Figura 6.7 Complementaridade entre o regime hdrico e a energia
elica (2011)
Fonte: ONS
Ressalte-se que, tambm para o caso da energia elica, no consta
meno no PDE 2020 sobre seu aproveitamento por meio de peque-
nas turbinas, como ocorre em pases como China, Estados Unidos e
Alemanha (ver Tabela 4.10).
6.3.4 Energia solar
6.3.4.1 Potencial solar brasileiro
De acordo com o Atlas Brasileiro de Energia Solar (Pereira et al., 2006),
publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais Inpe, o Bra-
sil, por ser um pas localizado na sua maior parte na regio intertropi-
cal, possui grande potencial para aproveitamento de energia solar du-
rante todo ano. A mdia anual do total dirio de irradiao solar global
incidente no territrio brasileiro mostrada na Figura 6.8. De acordo
com o referido atlas, a mdia anual de irradiao apresenta boa uni-
formidade no Brasil, com mdias anuais relativamente altas em todo
o pas. O valor mximo, de 6,5 kilowatts-hora por metro quadrado
(kWh/m
2
), ocorre no norte do Estado da Bahia, prximo fronteira
com o Estado do Piau, devido ao clima semirido, com baixa precipi-
tao ao longo do ano. A menor irradiao solar global, equivalente a
117
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4,25 kWh/m
2
, ocorre no litoral norte de Santa Catarina, caracterizado
pela ocorrncia de precipitao bem distribuda ao longo do ano.
Figura 6.8 Mdia anual da radiao solar no Brasil
Fonte: Atlas Brasileiro de Energia Solar
A publicao informa ainda que os valores de irradiao solar in-
cidente em qualquer regio do territrio brasileiro so superio-
res aos da maioria dos pases da Unio Europeia, como Alemanha
(0,9 a 1,25 kWh/m
2
), Frana (0,9 a 1,65 kWh/m
2
) e Espanha (1,20 a
1,85 kWh/m
2
), onde existe grande nmero de projetos para aprovei-
tamento de recursos solares. de se destacar ainda que, de acordo
com o Atlas Brasileiro de Energia Solar, a maior incidncia da radia-
o solar no pas ocorre nos meses de setembro a novembro, poca
em que se verifcam as menores energias naturais afuentes nas usinas
hidreltricas brasileiras. Portanto, o aproveitamento da energia solar
no Brasil tambm complementar ao regime hdrico, assim como ob-
servado para o caso da biomassa de cana-de-acar e a energia elica.
118
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
6.3.4.2 Solar fotovoltaica
De acordo com relatrio do Ministrio de Minas e Energia (MME) o
Programa de Desenvolvimento Energtico de Estados e Municpios
(PRODEEM), criado em 1994, promoveu a instalao de sistemas fo-
tovoltaicos, que totalizaram 5 MW de capacidade, em cerca de 7 000
comunidades no Brasil (MME, 2009). O Plano Nacional de Energia
2030 PNE 2030 (MME, 2007), por sua vez, informa que o projeto
Produzir, para eletrifcao de domiclios, instalou, com recursos
do Banco Mundial, 11 mil sistemas de 50 W de potncia mdia, e o
Prodeem, do MME, agora incorporado ao Programa Luz para Todos,
instalou quase 9 mil sistemas com potncia mdia de 535 W em es-
colas, postos de sade, igrejas, centros comunitrios, bombeamento
dgua, dentre outros. Nesses documentos, entretanto, no constam
estimativas de quantos desses sistemas ainda esto em operao.
De acordo com a Aneel (2012), esto em operao atualmente no
Brasil oito usinas solares fotovoltaicas conectadas rede eltrica, com
capacidade total de 1,49 MW. O maior dos empreendimentos em
operao a usina de Tau, no Estado do Cear, com capacidade de
1 000 kW, mas com previso de expanso para at 5 000 kW. Outra
usina de porte considervel a Pituau Solar, com 405 kW de ca-
pacidade, instalada sobre um estdio de futebol em Salvador, capital
do estado da Bahia. Dentre os demais projetos, o maior possui uma
capacidade de 50 kW.
De acordo com o PNE 2030 (MME, 2007), o aproveitamento da ener-
gia solar para produo de eletricidade pode contribuir para a melho-
ria da efcincia e da segurana do abastecimento eltrico no Brasil.
O plano avalia que a energia solar fotovoltaica integrada rede surge
como uma alternativa para utilizao em gerao distribuda e que
as questes tcnicas para seu emprego parecem estar equacionadas,
sendo ainda necessria a criao de normas e regulamentos discipli-
nando sua utilizao. Esse estudo tambm aponta a energia solar fo-
tovoltaica entre as reas estratgicas para investimentos em pesquisa
no Brasil, assinalando que o pas grande exportador de silcio me-
tlico. Mesmo destacando essas vantagens, o PNE 2030 no incluiu a
119
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
explorao da energia solar entre as alternativas para suprimento da
demanda de energia eltrica no Brasil em seu horizonte de planeja-
mento, por consider-la ainda economicamente invivel.
Ressalte-se que o PDE 2020 (EPE, 2011c) tambm no considera a
contribuio da energia solar fotovoltaica para suprimento do merca-
do nacional de energia eltrica.
Cabe ainda ressaltar que maior aproveitamento da energia solar foto-
voltaica no Brasil poder tambm contribuir para aliviar o carrega-
mento do sistema eltrico brasileiro, ao fornecer energia no momento
de consumo mximo de energia eltrica que se observa no Sistema
Interligado Nacional, bem como em seus nos subsistemas regionais.
Os registros apresentados na Tabela 6.3 mostram que os momentos
de carga mxima de 2012, registrados at o dia 6/4/2012, ocorreram
no incio para o meio da tarde, quando a gerao dos painis fotovol-
taicos ainda importante.
Tabela 6.3 Cargas Eltricas Mximas no Brasil (at 6/4/2012)
Regio Carga Mxima (MW) Horrio
SIN
1
76 733 14:45 h
Sudeste/Centro-Oeste 47 463 15:49 h
Sul 15 035 14:31 h
Nordeste 10 602 15:53 h
Norte (interligado) 4 750 14:43 h
1
SIN: Sistema Interligado Nacional
Fonte: ONS
Apesar de a energia solar fotovoltaica no estar contemplada nos prin-
cipais documentos do planejamento energtico do pas, foi constitu-
do, no mbito do Ministrio de Minas e Energia um grupo de tra-
balho para avaliar a gerao distribuda com sistemas fotovoltaicos,
que apresentou relatrio em 2009 (MME, 2009). Conforme consta
desse documento, a criao do grupo de trabalho ocorreu devido
grande potencialidade da energia solar fotovoltaica de fornecer ener-
gia eltrica de forma competitiva e formar toda uma cadeia produtiva
de alta tecnologia. Nesse relatrio assinalado que programas bem-
sucedidos, como o da Alemanha, comprovam que polticas direciona-
das para novas fontes renovveis trazem bons resultados. O relatrio
120
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
considera que o Brasil privilegiado por receber altos nveis de radia-
o solar e por possuir grandes reservas de silcio de alta qualidade,
sendo o quarto maior exportador da substncia no grau metalrgico,
primeira etapa para a produo do silcio de grau solar, de maior valor
agregado. O grupo de trabalho ressalta que uma poltica de incentivo
adequada poder promover a consolidao de uma cadeia produtiva
para atender ao mercado interno e externo de equipamentos e que
seria de interesse a adoo de incentivos fscais e tributrios. Os estu-
dos apontaram para a formatao de um programa solar fotovoltaico
brasileiro com base no modelo alemo, que obriga as distribuidoras
a adquirirem a energia injetada na rede pelas unidades de gerao.
A utilizao de sistemas fotovoltaicos de grande porte no foi con-
siderada a mais apropriada, por no aproveitar a grande vantagem
propiciada pelos sistemas distribudos, que a gerao de eletricidade
prxima carga, evitando custos de transporte e de distribuio.
Por outro lado, foi avaliado que seria preciso resolver difculdades re-
lacionadas conexo de pequenos sistemas fotovoltaicos, em razo
das regras estabelecidas nos Procedimentos de Distribuio de Ener-
gia Eltrica no Sistema Eltrico Nacional (PRODIST), de responsabi-
lidade da Aneel.
O estudo tambm indicou que um programa de incentivo utiliza-
o da energia fotovoltaica dever prever o acesso dos consumidores
a linhas especiais de crdito para fnanciar a compra e instalao de
sistemas fotovoltaicos.
Ressalte-se, porm, que o Ministrio de Minas e Energia ainda no
apresentou um programa para desenvolvimento da energia solar fo-
tovoltaica no Brasil.
A agncia reguladora do setor eltrico, por sua vez, j adotou medi-
das no sentido de viabilizar a gerao distribuda em pequena escala
no Brasil, que abrange tambm a energia solar fotovoltaica. No ms
de agosto de 2011 a Aneel publicou o Aviso de Audincia Pblica
n 42/2011, com o objetivo de colher contribuies minuta de Re-
soluo Normativa que busca reduzir as barreiras para a instalao de
micro e minigerao distribuda incentivada e alterar o desconto nas
121
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Tarifas de Uso do Sistema de Distribuio de Energia Eltrica TUSD
e de Uso do Sistema de Transmisso de Energia Eltrica TUST para
usinas com fonte solar.
Em 17/4/2012, foi aprovada a Resoluo n 482/2012, que prev a
criao de um sistema de compensao de energia em que, se em um
perodo de faturamento a energia gerada for maior que a consumi-
da, o consumidor receberia um crdito em energia na fatura seguin-
te. Caso contrrio, o consumidor pagaria apenas a diferena entre a
energia consumida e a gerada. Os crditos poderiam ser compensa-
dos em at 36 meses, expirando aps esse prazo. Em relao ener-
gia solar, prope um desconto de 80%, aplicvel nos dez primeiros
anos de operao da usina, nas tarifas de uso dos sistemas eltricos de
transmisso e de distribuio, incidindo na produo e no consumo
da energia comercializada. O desconto seria reduzido para 50% aps
esse prazo inicial.
Na nota tcnica que subsidiou o processo de audincia pblica que
antecedeu a aprovao da norma (Aneel, 2011), foi informado que,
includos os tributos, nove distribuidoras possuem tarifas fnais aci-
ma de R$ 600 por megawatt-hora (MWh) e 22 praticam tarifas entre
R$ 500 e R$ 600 por MWh, abrangendo estados como Minas Gerais,
Maranho, Tocantins, Cear, Piau, parte do Rio de Janeiro, Mato
Grosso e interior de So Paulo. Assim, como o custo da gerao fo-
tovoltaica estimado entre R$ 500 e R$ 600 por MWh, essa fonte
j pode ser vivel nas reas de concesso dessas 31 distribuidoras se
adotado o sistema de compensao de energia.
No campo da cincia e tecnologia, cabe destacar que o Brasil realiza
pesquisas, com resultados positivos, nas etapas de purifcao do si-
lcio, produo de clulas solares e montagem de mdulos e sistemas
fotovoltaicos.
Como exemplo, pode-se citar a experincia do Ncleo de Tecnolo-
gia em Energia Solar (NT-Solar) da Pontifcia Universidade Catlica
do Rio Grande do Sul, apresentada com maiores detalhes em artigo
anexo (Moehlecke; Zanesco, 2011). Esse grupo foi responsvel pela
construo de uma planta piloto de produo de mdulos fotovoltaicos
122
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
com tecnologia nacional, que j fabricou mais de 12 000 clulas sola-
res e 200 mdulos fotovoltaicos. O NT-Solar desenvolveu tambm um
plano de negcios que demonstrou ser vivel produzir clulas e m-
dulos fotovoltaicos no Brasil, com a criao de expressivo nmero de
empregos e ganhos tecnolgicos. Todavia, no referido artigo, os autores
apontam que falta ao pas um mercado estabelecido, que possua a de-
manda necessria para o estabelecimento de indstrias de produo de
mdulos fotovoltaicos.
Assim, conclui-se que o Brasil recebe grande incidncia de radiao
solar, que nos coloca em posio privilegiada em relao aos pases
que atualmente lideram a explorao dessa fonte renovvel. Com a
queda nos custos da gerao de energia eltrica fotovoltaica, sua pro-
duo j se tornou vantajosa em grande parte do territrio nacional.
Alm disso, o pas possui matria-prima abundante e conhecimen-
to tcnico e cientfco que permitem a implantao de uma inds-
tria para a produo dos mdulos fotovoltaicos no pas. Essas con-
dies favorveis j foram reconhecidas pelas principais entidades
governamentais responsveis pelo setor energtico brasileiro, como
o Ministrio de Minas e Energia, a Empresa de Pesquisa Energtica
e a Agncia Nacional de Energia Eltrica. Portanto, o que impede o
desenvolvimento desse mercado a ausncia de uma legislao que
promova os ajustes necessrios no ordenamento jurdico nacional
para que essa fonte, que apresenta os maiores crescimentos em todo
o mundo, seja incorporada a sistema eltrico brasileiro, de modo a
trazer ganhos econmicos, sociais e ambientais para o pas.
6.3.4.3 Energia termossolar
A utilizao da energia solar para o aquecimento de gua, especial-
mente para o consumo residencial tem grande potencial no Brasil.
Conforme mencionado no item anterior, o pas privilegiado por re-
ceber altos nveis de radiao solar. Alm disso, o custo do megawatt-
hora trmico menor que as tarifas residenciais em vigor no Brasil.
Na China o custo est no mximo na faixa de R$ 130 por MWh. J na
Europa, onde, em relao ao Brasil, necessria maior rea de equi-
pamentos instalados para produzir uma determinada quantidade de
123
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
energia, o custo estimado varia de R$ 115 a R$ 345 por MWh (ver
item 4.1.2.2).
Entretanto, apesar da grande vantagem comparativa, a rea instalada
de aquecedores solares no Brasil, em 2009, de 5,3 milhes de metros
quadrados, 27 vezes menor que a chinesa, quase quatro vezes me-
nor que a norte-americana, e menos da metade do total instalado na
Alemanha ou na Turquia (Weiss; Mauthner, 2011).
Quando se trata de capacidade instalada per capita, observa-se que
os lderes mundiais so o Chipre e Israel, com 554 e 391 watts por
habitante (W/hab.), de acordo com dados de 2009. A ustria, pas
europeu que recebe incidncia de radiao solar muito inferior em
relao ao Brasil, ocupa a quarta posio, com 315 W/hab. Enquanto
isso, de acordo com Weiss e Mauthner, 2011, o Brasil est na 31 po-
sio da lista de aproveitamento da energia solar para aquecimento
de gua, atrs de outros pases que apresentam condies bem menos
favorveis, como Alemanha, Sua, Dinamarca, Japo e Sucia.
Cabe assinalar que uma grande vantagem do uso dos aquecedores so-
lares de gua refere-se substituio do chuveiro eltrico. O chuveiro
eltrico, amplamente disseminado no Brasil, possui custo inicial mui-
to baixo e facilidade de instalao. De acordo com o Plano Nacional
de Efcincia Energtica (MME, 2011), pesquisa realizada no mbito
do Programa Nacional de Conservao de Energia Eltrica Pro-
cel apurou que, em 2005, 81% dos domiclios brasileiros aqueciam a
gua do banho, sendo que 73% utilizavam o chuveiro eltrico. A par-
ticipao do aquecimento solar, por sua vez, foi estimada em apenas
1,8% dos domiclios brasileiros em 2009, que corresponderia a apro-
ximadamente um milho de residncias (MME, 2011). Os chuveiros
eltricos representam 6% do consumo nacional de eletricidade, mas
so responsveis por 18% do pico de demanda do sistema eltrico que
ocorre no incio da noite (MME, 2011). Portanto, uma maior par-
ticipao do aquecimento solar teria como resultado a postergao
de investimentos em novas usinas de produo de energia eltrica,
evitando os inevitveis impactos ambientais adversos, especialmente
para os grandes empreendimentos, como o alagamento de reas
produtivas ou a emisso de poluentes pela queima de combustveis
124
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
fsseis. Entretanto, os resultados seriam ainda mais efetivos na redu-
o do carregamento do sistema eltrico no horrio de pico notur-
no, evitando ou postergando vultosos investimentos nos sistemas de
transmisso e distribuio, e aumentando a estabilidade e segurana
do fornecimento de energia eltrica.
O Ministrio de Minas e Energia assinala os benefcios dos sistemas
de aquecimento solar para a matriz energtica brasileira, mas reco-
nhece a ausncia de um programa nacional para incentiv-los (MME,
2011). Aponta para a necessidade de superar barreiras como:
difculdade de fnanciamento do desembolso inicial elevado,
apesar do retorno do investimento ocorrer em poucos anos;
baixos volumes de produo, que no permitem a obteno de
ganhos de escala, como a automao industrial;
inexistncia de um marco regulatrio nacional para os sistemas
de aquecimento solar.
O Plano Nacional de Energia 2030, por sua vez, considera que a troca
dos chuveiros eltricos por aquecedores solares implica ganhos sist-
micos de efcincia, trazendo ganhos econmicos, aumento da segu-
rana do suprimento e reduo de impactos no meio ambiente. Esse
plano avalia que o maior potencial para o uso do aquecimento solar
de gua concentra-se no setor residencial, mas no se restringe a ele,
podendo ser aplicado no setor industrial, no pr-aquecimento de cal-
deiras, e, no setor comercial, em chuveiros e piscinas (MME, 2007).
O PDE 2020 estima um forte crescimento na utilizao de sistemas de
aquecimento solar, impulsionado pelo Programa Minha Casa, Minha
Vida, com instalao destes equipamentos, at 2014, em cerca de dois
milhes de residncias (EPE, 2011c).
7. Concluses fnais
As fontes renovveis de energia so um dos principais instrumentos
de combate s mudanas climticas decorrentes da elevao dos gases
de efeito estufa na atmosfera. Pela menor concentrao dos recursos
125
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
naturais renovveis, como os hdricos, elicos e solares, contribuem
tambm para prover maior segurana no abastecimento energtico.
Contribuem ainda para o desenvolvimento social e econmico, para
a universalizao do acesso energia e para reduo da poluio cau-
sada pelo uso de combustveis fsseis, com benefcios para o meio
ambiente e a sade.
As principais tecnologias hoje empregadas para o aproveitamento dos
recursos naturais renovveis so:
solar fotovoltaica, que apresenta grande crescimento, espe-
cialmente pelos autoprodutores residenciais e rpida reduo
de custos;
termossolar para aquecimento de gua, que j apresenta custos
competitivos;
solar termoeltrica, que ainda necessita de maiores redues de
custos para maior competitividade;
biomassa, utilizando-se diversos insumos, como resduos agrco-
las, forestais e urbanos, dejetos de animais e culturas energticas;
hidreltrica, competitiva e consolidada;
elica, que apresenta crescimento expressivo, j sendo competi-
tiva em diversos locais, como no Brasil;
geotrmica;
energia dos oceanos, que apresenta menor grau de maturidade
e limitada aplicao comercial.
Apesar das vantagens que detm, o aumento da participao das fontes
renovveis requer a superao de barreiras, como falhas de mercado
e barreiras econmicas, barreiras de informao e conscientizao,
barreiras socioculturais e as barreiras institucionais e polticas.
Para superar esses obstculos, torna-se necessria a adoo de polti-
cas que estimulem mudanas no funcionamento dos sistemas energ-
ticos tradicionais. Com esse propsito, atualmente, mais de 115 pases
utilizam algum tipo de poltica para promover o desenvolvimento das
126
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
fontes renovveis de energia. So adotadas polticas que abrangem
incentivos fscais, mecanismos estatais de fnanciamento e polticas
regulatrias apropriadas.
Alguns pases tornaram-se referncia internacional pelas polticas
implantadas com sucesso no estmulo s fontes renovveis, como a
Alemanha e a Espanha. Entre os mecanismos adotados destacam-se
as tarifas feed-in, que so os valores pelos quais os geradores so re-
munerados pela energia que injetarem na rede, geralmente defnidos
de acordo com a fonte. Nesse sistema, as distribuidoras so obrigadas
a garantir a conexo rede eltrica e a compra da energia produzida.
Outros pases conseguiram avanos expressivos em determinados
segmentos das fontes renovveis, como a energia elica. Esse o caso
dos Estados Unidos, onde so destaques a fxao de metas de con-
sumo mnimo de fontes renovveis, no mbito estadual, e incentivos
fscais concedidos pelo governo federal. A China, por sua vez, obteve
resultados positivos, como a liderana mundial em energia elica, por
meio, principalmente, do planejamento energtico, que inclui a def-
nio de metas nacionais de participao de energia renovvel, metas
por fonte e metas para as empresas de energia, alm de tarifas feed-in.
No Brasil, a participao das fontes renovveis na matriz energtica
de 44%, enquanto a mdia mundial de 13%. As principais fon-
tes renovveis utilizadas no pas so a hidrulica, que mantm uma
participao estvel, e os produtos da cana-de-acar, cuja impor-
tncia relativa tem aumentado nos ltimos anos. Esses energticos
destinam-se, principalmente, gerao de energia eltrica e ao setor
de transportes, por meio dos biocombustveis.
A Constituio Federal reservou a competncia exclusiva de legislar
sobre energia Unio, a quem tambm atribuiu a tarefa de explorar,
direta ou mediante autorizao, concesso ou permisso, os servios
e instalaes de energia eltrica e o aproveitamento energtico dos
cursos de gua.
O principal mecanismo previsto na legislao brasileira para contra-
tao de energia eltrica a realizao de leiles pblicos, previstos na
Lei n 10. 848/2004. Essas licitaes so efcazes para a contratao das
127
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
fontes renovveis mais competitivas. O sucesso dessa sistemtica
apresentado em artigo anexo, de autoria do presidente da Empresa de
Pesquisa Energtica (Tolmasquim, 2011b). O Programa de Incentivo
s Fontes Alternativas de Energia Eltrica (PROINFA) tambm ob-
teve resultados satisfatrios para a implantao de projetos de fontes
alternativas, contratando, por vinte anos, empreendimentos de gran-
de ou mdio porte com o preo da energia produzida por cada fonte
defnido, a priori, pelo governo federal.
Quanto s fontes renovveis que, pela tecnologia utilizada ou pela es-
cala do projeto, necessitam de maior apoio para superao das barrei-
ras ainda existentes, a legislao brasileira incorpora diversas dispo-
sies, entre as quais:
utilizao de recursos da RGR para fnanciar fontes elica, so-
lar, biomassa e pequenas centrais hidreltricas;
determinao para que a Eletrobrs institua programa para fo-
mentar a produo de energia eltrica a partir da fonte solar;
adoo de sistemas de outorga mais simplifcados, como auto-
rizao para as PCHs e apenas registro para aquelas de capaci-
dade de at 1 000 kW;
concesso de descontos nas tarifas de transmisso e distribui-
o para PCHs, empreendimentos hidroeltricos com potncia
igual ou inferior a 1 000 kW e para aqueles com base em fontes
solar, elica e biomassa que injetem na rede at 30 000 kW;
permisso para que as fontes alternativas renovveis comercia-
lizem energia eltrica diretamente com consumidor ou conjun-
to de consumidores, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW
no Sistema Interligado Nacional ou maior ou igual a 50 kW nos
sistemas isolados;
possibilidade de que as fontes alternativas renovveis recebam re-
cursos da Conta de Consumo de Combustveis, quando substitu-
rem gerao termeltrica de origem fssil nos sistemas isolados;
128
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
possibilidade de que as distribuidoras adquiram energia eltri-
ca proveniente de fontes alternativas renovveis por meio de
chamada pblica, na modalidade de gerao distribuda;
possibilidade de fnanciamento de equipamentos de energia so-
lar no mbito do programa Minha Casa, Minha Vida.
Essas medidas, no entanto, no foram sufcientes para superar as bar-
reiras relativas ao aproveitamento das fontes alternativas renovveis
por meio da gerao descentralizada de pequena escala.
Verifca-se que a participao das fontes renovveis na oferta de ener-
gia eltrica no Brasil signifcativa, tendo atingido 85,6% em 2010.
Destacam-se a energia hidrulica, cuja participao foi de 80,5% (in-
cluda a energia importada da parte paraguaia de Itaipu), e a biomassa,
que contribuiu com 4,7%. A fonte elica, por sua vez, tem apresenta-
do crescimento expressivo e sua contribuio para a gerao de ener-
gia eltrica dever se elevar substancialmente nos prximos anos.
As fontes elica, solar e da biomassa no Brasil apresentam a grande
vantagem de serem complementares gerao hidreltrica. Isso im-
plica que produzem mais energia eltrica no momento em que as
hidreltricas apresentam as menores afuncias hdricas, o que con-
tribui para compensar a perda de capacidade relativa de regulariza-
o dos reservatrios em razo da tendncia atual de se construrem
usinas a fo dgua.
Entre as usinas hidreltricas, os grandes empreendimentos respon-
dem por 95% da capacidade instalada e as pequenas centrais hidrel-
tricas, de capacidade superior a 1 000 kW at 30 000 kW, representam
4,7% da capacidade de gerao hidreltrica no Brasil.
As usinas de escala reduzida, com at 1 000 kW de potncia, no en-
tanto, pela falta de uma legislao que as incentive, respondem por
apenas 0,3% da capacidade instalada em hidreltricas no Brasil. Esse
nmero bastante reduzido quando comparado com os dados da
China, por exemplo, que possui mais de 45 000 aproveitamentos hi-
dreltricos de pequena escala, cuja capacidade total chega a 55 GW,
equivalentes a 26% da capacidade instalada dessa fonte naquele pas.
129
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Em relao eletricidade da biomassa a situao similar. Da pro-
duo de energia eltrica por essa fonte em 2010, 64% originou-se do
bagao de cana e 29% da lixvia (subproduto da indstria de papel e
celulose). Essas unidades de gerao, normalmente esto associadas
a grandes projetos industriais, que envolvem vultosos investimentos.
A contribuio de pequenas unidades de gerao a biomassa, com ca-
pacidade inferior a 1000 kW, tambm bastante reduzida, pela ausn-
cia de um ambiente regulatrio favorvel. Todavia, destaca-se a expe-
rincia da Companhia Paranaense de Energia Eltrica (COPEL) que,
com apoio de Itaipu, contratou, na modalidade de gerao distribuda,
energia eltrica proveniente de seis pequenos projetos de produo de
eletricidade a partir da queima de biogs originado de dejetos de su-
nos, como relatado em artigo anexo a este estudo (Bley Jr., 2011).
O Atlas Brasileiro de Energia Solar (Pereira et al., 2006), por sua vez,
informa que os valores de irradiao solar incidente em qualquer re-
gio do territrio brasileiro so superiores aos da maioria dos pases
da Unio Europeia, como Alemanha (0,9 a 1,25 kWh/m
2
), Frana (0,9
a 1,65 kWh/m
2
) e Espanha (1,20 a 1,85 kWh/m
2
), onde existe grande
nmero de projetos para aproveitamento de recursos solares.
A Aneel, por sua vez, avalia que a instalao de sistemas fotovoltai-
cos pelos consumidores residenciais j pode ser vivel nas reas de
concesso de 31 distribuidoras, abrangendo estados como Minas Ge-
rais, Maranho, Tocantins, Cear, Piau, parte do Rio de Janeiro, Mato
Grosso e interior de So Paulo. Isso porque os custos da energia foto-
voltaica j podem ser inferiores s tarifas residenciais, com impostos,
aplicadas nessas reas.
Apesar disso, as leis brasileiras no incentivam a instalao desses
sistemas pelos pequenos consumidores de energia, existindo, apenas,
o sistema de compensao de energia recentemente aprovado pela
Aneel, por meio da Resoluo Normativa n 482/2012.
Quando ao uso da energia solar para aquecimento de gua, sua utili-
zao apresenta grandes vantagens, especialmente a reduo do carre-
gamento do sistema eltrico, pela substituio de chuveiros eltricos,
responsveis por 18% do pico de demanda que ocorre no incio da
130
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
noite. A rea instalada de aquecedores solares no Brasil, em 2009, era
de 5,3 milhes de metros quadrados, 27 vezes menor que a instalada
na China, quase quatro vezes menor que a norte-americana, e me-
nos da metade do total instalado na Alemanha ou na Turquia (Weiss;
Mauthner, 2011). Em relao a essa fonte, o Ministrio de Minas e
Energia, por intermdio do Plano Nacional de Efcincia Energtica,
reconhece que no Brasil ainda persistem difculdade de fnanciamen-
to do desembolso inicial elevado, baixos volumes de produo, que
no permitem a obteno de ganhos de escala, e a inexistncia de um
marco regulatrio nacional para os sistemas de aquecimento solar.
Os principais documentos do planejamento energtico nacional no
consideram o aproveitamento de fontes renovveis de pequena escala
entre as contribuies para o suprimento do mercado brasileiro de
energia. Essa situao verifca-se para o caso das fontes hdrica, so-
lar fotovoltaica, elica e eletricidade da biomassa. A nica exceo
refere-se utilizao da energia solar para aquecimento de gua, cuja
contribuio considerada no Plano Nacional de Energia 2030.
O Balano Energtico Nacional 2011, por sua vez, no incorpora no
captulo dedicado aos recursos e reservas energticas os potenciais
elico e solar brasileiros.
Portanto, os dados energticos brasileiros demonstram que a gerao
de energia eltrica em aproveitamentos de pequena capacidade ainda
incipiente no Brasil, apesar dos recursos naturais disponveis, enquan-
to, em diversos pases do mundo, esse tipo de gerao tem apresentado
grande crescimento, como o caso da energia solar fotovoltaica. Alm
disso, essa forma sustentvel de aproveitamento energtico no vem re-
cebendo a ateno no planejamento energtico brasileiro.
Assim, o Brasil deixa de aproveitar vantagens como complementa-
ridade com a energia hidreltrica, diminuio do carregamento da
rede, baixo impacto ambiental, menor prazo de implantao, redu-
o das perdas eltricas, melhoria do nvel de tenso e diversifcao
da matriz energtica (Aneel, 2011). Alm disso, no so produzidos
os benefcios sociais e econmicos que as cadeias produtivas relacio-
nadas aos pequenos aproveitamentos energticos propiciam, como a
131
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
promoo de desenvolvimento tecnolgico, a criao de maior n-
mero de empregos, e menor concentrao de renda.
Para a pequena gerao distribuda faltam mecanismos de fnancia-
mento abrangentes e acessveis, que contribuam decisivamente para
superar diversas barreiras. Entre elas inclui-se a difculdade na obten-
o de fnanciamento para fazer frente aos custos iniciais mais eleva-
dos desses projetos. A comercializao de energia por esses pequenos
geradores tambm difcil, pois dependem da realizao de chama-
das pblicas pelas concessionrias de distribuio, que, normalmente,
preferem utilizar grandes sistemas centralizados de produo e trans-
porte de energia. Alm disso, a remunerao pela energia fornecida
na modalidade de gerao distribuda no atrativa.
Portanto, o Brasil carece de aperfeioamentos em sua legislao, de
modo que seja eliminada a lacuna atualmente existente quanto a me-
canismos que, efetivamente, favoream a produo descentralizada
de energia em projetos de pequena escala.
8. Referncias
AGNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELTRICA [ANEEL]. Atlas
de Energia Eltrica do Brasil 3. ed. Braslia: ANEEL, 2008.
_____. Banco de Dados de Gerao. Disponvel em: http://www.aneel.
gov.br/ aplicacoes/ capacidade brasil/capacidadebrasil.asp. Acesso em:
30 mar. 2012.
_____. Nota Tcnica n 0025/2011-SRD-SRC-SRG-SCG-SEM-SRE-
SPE/ANEEL. Braslia, 20 jun. 2011.
AMARANTE, Odilon A. Camargo; BROWER, Michael; ZACK,
John; S, Antonio Leite. Atlas do Potencial Elico Brasileiro. Centro
de Pesquisas de Energia Eltrica/CEPEL, Braslia, 2001.
BLEY JR., Ccero. O produto biogs: refexes sobre sua economia.
2011. [Artigo anexo ao presente estudo].
132
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
BMU. Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation
and Nuclear Safety. Renewable Energy Sources in Figures - National
and International Development. Disponvel em: <http://www.bmu.
de /fles /english / pdf/ application/pdf/broschuere_ee_zahlen_en_
bf.pdf>. BMU, 2011.
CASTRO, Nivalde Jos; BRANDO, Roberto; DANTAS, Guilherme
de A. Consideraes sobre a ampliao da gerao complementar ao
Parque Hdrico Brasileiro. GESEL-IE-UFRJ. Rio de Janeiro, 2010.
DE JAGER, D.; KLESSMANN, C; STRICKER; E. WINKEL, T; DE
VISSER, ERIKA; ESPANHA. Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. Instituto para la Diversifcacin y Ahorro de la Energa
(IDAE). Boletn de Energas Renovables - Datos 2010. Dispon-
vel em: http:// www .idae.es /index .php /mod .documentos/mem.
descarga?fle=/documentos_Boletin_de_Energias_Renovables__1._
Datos_2010._2011_12FINAL_a242d62f.pdf. Acesso em: 30 nov. 2011.
_____. La Energa en Espaa 2010. 2011. Disponvel em: <http://
www.minetur.gob.es/energia/balances/balances/librosenergia/ener-
gia_espana_2010 _2ed.pdf>.
EMPRESA DE PESQUISA ENERGTICA [EPE] Anurio estatstico
de energia eltrica 2011. Rio de Janeiro: EPE, 2011a.
_____. Balano Energtico Nacional 2011: Ano base 2010. Rio de
Janeiro: EPE, 2011b.
_____. Plano Decenal de Expanso de Energia 2020. Rio de Janeiro:
EPE, 2011c.
EUROPEAN PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ASSOCIATION
[EPIA]. Market Report 2011. Disponvel em: <http://www.epia.org>.
EPIA, 2012.
_____. Solar Photovoltaics Competing in the Energy Sector On the
Road to Competitiveness. Sept. 2011. Disponvel em: < http:// www.
euractiv. com/ sites / all/euractiv/fles/Competing_Full_Report.pdf>.
EPIA, 2011.
133
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
GLOBAL WIND ENERGY COUNCIL [GWEC]. Global Wind
Statistics 2011. Disponvel em: < http://www.gwec.net/fleadmin/
images/ News/Press/GWEC _-_Global _Wind _ Statistics_2011.
pdf>. GWEC, 2012a.
_____. Global Wind Report - 2011. Disponvel em: <http:// www. gwec.
net/ fle admin/documents/NewsDocuments/Annual_ report_2011_
lowres.pdf>. GWEC, 2012b.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY [IEA]. 2011 Key World
Energy Statistics. Disponvel em: http://www.iea.org/publications /
free_ new_ desc.asp? pubs ID=1199>. IEA, 2011a.
_____. World Energy Outlook 2011 (Sumrio Executivo). IEA, 2011b.
INTERNATIONAL ENERGY AGENCY [IEA]. G-20 Clean Energy,
and Energy Efciency Deployment and Policy Progress. IEA, 2011c.
_____. Trends In Photovoltaic Applications. IEA, 2011d.
_____. Renewable Energy - Markets and Prospects by Technology. IEA,
2011e.
_____. Technology Roadmap: solar photovoltaic energy. IEA, 2010a.
_____. Te Potential of Solar Termal Technologies in a Sustainable
Energy Future. Solar Heating and Cooling Programme. Disponvel em:
<http:// www. Solar thermal world.org/node/3164>. IEA, 2010.
_____. Technology Roadmap Concentrating Solar Power. IEA, 2010c.
_____. Technology Roadmap - Wind Energy. IEA, 2009a.
_____. IEA ENERGY Technology Essentials - Biomass for Power
Generation and CHP. IEA, 2007.
_____. 2009 Energy Balance for Germany. Disponvel em: <http://
www.iea.org/stats /balancetable .asp?COUNTRY_CODE=DE>.
Acesso em 19 mar. 2012. IEA, 2012a.
_____. 2009 Energy Balance for Spain. Disponvel em: <http://www.
iea.org/stats/ balancetable.asp?COUNTRY_CODE=ES>. Acesso: 19
mar. 2012. IEA, 2012b.
134
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
_____. 2009 Energy Balance for United States. Disponvel em http://
www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_CODE=US. Acesso
em 19 mar. 2012. IEA, 2012c.
_____. 2009 Energy Balance for Peoples Republic of China. Dispon-
vel em: <http: // www.iea.org/stats/balancetable.asp?COUNTRY_
CODE=CN>. Acesso em 19 mar. 2012. IEA, 2012d.
_____. Renewable Energy - Policy Considerations for Deploying
Renewables. IEA, 2011f.
_____. Photovoltaic Power Systems Programme - Annual Report 2010.
IEA, 2011g.
_____. Energy Policies of IEA Countries - Spain- 2009 Review. IEA,
2009b.
[THE] INTERNATIONAL JOURNAL ON HYDROPOWER &
DAMS [IPCC]. 2010 World Atlas & Industry Guide. Disponvel em:
< INTERGOVERNMENT PANEL ON CLIMATE CHANGES. IPCC
Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change
Mitigation. 2011. Disponvel em: <http: // www.ipcc-wg3.de/ publica
tions/special-reports>. IPCC, 2011.
[THE] INTERNATIONAL JOURNAL ON HYDROPOWER &
DAMS [IPCC]. Climate Change: Te IPCC Scientifc Assessment.
IPCC, 1990.
_____. Climate Change 2007: Synthesis Report. IPCC, 2007.
KOPER, M.; RAGWITZ, A.; HELD, A.; RESCH, G.; BUSCH, S.; P ANZER,
C.; GAZZO, A.; ROULLEAU, T.; GOUSSELAND, P.; HENRIET, M.;
BOUILLE, A. Financing Renewable Energy in the European Energy
Market. 2010. Disponvel em: <http://ec.europa.eu/energy/ renewables/
studies/doc/renewables/2011_fnancing_ renewable.pdf>.
MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA [MME] Boletim Mensal de
Energia - Ms de Referncia: dezembro de 2011. MME, 2012.
135
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
_____. Plano Nacional de Efcincia Energtica Premissas e Diretri-
zes Bsicas. MME, 2011.
_____. Estudos e proposta de utilizao de gerao fotovoltaica conec-
tada rede, em particular em edifcaes urbanas. Relatrio do Grupo
de Trabalho de Gerao Distribuda com Sistemas Fotovoltaicos.
MME, 2009.
_____. Plano Nacional de Energia 2030. Braslia, MME, 2007.
MOEHLECKE, Adriano; ZANESCO, Izete. Energia solar fotovoltaica
no Brasil: situao atual e perspectivas para estabelecimento de inds-
trias apoiadas em programas de P&D e fnanciamento. 2011. [Artigo
anexo ao presente estudo].
NYKO, Diego; FARIA, J. L. Garcia; MILANEZ, Artur Yabe; CASTRO,
Nivalde Jos; BRANDO, Roberto; DANTAS, Guilherme de A. De-
terminantes do baixo aproveitamento do potencial eltrico do setor
sucroenergtico: uma pesquisa de campo. BNDES Setorial 33, p. 421-
476. 2011.
PEREIRA, Enio B.; MARTINS, Fernando R.; ABREU, Samuel L.;
RTHER, Ricardo. Atlas Brasileiro de Energia Solar. 1. ed. So Jos
dos Campos: INPE, 2006.
POLLIN, R.; GARRETT-PELTIER, H.; HEINTZ, J.; SCHARBER, H.
Green Recovery A Program to Create Good Jobs and Start Building
a Low-Carbon Economy. Centre for American Progress and Political
Economy Research Institute (PERI), University of Massachusetts,
Washington, DC and Amherst, MA, USA. 2008.
PVXchange. Price Index. Disponvel em <http:// www.pvxchange
.com/priceindex/priceindex.aspx?template_id=1&langTag=en-GB>.
Acesso em: fev. 2012.
RENEWABLE Energy Policy Network for the 21st Century [REN21].
Renewables 2011- Global Status Report. REN21, 2011.
136
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
ROGNER, H.; ZHOU, D.; BRADLEY, R.; CRABB, P.; EDENHOFER,
O.; HARE, B. (Australia), L. Kuijpers, M. Yamaguchi. Introduction.
In Climate Change 2007: Mitigation. 2007. Contribution of Working
Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental
Panel on Climate Change [B. Metz, O.R. Davidson, P.R. Bosch, R.
Dave, L.A. Meyer (eds.)], Cambridge University Press, Cambridge,
United Kingdom and New York, NY, USA.
TOLMASQUIM, Maurcio Poltica energtica e as fontes renovveis de
Energia. Apresentao no Seminrio Internacional sobre Fonte Reno-
vveis de Energia realizado em 14 de setembro de 2011 na Cmara
dos Deputados. Tolmasquim, 2011a.
_____. A Poltica Energtica Atual e as Fontes Renovveis de Energia.
Tolmasquim, 2011b. [Artigo anexo ao presente estudo].
UNIO da Indstria de Cana-de-Acar [Unica]. Evoluo da
Bioeletricidade Sucroenergtica Exportada para a Rede Eltrica. Tabela
disponvel em www.unica.com.br. Unica, 2011a.
_____. Bioeletricidade A Energia Verde e Inteligente do Brasil. Unica,
2011b.
UNIO EUROPEIA (EU). Panorama acerca de Mudanas Climticas.
Disponvel em: <http://europa.eu/pol/env/index_pt.htm>. Acesso
em: 17 nov. 2011.
UNITED NATIONS [ONU]. United Nations Framework Convention
on Climate Change. ONU, 1992.
_____. Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012. ONU,
set. 2010.
_____. Promotion of new and renewable sources of energy - Report of
the Secretary-General. ONU, 2011a.
_____. Making those frst steps count: An Introduction to the Kyoto
Protocol. Disponvel em: <http://unfccc.int/essential_background/ kyoto
_protocol / items / 6034.php>. Acesso em: 17 nov. 2011. ONU, 2011b.
137
D
e
p
u
t
a
d
o
P
e
d
r
o
U
c
z
a
i
|
R
E
L
A
T
R
I
O
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
UNITED STATES. Environmental Protection Agency. American
Recovery and Reinvestment Act of 2009: Tax-Based Provisions. Global
Renewable Energy Policies and Measures Database. Disponvel em:
http:// www .iea. org/ textbase/pm/?mode=weo&action=detail&
id=4444. IEA/IRENA, 2012a
US DEPARTMENT OF ENERGY. American Recovery and
Reinvestment Act: Appropriations for Clean Energy. IEA/Irena Global
Renewable Energy Policies and Measures Database.Disponvel em:
<http:// www 1.e ere . energy .gov / recovery/>. IEA et al., 2012b.
_____. State-level Renewable Portfolio Standards (RPS). IEA/Irena
Global Renewable Energy Policies and Measures Database. IEA et al.,
2012c.
______. Renewable Portfolio Standard California. IEA/Irena
Global Renewable Energy Policies and Measures Database. IEA et al.,
2012d.
______. Renewable Energy Law - China. IEA/Irena Global Renewable
Energy Policies and Measures Database. IEA et al., 2012e.
______. Te Twelfh Five-Year Plan for National Economic and Social
Development of Te Peoples Republic of China. IEA/Irena Global
Renewable Energy Policies and Measures Database. IEA et al., 2012f.
VIANA, A.N.C.; VIANA, F.G. Os Microaproveitamentos Hidrulicos e
a Gerao Descentralizada. Artigo anexo. 2011.
WEISS, Werner; MAUTHNER, Franz. Solar Heat Worldwide - Markets
and Contribution to the Energy Supply 2009. IEA Solar Heating &
Cooling Programme May 2011.
WERDER, Ulrich G.R. Solues atravs do Parafuso de Arquimedes. Em
Inevitvel Mundo Novo Volume II, organizado por Uczai, Pedro. 2010.
WWEA Associao Mundial de Energia Elica. Small Wind World
Report Summary 2012. WWEA, 2012.
CONTRIBUIES
ESPECIAIS
141
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
1. A Poltica Energtica Atual e as Fontes
Renovveis de Energia
Mauricio Tiomno Tolmasquim
Presidente da Empresa de Pesquisa Energtica (EPE)
I Introduo
O Brasil encontra-se em uma situao diferenciada com relao ao
mundo no que se refere ao aquecimento global. Enquanto no mundo a
produo e uso da energia o grande vilo, no Brasil a energia pouco
impacta as emisses de gases de efeito estufa (GEE). Afnal, 65% das
emisses mundiais de GEE so decorrentes da produo e uso da ener-
gia, enquanto no Brasil esta participao cai para 16,5%. A participao
da produo e do uso da energia no total de emisses de GEE nos EUA
e na Unio Europeia representam 89% e 79%, respectivamente.
Isto decorre do fato de que a matriz energtica brasileira uma das
mais renovveis do mundo. Enquanto a matriz mundial apenas 13%
renovvel, a matriz brasileira composta por 45% de fontes renovveis.
142
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Figura 1. Qualidade da matriz energtica brasileira
Brasil 2010 Mundo 2008
(1) Inclui lenha, carvo vegetal e outras renovveis.
(2) Inclui combustveis renovveis, rejeitos, solar, elica, geotrmica e outras.
Fontes: EPE [BEN 2011 Resultados Preliminares] e IEA [Key World Energy Statistics 2010]
Graas a seu baixo percentual de fontes fsseis na matriz, o setor energ-
tico brasileiro ocupa apenas a 17 posio no ranking mundial de emis-
ses de GEE. As emisses do setor energtico de pases como a China
e os Estados Unidos so cerca de quinze vezes maiores que a brasileira.
Figura 2. Emisso de Gases de Efeito Estufa
Emisses no Setor Energtico em 2005 (tCO
2
-eq)
Fonte: WRI/CAIT
No setor eltrico, a situao do Brasil ainda mais interessante, uma
vez que, na produo de energia eltrica, por conta da opo pela
hidroeletricidade, a participao das renovveis superior a 90%, en-
quanto no mundo ela de apenas 18%.
143
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 3. Fontes de produo de eletricidade
Brasil 2010 Mundo 2008
(1) Inclui importao.
(2) Inclui gs de coqueria.
(3) Inclui lenha, bagao de cana, lixvia e outras recuperaes.
(4) Inclui geotermal, solar, elica, combustveis renovveis, rejeitos e lenha.
Fontes: EPE [BEN 2011 Resultados Preliminares] e IEA [Key World Energy Statistics 2010]
O grande percentual de fontes renovveis na matriz de energia el-
trica nacional faz com que o Brasil esteja bem distante dos maiores
emissores de GEE. Quando olhamos o consumo e a produo de
energia eltrica, o Brasil ocupa a 49 posio. O setor eltrico de pa-
ses como a China e os Estados Unidos emite cerca de cem vezes mais
que o brasileiro.
Figura 4. Emisso de Gases de Efeito Estufa
Emisses no Setor Eltrico em 2005 (tCO
2
eq)
Fonte: WRI/CAIT
A boa notcia que o Brasil tem todas as condies de manuteno de
uma matriz limpa, renovvel e, consequentemente, pouco poluente.
144
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
II Energia Hidrulica
O Brasil dispe do terceiro maior potencial hidreltrico do mundo, cor-
respondente a cerca de 10% do potencial mundial, atrs apenas da Chi-
na (13%) e da Rssia (12%), estimado em cerca de 260 GW, dos quais
apenas um tero j foi aproveitado. Os empreendimentos hidreltricos
em operao geram mais de 80% da energia eltrica hoje consumida no
pas. Considerando que esta fonte de energia ainda bastante competiti-
va com relao s alternativas hoje existentes e dadas suas caractersticas
de renovabilidade e abundncia no pas, justifca-se plenamente a conti-
nuidade do aproveitamento do potencial hidreltrico remanescente.
Uma vez construda, uma usina hidreltrica apresenta longa vida til,
podendo gerar grande quantidade de eletricidade com baixo custo de
gerao por mais de cem anos.
Figura 5. Ocupao da Amaznia Brasileira
Unidades de Conservao e Terras Indgenas
Fonte: EPE [PDE 2020]
145
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Cerca de 60% do potencial hidreltrico remanecente situa-se na
regio Norte, onde se encontra um dos mais ricos ecossistemas, o
bioma Amaznia.
Sem dvida, a necessidade de conservao desse patrimnio natu-
ral inquestionvel. Vale lembrar que mais da metade desta regio
constituda por Unidades de Conservao e de Terras Indgenas. A
explorao de parte do potencial hidroeltrico da regio no incom-
patvel com a preservao ambiental da Amaznia, mas, ao contrrio,
a hidroeltrica tem todas as condies de ser um vetor de desenvolvi-
mento sustentvel da regio.
O desenvolvimento de qualquer potencial hidrulico no apenas deve
cuidar para que os impactos ambientais provocados sejam mitigados ou
compensados, mas pode tambm ser um instrumento de recuperao
de reas degradadas e um fator inibidor de processos de desmatamento.
Nesse sentido, enormes progressos tm sido feitos nos ltimos tem-
pos, tais como:
Preservao de reas no entorno de reservatrios e recuperao
de matas ciliares. reas no entorno de reservatrios j instala-
dos no pas esto hoje entre as mais bem conservadas, inclusive
com relao biodiversidade.
Programas de salvamento da fora e da fauna e tambm de stios
arqueolgicos. Eles tm sido, muitas vezes, a garantia de con-
servao de elementos chave do bioma atingido.
No aspecto socioeconmico, emblemtico o efeito de projetos mais
recentes, em torno dos quais ncleos urbanos chegam a apresentar
ndices de desenvolvimento humano superiores aos da regio na qual
se inserem.
Assim, dentro de uma viso mais contempornea, usinas hidroeltri-
cas so mais que uma fbrica de eletricidade. Constituem, na verdade,
vetores do desenvolvimento regional e de preservao ambiental.
Alm disso, importante salientar que, no caso do Brasil, a construo
das usinas pode ser feita praticamente com 100% de fornecimento e
servios nacionais, o que signifca gerao de emprego e renda no pas.
146
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
III Biomassa
A biomassa outra fonte onde existe um grande potencial de
crescimento.
Da colheita da cana de acar resultam hoje alguns produtos: a palha,
que fca no campo, e o caule (ou colmos) do qual extrado o caldo
de cana, sobrando o bagao. Do caldo so produzidos acar, etanol
e vinhoto utilizado como fertilizante para a agricultura. O bagao
utilizado como combustvel, queimado em caldeiras para gerar calor
e eletricidade (co-gerao). Estudos em andamento procuram tornar
vivel o aproveitamento de parte da palha que fca no campo durante
a colheita da cana de acar, de modo a disponibilizar mais biomassa
para a queima em caldeiras.
O potencial atual do bagao equivale a uma capacidade instalada de
9600 MW, dos quais somente 5500 MW so aproveitados. No caso da
palha, em que no h aproveitamento, o potencial atual de metade
do bagao. A perspectiva que haja um aumento expressivo dessa ca-
pacidade at o fnal da dcada. Com relao biomassa, a capacidade
instalada de usinas em 2010 foi de 6930 MW. At o fnal de 2015 sero
instalados mais 2650 MW de potncia contratados atravs dos leiles.
Figura 6. A evoluo da capacidade contratada em Bioeletricidade
Fonte: EPE/ANEEL
147
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Vale ressaltar que a expanso do cultivo da cana no restrio para
a expanso da agropecuria no pas. Isto decorre da disponibilidade
de terras subutilizadas, seja na pecuria extensiva, seja em terras no
produtivas e fora dos biomas Amazonas e Cerrado.
O balano total de emisses associado ao aproveitamento energtico
da cana neutro, pois a etapa de fxao de carbono, atravs da fotos-
sntese, iguala de liberao na sua utilizao. Por isto, esses deriva-
dos so considerados limpos e contribuem para a renovabilidade da
matriz energtica.
O desenvolvimento no pas da tecnologia de veculos fex-fuel, asse-
gurando aos consumidores o direito de escolha no ato de abastecer,
permite que o etanol, sempre que competitivo, tenha o seu mercado
assegurado. Como, em geral, o etanol tem todas as condies de ser
mais competitivo que a gasolina, as perspectivas de crescimento des-
te combustvel so bastante promissoras no Brasil. O Plano Nacional
de Expanso de Energia 2020 apresenta uma taxa de crescimento da
demanda de etanol de 11% ao ano entre 2010 e 2020. Alm disso,
estima-se que, em 2020, 78% da frota de veculos leves seja composta
por veculos fex-fuel.
Figura 7. Perfl da Frota de Veculos Leves por Combustvel
Fonte: EPE [PDE 2020]
Uma importante vantagem da utilizao do bagao da cana como
fonte de gerao de energia eltrica a complementaridade existente
entre essa fonte e a gerao hidroeltrica. O aproveitamento do baga-
o da cana ocorre principalmente nos meses em que so registrados
2011 2020
148
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
os menores ndices pluviomtricos nas regies Sudeste e Sul, onde se
localizam grandes reservatrios de hidreltricas.
IV Elica
Outra fonte com que o Brasil pode contar a energia elica, que
uma fonte renovvel com elevado potencial disponvel no pas. Ape-
sar deste potencial j ser conhecido h algum tempo, somente com os
recentes avanos tecnolgicos das turbinas foi possvel torn-lo eco-
nomicamente vivel e iniciar-se o seu aproveitamento.
Segundo o Atlas do Potencial Elico Brasileiro, elaborado em 2001,
pelo Centro de Pesquisas de Energia Eltrica (Cepel), o valor do po-
tencial brasileiro de 143 GW de potncia ou 272 TWh por ano de
energia. Este potencial foi medido para torres de cinquenta metros
de altura, padro da tecnologia elica poca da realizao do Atlas.
Em funo da evoluo tecnolgica, que hoje permite a instalao de
turbinas a mais de cem metros de altura, este potencial certamente
apresentar valores bem maiores quando revisto.
Figura 8. Distribuio Geogrfca do Potencial Elico Brasileiro
* Inclui 35 TWh de Itaipu
Fonte: Atlas do Potencial Elico Brasileiro [CEPEL 2001]
149
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Assim como outras fontes renovveis, a energia elica um recurso
varivel e intermitente. No Brasil, a predominncia hidreltrica do
Sistema Eltrico Interligado Nacional (SIN) traz um duplo benefcio
para a fonte elica.
Em primeiro lugar, em funo das caractersticas do SIN, a regula-
rizao das usinas elicas poder ser feita atravs da utilizao dos
reservatrios das usinas hidreltricas. Estes reservatrios podem acu-
mular gua quando houver excesso de gerao elica, e vice-versa.
Quanto maior a capacidade de armazenamento do parque hidreltri-
co, maior a capacidade de penetrao de parques elicos.
Figura 9. Complementaridade entre a Gerao Elica e Hidrulica
no Brasil
Fonte: EPE
Em segundo lugar, se verifca uma signifcativa complementaridade
mensal entre os regimes de vento e de vazes naturais nas principais
bacias hidrogrfcas brasileiras, isto , na estao seca h mais vento
e em perodos com menos vento h maiores vazes afuentes, como
mostrado na fgura. Isto torna o aproveitamento combinado hidroe-
lico uma opo interessante para o binmio sustentabilidade e ex-
panso energtica.
Atualmente a capacidade instalada em usinas elicas de cerca de
1 300 MW, a grande maioria resultante de empreendimentos do Progra-
ma de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia Eltrica ( PROINFA).
Os ciclos da gua e do
vento so negativamente
correlacionados no pas:
em geral, h mais vento no
perodo seco e vice-versa
150
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Nos ltimos dois anos o nvel de competitividade atingido pela fon-
te elica foi tal que permitiu a contratao de mais de 5.000 MW via
leiles a serem construdos at 2014, estimando-se que a capacidade
instalada brasileira dever alcanar mais de 7 000 MW de potncia. O
preo mdio da energia elica, que gira atualmente em torno de 300 re-
ais/MWh, cair progressivamente at 2014. Nos leiles que ocorreram
em 2011, a energia elica foi adquirida a 100 reais/MWh.
Figura 10. A Evoluo da Capacidade e do Preo de Contratao
da Energia Elica
Fonte: EPE
Obs.: Valores referentes a agosto de 2011
Foram vrias as razes para essa queda de preo. Elas so de ordem
natural, tecnolgica, internacional, econmico-fnanceira e energtica.
No que diz respeito aos aspectos naturais, o Brasil possui ventos de
boa qualidade, com baixas rajadas e reduzida turbulncia. A velocida-
de mdia dos ventos no pas de oito metros por segundo, maior que
a mdia europeia cinco metros por segundo.
Outra razo importante para a reduo dos preos da energia elica
no Brasil que os aerogeradores tm apresentado um enorme pro-
gresso tcnico nos ltimos anos. Novos modelos de turbina surgem
no mercado pelo menos a cada dois anos. E o Brasil comea a intro-
duzir esta fonte com uma safra de tecnologia mais efciente.
R$/MWh
301,4
163,5
Proinfa
2005
Leiles
2010
139,8
128,0
Leilo
2009
Leiles
2011
99,5
98,6
151
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Ademais, os preos tambm esto fortemente correlacionados crise f-
nanceira internacional. A desacelerao das economias norte-america-
na e europeia resultou na diminuio de investimentos no setor elico,
fazendo com que as indstrias de aerogeradores nestes pases fcassem
subcontratadas, ou seja, com estoque de produo em suas unidades.
A China poderia ser uma alternativa para estes fabricantes, pois o
pas com maior mercado crescente de energia elica. Todavia, o mer-
cado chins suprido basicamente por fabricantes locais. Assim, as
fbricas de aerogeradores europeias e norte-americanas passaram a
concentrar suas vendas em novos mercados como Amrica do Sul.
Neste contexto, o Brasil aparece como um polo de atrao de investi-
mentos para estas empresas. Afnal, a economia brasileira est no ca-
minho do crescimento sustentvel, com aumento da demanda de ele-
tricidade. Para os prximos dez anos, o pas necessitar de 65 000 MW
de nova capacidade energtica e a energia elica deve fcar com uma
parte deste mercado.
Estas razes nos ajudam a entender o grande nmero de fabrican-
tes interessados no mercado brasileiro e porque eles esto reduzindo
seus preos. Na verdade, isso parte de uma estratgia agressiva para
entrar no mercado brasileiro.
At na ltima dcada, o Brasil tinha apenas um indstria de turbinas
elicas, a Wobben Wind Power, subsidiria da alem Enercon. Como
resultado dos ltimos leiles, algumas indstrias de turbinas elicas
decidiram instalar fbricas no Brasil, assim como fbricas de outros
componentes de aerogeradores (p, nacelle, componentes eltricos).
V Consideraes Finais
A identifcao do Brasil como potncia energtica e ambiental mun-
dial nos dias de hoje no um exagero. O pas, de fato, um ma-
nancial rico em alternativas de produo das mais variadas fontes.
A oferta de matria-prima e a capacidade de produo em larga esca-
la exemplo para diversos pases.
152
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
M
a
u
r
i
c
i
o
T
i
o
m
n
o
T
o
l
m
a
s
q
u
i
m
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
A boa notcia que a matriz energtica brasileira continuar a ser
exemplo para o mundo nos prximos anos. Ela, que hoje j possui
forte participao das fontes renovveis de energia (hidrulica, elica,
etanol, biomassa, entre outras), ainda contar com uma predominn-
cia dessas fontes dentro de um prazo de dez anos.
Figura 11. Evoluo da oferta interna de energia
Fonte: EPE (PDE 2020)
De acordo com o planejamento energtico brasileiro de mdio pra-
zo, a hidroeletricidade sofrer uma leve queda da participao, assim
como a lenha e o carvo vegetal. Por outro lado, fontes como a energia
elica e os derivados da cana-de-acar, em especial o etanol, ganha-
ro participao na matriz, substituindo gradativamente a gasolina.
Assim, apesar da previso de aumento da produo de petrleo, es-
tima-se uma diminuio da sua fatia na composio da matriz, uma
vez que a maior parte da oferta adicional seria voltada para o mercado
externo (exportao).
Dessa forma, podemos concluir que o Brasil manter limpa a sua ma-
triz ao mesmo tempo em que se tornar um grande exportador de
petrleo. Nessas condies, esto reunidos os ingredientes essenciais
para que o Brasil se torne uma potncia ambiental e energtica do
sculo XXI.
153
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
2. As Perspectivas da Gerao Distribuda no
Brasil
Rui Guilherme Altieri Silva
Superintendente de Regulao dos Servios de Gerao SRG da
Agncia Nacional de Energia Eltrica (Aneel)
Marco Aurlio Lenzi Castro
Mestre em Engenharia Eltrica, atua como especialista em Regulao da Aneel
1. Introduo
A matriz eltrica brasileira fortemente baseada em fontes renovveis
de energia, especialmente devido grande disponibilidade de recur-
sos hdricos. A Figura 1 ilustra todas as fontes utilizadas no pas, em
termos de potncia instalada, considerando apenas a parte brasileira
da usina de Itaipu.
Figura 1: Matriz Eltrica Brasileira
Fonte: Aneel
154
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Conforme demonstrado na fgura, a base da matriz eltrica nacional
hidrulica, sendo que a participao das fontes elica e biomassa
vm aumentando gradativamente e, para os prximos anos, espera-se
maior destaque para essas fontes, em funo dos leiles de energia j
realizados, dos incentivos livre comercializao de energia gerada
por fontes renovveis, da possibilidade de se aumentar o nmero de
consumidores livres e do Programa de Incentivo s Fontes Alternati-
vas de Energia Eltrica (Proinfa).
Com relao fonte elica, em novembro de 2011 havia 63 usinas em
operao (1,2 GW), 34 em construo (930 MW) e 132 j autorizadas
(4,1 GW), mas que ainda no iniciaram a implantao. No entanto, a
fonte solar fotovoltaica apresenta apenas 6 pequenos empreendimen-
tos em operao (1 MW). Contudo, sabe-se que h outros pequenos
sistemas fotovoltaicos instalados principalmente em universidades,
mas que ainda no foram regularizados junto Agncia.
2. Conceito de Gerao Distribuda
Pode-se conceituar gerao distribuda como aquela localizada pr-
xima aos centros de carga, conectada ao sistema de distribuio ou
do lado do consumidor de pequeno porte e no despachada pelo
Operador Nacional do Sistema Eltrico (ONS). No entanto, h mais
de um conceito de gerao distribuda (GD) no meio acadmico e, a
princpio, tambm no se podem excluir os pequenos geradores que
utilizam combustveis fsseis desse conceito mais amplo.
H vrios tipos e tecnologias empregados na gerao distribuda a
partir de fontes renovveis de energia, entre os quais se podem citar:
Pequena Central Hidreltrica PCH;
Central Geradora Hidreltrica CGH;
Biomassa;
Elica;
Solar Fotovoltaico; e
Resduos Urbanos.
155
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
De forma geral, a presena de pequenos geradores prximos s cargas
pode proporcionar diversos benefcios para o sistema eltrico, entre
os quais se destacam:
A postergao de investimentos em expanso nos sistemas de
distribuio e transmisso;
O baixo impacto ambiental;
O menor tempo de implantao;
A reduo no carregamento das redes;
A reduo de perdas;
A melhoria do nvel de tenso da rede no perodo de carga pesada;
O provimento de servios ancilares, como a gerao de energia
reativa; e
A diversifcao da matriz energtica.
Por outro lado, h algumas desvantagens associadas ao aumento da
quantidade de pequenos geradores espalhados na rede de distribuio:
Aumento da complexidade de operao da rede de distribuio,
que passar a ter fuxo bidirecional de energia;
Necessidade de alterao dos procedimentos das distribuidoras
para operar, controlar e proteger suas redes;
Aumento da difculdade para controlar o nvel de tenso da
rede no perodo de carga leve;
Alterao dos nveis de curto-circuito das redes;
Aumento da distoro harmnica na rede;
Intermitncia da gerao, devido difculdade de previso de
disponibilidade da fonte (radiao solar, vento, gua, biogs),
assim como alta taxa de falhas dos equipamentos;
Alto custo de implantao; e
Tempo de retorno elevado para o investimento.
156
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
As Figuras 2 a 4
1
ilustram exemplos de implantao de gerao distri-
buda de pequeno porte na Europa e no Brasil.
Figura 2: Solar Alemanha Figura 3: Elica Santa Catarina
Figura 4: Biogs Paran
3. Gerao Distribuda no Mundo
A gerao de energia eltrica a partir de fontes renovveis uma
tendncia em diversos pases, em especial, na Europa, Estados
Unidos e Austrlia. Dentre os motivos que levaram adoo de
polticas pblicas arrojadas nesses pases, podem-se destacar:
Diversifcao da matriz energtica;
Reduo da dependncia de importao de combustveis fs-
seis para usinas trmicas, minimizando o risco de variaes
abruptas no preo do insumo energtico;
Comprometimento internacional de adotar medidas para com-
bater o aquecimento global, por meio da assinatura do Protoco-
lo de Kyoto e outros tratados internacionais;
Cumprimento de metas de reduo na emisso de gases de
efeito estufa;
1
A fonte de onde foram obtidas as Figuras de 2 a 4: Nota Tcnica n 0025/2011-SRD-SRC-
SRG-SCG-SEM-SER-SPE/ANEEL, de 20-6-2011.
157
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Liderana no desenvolvimento de tecnologia para produo
efciente de energia eltrica a partir de fontes elica, solar, bio-
massa, mar motriz, geotrmica e outras.
Para tanto, cada pas adotou estratgias distintas para incentivar a insta-
lao de gerao distribuda a partir de fontes renovveis, instaladas em
tenses de distribuio. Os principais mecanismos utilizados foram:
Criao de uma tarifa especial (Feed-in) para cada tipo de fonte;
Adoo do sistema de medio lquida da energia injetada
na rede de distribuio, descontado o consumo, e utilizao
desse crdito no abatimento da fatura nos meses posteriores
(Net Metering);
Estabelecimento de quotas de energia, por fonte, que devem ser
compradas compulsoriamente pelas distribuidoras.
A Tabela 1 ilustra a aplicao dos principais mecanismos de incentivo
utilizados em diversos pases.
Tabela 1: Incentivos para a gerao distribuda
Pas Feed in
tarif
Quota Net
Metering
Certicados/
Energia
Renovvel
Investimento
pblico/
Financiamentos
Leiles
Pblicos
de
Energia
Alemanha x x x
Austrlia x x x x
Brasil x x
Canad ** ** x x x
China x x x x
Dinamarca x x x x x
Espanha x x x
Estados
Unidos
** ** ** ** ** **
Itlia x x x x x
Japo x x x x x
Portugal x x
Reino
Unido
x x x x
** Nem todos estados/provncias desse pas adotaram esse sistema.
Fonte: Renewables 2010 Global Status Report
158
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Nos Estados Unidos, o Net Metering adotado em 44 estados, sendo que
dezenove oferecem fnanciamento pblico, trinta tm programas estru-
turados para fontes renovveis e 27 oferecem redues em impostos.
3.1 Principais resultados alcanados no mundo
A Figura 5 apresenta a capacidade adicionada em 2010 das fontes e-
lica, de biomassa, solar, hdrica de pequeno porte (< 10 MW), geotr-
mica e termossolar no mundo
Figura 5: Incremento de Gerao Distribuda em 2010
Fonte: Renewables 2011 Global Status Report
Conforme ilustrado na fgura, a fonte elica apresentou a maior in-
sero no mercado de gerao distribuda em 2010, com aproxima-
damente 39 GW. Na sequncia, destacaram-se as fontes hdrica, com
30 GW, e solar fotovoltaica, conectada na rede com 17 GW.
A Figura 6 ilustra a evoluo da adio de potncia instalada da fon-
te solar fotovoltaica conectada rede entre 2005 e 2010. Percebe-se
claramente a liderana da Alemanha na insero dessa fonte, assim
como o declnio da Espanha, em funo da reduo dos subsdios
praticados naquele pas.
159
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 6: Adio Anual de Gerao Solar Fotovoltaica
Fonte: Renewables 2011 Global Status Report
3.2 Principais resultados alcanados no Brasil
As Figuras 7 e 8 ilustram os principais resultados do Proinfa, dos lei-
les exclusivos de fontes alternativas e do Leilo de Energia Nova de
2011 (A-3), realizados at novembro de 2011. Os preos no foram
atualizados e representam os valores praticados na poca.
Figura 7: Energia contratada
Fonte: Renewables 2011 Global Status Report
160
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Figura 8: Valor mdio da energia
Conforme ilustrado nas Figuras 7 e 8, a fonte que apresentou os me-
lhores resultados foi a elica, comercializando cerca de 1600 MW m-
dios de energia em 2010 e 484 MW mdios em 2011, com preos m-
dios de venda inferiores PCH e biomassa. Destaca-se o forte retorno
das usinas a gs natural em 2011, com preos competitivos e grande
volume de energia ofertada.
Com relao s Chamadas Pblicas
2
realizadas pelas distribuidoras
para a contratao de gerao distribuda, entre jan/06 e mai/11, ape-
nas nove empresas fzeram uso desse expediente para contratar ener-
gia. A Tabela 2 apresenta os montantes de energia e a quantidade de
empreendedores contratados, por fonte, desconsiderando os contra-
tos realizados entre partes relacionadas (quando a usina pertence ao
mesmo grupo econmico da distribuidora).
Tabela 2: Chamadas Pblicas para Gerao Distribuda
(at maio/2011)
Hidrulica
(PCH/CGH)
Bagao Biogs Total
N Contratos GD 18 5 6 29
Energia (MW mdio) 89,03 8,11 0,5 97,64
Fonte: Aneel
Assim, com base na Tabela 2, pode-se verifcar que poucas distribui-
doras optaram por contratar energia por meio de chamada pblica e,
consequentemente, o nmero de empreendimentos de GD alcanados
2
Nos termos do art. 15 do Decreto n 5.163/2004.
161
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
por esse instrumento tambm foi muito reduzido, indicando que esse
modelo precisa ser aperfeioado, j que parece no ser sufcientemen-
te atraente para os pequenos geradores e para as distribuidoras.
4. Ambiente Regulatrio
O objetivo deste item apresentar os principais instrumentos legais e
regulatrios que tratam dos incentivos existentes, das condies para
contratao da energia produzida e dos requisitos mnimos para a co-
nexo de gerao distribuda nas redes pertencentes s distribuidoras.
O art. 26, 1 da Lei n 9.427, de 26/12/1996, com redao dada pela
Lei 11.488, de 15/06/2007, estabeleceu a competncia da Aneel para
defnir o percentual de desconto nas tarifas de uso dos sistemas de dis-
tribuio e transmisso, no inferior a 50%, para os empreendimentos
classifcados como pequena central hidreltrica PCH (potncia ins-
talada maior que 1 MW e menor ou igual a 30 MW) e aqueles de fonte
hdrica com potncia igual ou inferior a 1 MW, assim como para as
centrais geradoras com base em fontes solar, elica, biomassa e cogera-
o qualifcada, cuja potncia injetada nos sistemas de transmisso ou
distribuio seja menor ou igual a 30 MW, incidindo na produo e no
consumo da energia comercializada pelos aproveitamentos.
Segundo o 5 do art. 26 da referida lei, com redao dada pela Lei
n 10.438, de 26/04/2002, os empreendimentos citados no pargrafo
anterior, exceto cogerao qualifcada, podero comercializar energia
eltrica com consumidor ou conjunto de consumidores reunidos por
comunho de interesses de fato ou direito, cuja carga seja maior ou
igual a 500 kW, observada a regulamentao da Aneel.
O art. 3 da Lei n 10.438, de 2002, com redao alterada pela Lei
n 10.762, de 11/11/2003, instituiu o Programa de Incentivo s Fontes
Alternativas de Energia Eltrica (Proinfa), com o objetivo de aumen-
tar a participao da energia eltrica produzida por empreendimentos
com base em fontes elica, pequenas centrais hidreltricas e biomassa.
A Lei n
o
10.848, de 15/03/2004, determinou que as distribuidoras per-
tencentes ao Sistema Interligado Nacional (SIN) devero garantir o
atendimento totalidade de seu mercado. Para tanto, a energia deve
162
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
ser adquirida, dentre outras hipteses, por meio de leiles promovi-
dos pela Aneel, proveniente de usinas novas e existentes, assim como
de fontes alternativas.
Adicionalmente, o art. 2, 8, permite que a distribuidora adquira
parte da energia de empreendimentos caracterizados como gerao
distribuda, observados os limites de contratao e repasse s tarifas
dos consumidores, e tambm das usinas inseridas no Proinfa.
O Decreto n 5.163, de 30/07/2004, que regulamentou a Lei n 10.848,
de 2004, estabeleceu em seu art. 15 que a contratao de energia el-
trica proveniente de empreendimentos de gerao distribuda ser
precedida de chamada pblica promovida diretamente pela distribui-
dora, e limitou o montante contratado em 10% da carga da empresa.
O art. 34 do decreto regulamentou o Valor Anual de Referncia (VR),
que limite de repasse para as tarifas dos consumidores fnais da
energia adquirida pela distribuidora nas chamadas pblicas. A Aneel
publica os valores anuais do VR, calculados com base nos resultados
dos leiles de energia A-3 e A-5 realizados, ponderando os preos
obtidos e os montantes contratados em cada leilo.
A Tabela 3 apresenta os valores publicados para os anos 2008 a 2012.
Tabela 3: Valores de Referncia publicados pela Aneel
2008 2009 2010 2011
Valor de Referncia (R$/
MWh)
139,44 145,77 145,41 151,20
Por seu turno, a Aneel j editou diversas resolues que tratam de
gerao distribuda. A Resoluo Normativa n 77, de 18/08/2004, es-
tabeleceu os descontos nas tarifas de uso dos sistemas de transmisso
TUST e TUSD para empreendimentos hidreltricos com potncia
igual ou inferior a 1 MW, para aqueles caracterizados como peque-
na central hidreltrica PCH (maior que 1MW e menor ou igual a
30 MW) e para aqueles com base em fontes solar, elica, de biomassa
ou co-gerao qualifcada, cuja potncia injetada seja menor ou igual
a 30 MW, incidindo na produo e no consumo da energia comercia-
lizada pelos aproveitamentos.
163
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Segundo a resoluo, a regra geral o desconto de 50% na tarifa de
uso para os empreendimentos listados no pargrafo anterior. No en-
tanto, o art. 3 estabelece as condies para a concesso do desconto
de 100% nas tarifas de uso, dentre as quais destaca-se a seguinte:
Empreendimentos que utilizem como insumo energtico, no
mnimo, 50% de biomassa composta de resduos slidos urba-
nos e/ou de biogs de aterro sanitrio ou biodigestores de re-
sduos vegetais ou animais, assim como lodos de estaes de
tratamento de esgoto.
A Resoluo Normativa n 390, de 15/12/2009, dispe sobre os requi-
sitos necessrios outorga de autorizao para explorao e alterao
da capacidade instalada de usinas termeltricas e de outras fontes al-
ternativas de energia, os procedimentos para registro de centrais ge-
radoras com capacidade instalada reduzida.
Para a autorizao e registro de usinas elicas, aplica-se a Resoluo
Normativa n 391, de 15/12/2009. Com relao s pequenas usinas
hidrulicas, aplica-se a Resoluo n 395, de 4/12/1998.
A Resoluo Normativa n 395, de 15/12/2009, aprovou os Procedi-
mentos de Distribuio PRODIST, que contemplam, dentre outros,
os Mdulos 3 (Acesso ao Sistema de Distribuio) e 5 (Medio).
4.1.1 Incentivos para gerao distribuda
Com base em toda a legislao apresentada, podem-se destacar os se-
guintes incentivos para a instalao de gerao distribuda que utili-
zem fontes hdrica, solar, de biomassa ou co-gerao qualifcada, com
injeo de at 30 MW na rede de distribuio:
Desconto mnimo de 50% na tarifa de uso do sistema de distri-
buio, aplicvel na produo e no consumo;
Possibilidade de venda de energia para consumidores livres e
especiais;
As PCH e CGH esto dispensadas de pagar compensao f-
nanceira aos municpios atingidos pelo reservatrio da usina;
164
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
As PCH e CGH podem aderir ao Mecanismo de Realocao de
Energia (MRE), para reduo dos riscos hidrolgicos dentro do
sistema interligado;
Iseno de pagamento anual de 1% da sua receita operacional
lquida em pesquisa e desenvolvimento do setor eltrico;
Possibilidade de vender energia nos leiles especfcos para fon-
tes alternativas, promovidos pelo Ministrio de Minas e Ener-
gia (MME) e organizados pela Aneel;
Possibilidade de vender energia diretamente distribuidora
por meio de Chamada Pblica;
Venda de energia dentro da cota, preos e condies de fnan-
ciamentos estabelecidos no Proinfa; e
As centrais geradoras com registro possuem procedimento de
acesso simplifcado, necessitando apenas das etapas de solicita-
o de acesso e parecer de acesso, o que agiliza o processo.
Alm dos incentivos j listados anteriormente, existe a possibilidade
de os empreendimentos de gerao distribuda, que utilizam fontes
renovveis de energia, obterem renda adicional por meio da venda de
crditos de carbono a empresas estrangeiras, dentro das regras esta-
belecidas no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), criado
pelo Protocolo de Kyoto.
Regulamentao da gerao distribuda de pequeno porte
Consulta Pblica n15/2010
Com o objetivo de mapear as barreiras regulatrias existentes para
a conexo de gerao distribuda de pequeno porte na rede de dis-
tribuio, a Aneel realizou a Consulta Pblica n 15/2010, no per-
odo de 10/9 a 9/11/2010, onde foi disponibilizada a Nota Tcnica
n 0043/2010-SRD/ANEEL com 33 questes divididas em seis temas
principais, a saber: a) caracterizao dos empreendimentos; b) cone-
xo rede; c) regulao; d) comercializao de energia; e) propostas;
e f) questes gerais.
165
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
O objetivo da Consulta Pblica foi alcanado, j que as 577 contribui-
es recebidas de 39 agentes permitiram o mapeamento das principais
barreiras para a instalao da gerao distribuda de pequeno porte.
A principal barreira regulatria apontada foi a falta de regulamen-
tos especfcos para gerao distribuda, com tratamento de questes
sobre conexo, medio, contratao de energia, clculo de garantia
fsica e lastro para fontes intermitentes.
4.2 Audincia Pblica n 42/2011
Com base nas contribuies recebidas na Consulta Pblica n 15/2010,
a Aneel abriu a Audincia Pblica n 42/2011, realizada no perodo
de 8/8 a 14/10/11, com seo presencial no dia 6/10 na sede da Aneel,
disponibilizando minutas de resoluo e de nova seo do Mdulo 3
do PRODIST para tratar do acesso e do arranjo regulatrio para ex-
portar energia para a rede de distribuio.
Foram recebidas quatrocentas contribuies de 51 diferentes agen-
tes, incluindo distribuidoras, geradoras, universidades, fabricantes,
associaes, consultores, estudantes, poltico e demais interessados
no tema.
4.2.1 Principais Propostas da AP n 42/2011
4.2.1.1 Conceitos
Tendo em vista as normas internacionais, trabalhos acadmicos e
tambm as contribuies recebidas na Consulta Pblica n 15/2010,
foram propostas as seguintes defnies para serem utilizadas nos re-
gulamentos da Agncia:
Microgerao Distribuda: central geradora de energia eltri-
ca, com potncia instalada menor ou igual a 100 kW, que utili-
ze fontes com base em energia solar, elica, de biomassa e co-
gerao qualifcada, nos termos de regulamentao especfca,
conectada na rede de baixa tenso da distribuidora atravs de
instalaes de consumidores, podendo operar em paralelo ou
de forma isolada, no despachada pelo ONS.
166
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Minigerao Distribuda: central geradora de energia eltrica,
com potncia instalada maior que 100 kW e menor ou igual a
1 MW, que utilize fontes com base em energia solar, elica, de
biomassa e co-gerao qualifcada, nos termos de regulamenta-
o especfca, conectada diretamente na rede da distribuidora,
em qualquer tenso, ou atravs de instalaes de consumidores,
podendo operar em paralelo ou de forma isolada, no despa-
chada pelo ONS.
4.2.1.2 Sistema de Compensao de Energia
Conforme ilustrado na Figura 9, o Sistema de Compensao de
Energia, internacionalmente conhecido como Net Metering, consis-
te na medio do fuxo de energia em uma unidade consumidora
dotada de pequena gerao, por meio de um nico medidor, que
dever ser bidirecional.
Figura 9: Diagrama esquemtico do sistema de compensao de energia
Fonte: Aneel
Dessa forma, se em um perodo de faturamento a energia gerada
for maior que a consumida, o consumidor receberia um crdito em
energia (isto , em kWh e no em unidades monetrias) na fatura
seguinte. Caso contrrio, o consumidor pagaria apenas a diferena
entre a energia consumida e a gerada.
167
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
importante destacar que este sistema adotado em diversos pases, tais
como: Canad, Dinamarca, Itlia, Japo e em 44 estados americanos.
De forma geral, as contribuies apresentadas na Consulta Pblica
n
o
15/2010 convergem para a opinio de que h viabilidade operacional
para as distribuidoras realizarem a medio e contabilizao das ener-
gias injetadas e consumidas pelos consumidores com gerao instalada.
Pode-se considerar o Sistema de Compensao de Energia como uma
ao de efcincia energtica, pois haver reduo de consumo e do
carregamento dos alimentadores em regies com densidade alta de
carga, com reduo de perdas e, em alguns casos, postergao de in-
vestimentos na expanso do sistema de distribuio.
Convm ressaltar que o Sistema de Compensao de Energia promo-
ve apenas a troca de kWh entre o consumidor com gerao distribu-
da e a distribuidora, no envolvendo a circulao de dinheiro. Even-
tuais saldos positivos de gerao em um ms seriam utilizados para
abater o consumo nos meses seguintes.
A Figura 10 ilustra a curva de carga tpica de um consumidor resi-
dencial (baixa tenso) que possui gerao solar fotovoltaica em suas
instalaes, demonstrando a oportunidade de adoo do Sistema de
Compensao de Energia.
Figura 10: Curva de carga consumidor em baixa tenso
Fonte: Aneel
168
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Para o exemplo da Figura 10, a troca de energia entre a unidade con-
sumidora do Grupo B e a distribuidora ocorreria todos os dias da
semana, entre 8h e 16h.
Para consumidor com tarifa horossazonal, a energia gerada dever
abater o consumo no mesmo posto horrio. Se houver excedente, a
gerao ser valorada segundo a relao entre as tarifas de energia
(ponta e fora de ponta) e utilizada para compensar o consumo no
outro posto tarifrio.
Os montantes de energia gerada que no tenham sido compensados
na prpria unidade consumidora podem ser utilizados para compen-
sar o consumo de outras unidades previamente cadastradas para esse
fm, atendidas pela mesma distribuidora, cujo titular seja o mesmo da
unidade com sistema de compensao de energia.
Em termos econmicos, a instalao de pequenos geradores poderia
ser de interesse do consumidor nas reas de concesso onde os va-
lores das tarifas de fornecimento da classe residencial encontram-se
em patamares prximos aos valores tpicos da energia produzida por
fontes de gerao distribuda, aps a insero dos impostos (ICMS,
PIS e COFINS), conforme ilustrado na fgura que se segue.
Figura 11: Tarifa fnal do consumidor residencial com impostos
Obs.: Atualizado em nov/2011.
Fonte: Aneel
169
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Com base na Figura 11, verifca-se que h onze distribuidoras com ta-
rifas fnais (aps impostos) acima de 600 R$/MWh, e 24 com valores
entre 500 e 600 R$/MWh, envolvendo estados como Minas Gerais, Ma-
ranho, Tocantins, Cear, Piau, parte do Rio de Janeiro, Mato Grosso e
interior de So Paulo, por exemplo. Tais valores viabilizariam o uso da
gerao solar fotovoltaica, que a mais cara, estimada entre 500 e 600
R$/MWh, com a adoo do Sistema de Compensao de Energia.
Deve-se destacar que a diferena entre as duas curvas apresentadas
na fgura refere-se aplicao dos impostos e tributos federais e esta-
duais, elevando o valor da tarifa publicada pela Aneel em aproxima-
damente 30%.
4.2.1.3 Acesso rede de distribuio
As propostas a seguir visam a reduzir as barreiras para o acesso de
micro e minigeradores distribudos rede de distribuio:
Elaborao de seo especfca no Mdulo 3 (Acesso) do
PRODIST para gerao distribuda;
Dispensar a celebrao dos Contratos de Uso e de Conexo ao
Sistema de Distribuio (CUSD e CCD) para as centrais que
participem do Sistema de Compensao de Energia, bastando
frmar um Acordo Operativo;
Atribuir distribuidora a responsabilidade de realizar todos os
estudos para a integrao de micro e minigerao distribuda,
sem nus para o acessante;
Defnio dos requisitos mnimos e, em alguns casos mximos,
para o sistema de proteo das usinas, divididos por porte da
usina e nvel de tenso de conexo; e
As distribuidoras devero elaborar ou revisar normas tcnicas
para tratar do acesso de micro e minigerao distribuda, utili-
zando como referncia o PRODIST, as normas tcnicas brasi-
leiras e, de forma complementar, as normas internacionais.
170
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
4.2.1.4 Propostas para Fonte Solar
A Figura 12 apresenta o mapa de radiao solar do Brasil, demons-
trando o potencial brasileiro para gerao de energia eltrica a partir
do uso do sol como fonte primria.
Figura 12: Mapa de radiao solar
Fonte: Atlas de Energia Eltrica do Brasil, Aneel, 2. ed. , 2005
Tendo em vista o fato de o custo da gerao solar ainda ser elevado,
o que resulta em desvantagem competitiva diante das demais fontes
renovveis de energia, e considerando-se tambm o enorme poten-
cial brasileiro e a competncia da Aneel dada pelo art. 26, 1 da Lei
n 9.427, de 1996, para estabelecer o desconto nas tarifas de transpor-
te de energia, prope-se:
Elevao dos descontos na TUSD/TUST para gerao solar para
80%, aplicvel nos dez primeiros anos de operao da usina.
171
R
u
i
G
u
i
l
h
e
r
m
e
A
l
t
i
e
r
i
S
i
l
v
a
|
M
a
r
c
o
A
u
r
l
i
o
L
e
n
z
i
C
a
s
t
r
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Aps esse prazo, o desconto seria reduzido para 50% (valor atual).
5. Concluso
A gerao de energia a partir de fontes alternativas de energia uma
tendncia e necessidade em diversos pases do mundo, em especial
os Estados Unidos, os pases membros da Unio Europeia, Austrlia,
China e Japo.
No Brasil h vrios incentivos para as Pequenas Centrais Hidrel-
tricas, Centrais Elicas e para a base de Biomassa que injetam at
30 MW de potncia nas redes de distribuio e transmisso. Os lei-
les de energia j realizados proporcionaram a expanso dessas fon-
tes, especialmente a elica, a preos mdicos para o consumidor.
No entanto, a gerao distribuda de pequeno porte, com potncia
instalada menor ou igual a 1 MW, que est conectada na rede de dis-
tribuio (inclusive em baixa tenso), enfrenta barreiras tcnicas, re-
gulatrias e legais para conexo e comercializao da energia, assim
como difculdades para viabilizar economicamente os projetos.
A Audincia Pblica n 42/2011 apresentou propostas para reduzir as
barreiras para o acesso de centrais geradoras at 1 MW, que utilizem
fontes incentivadas de energia (hdrica, elica, de biomassa e solar),
assim como para a fonte solar at 30 MW.
Por fm, deve-se ressaltar que aps a anlise das contribuies rece-
bidas na referida audincia e deliberao pela diretoria da Aneel, a
verso fnal do regulamento pode ser diferente das propostas apre-
sentadas neste artigo.
173
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
3. Os Microaproveitamentos Hidrulicos e a
Gerao Descentralizada
Augusto Nelson Carvalho Viana
Professor da Engenharia Hdrica do Instituto de Recursos Naturais da
Universidade Federal de Itajub (UNIFEI) e coordenador do Grupo de Energia
Fabiana Gama Viana
Mestre em Planejamento Energtico, trabalha no Ncleo Interdisciplinar de
Planejamento Energtico (NIPE) da Unicamp
1. Introduo
O acesso aos servios pblicos, nestes includa a energia eltrica, im-
prescindvel para o desenvolvimento individual e da sociedade, afr-
ma Fugimoto (2005). Os servios pblicos, completa Martinez (apud
GOMES & RIBEIRO, 2005), representam a construo social que con-
fere ao cidado a condio de direitos fundamentais e universais, sem
os quais as pessoas estariam seriamente limitadas para desenvolver suas
capacidades, exercer seus direitos ou equiparar oportunidades.
A eletrifcao rural sempre foi um grande desafo para o setor eltri-
co brasileiro. A universalizao dos servios de energia eltrica teve
importncia marginal no incio da reestruturao do setor na dca-
da de 1990, e a expanso da eletrifcao rural entrou tardiamente
na pauta de discusses dos tomadores de deciso. Segundo dados do
Censo de 2000, dois milhes de famlias do meio rural viviam sem
energia eltrica, sendo que 90% delas contavam com renda inferior
a trs salrios mnimos e estavam, em sua grande maioria, nos locais
com menor ndice de Desenvolvimento Humano.
174
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Recentemente, o programa federal de eletrifcao rural Luz Para To-
dos, criado em 2003, alcanou sua meta inicial de atender 10 milhes
de pessoas sem acesso energia eltrica. Praticamente todas essas novas
ligaes foram realizadas atravs da extenso da rede de eletricidade.
1
Segundo dados do Ministrio de Minas e Energia (MME), at outubro
de 2011, o Luz Para Todos contabilizou o atendimento a 14,3 milhes
de pessoas no meio rural, sendo que, em 2012, devero ocorrer 500 mil
novas ligaes (Figura 1). Alm disso, verifcou-se que, com a chegada
da energia eltrica nessas localidades, aumentou-se o nmero de televi-
sores e geladeiras, o que movimentou tambm a economia local.
Mesmo com o sucesso inicial do programa, h ainda domiclios que
no possuem infraestrutura para receber energia eltrica. Conside-
rando-se a meta inicial (2 milhes de ligaes) e as novas metas (mais
1 milho de ligaes), aponta o Ministrio de Minas e Energia, 85%
do programa foram cumpridos. A grande maioria est localizada em
reas rurais distantes da rede de distribuio e com acesso precrio,
como ocorre em comunidades isoladas na Amaznia ou naquelas
com restries legais, que impedem a extenso da rede convencional,
como no caso das reservas legais.
Figura 1 Beneficiados pelo Programa Luz Para Todos at
outubro/2011
Fonte: MME, 2011
1
O Programa Luz para Todos contempla o atendimento das demandas no meio rural atra-
vs da extenso de rede, dos sistemas de gerao descentralizada com redes isoladas e de
sistemas de gerao individuais.
175
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
O desafo atual da universalizao no Brasil buscar solues tecnolgi-
cas, institucionais e regulatrias que possam atender essa realidade. Os
sistemas descentralizados ou autnomos de gerao de energia eltrica
possuem papel importante a desempenhar nesse sentido, sendo, muitas
vezes, uma opo mais barata em comparao extenso da rede.
Os pequenos aproveitamentos hidroenergticos so uma tecnologia a
ser adotada. Entretanto, a falta de uma regulamentao especfca e de
uma poltica de governo acabam impedindo e difcultando a implan-
tao desses empreendimentos nas comunidades isoladas com poten-
cial para isso. Ainda assim, quando h regulamentao voltada para as
fontes renovveis alternativas, os pequenos empreendimentos hidro-
energticos acabam fcando de fora, como foi o caso das resolues
Aneel n 390 e n 391, voltadas para as usinas elicas e termeltricas.
Neste trabalho sero apresentados a situao dos equipamentos
para PCHs, incluindo as Centrais Hidrulicas de Gerao (CGHs),
as turbinas no convencionais de baixo custo Michell-Banki e Bom-
bas Funcionando como Turbinas, e dois estudos de caso de gerao
descentralizadas.
2. Equipamentos Para PCHs
A Pequena Central Hidreltrica (PCH) de acordo com a Lei n 9.648,
de 1998, da Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL) classif-
cada de acordo com sua potncia, que pode ser at 30 MW, com limite
inferior de 1 MW. As usinas menores que 1 MW so classifcadas como
Centrais Geradoras Hidrulicas (CGHs). Os aproveitamentos hidroe-
nergticos menores que 100 kW so encontrados no meio rural ou em
locais isolados onde existe um crrego e uma queda dgua. Nestes lo-
cais podem ser instalados geradores acionados por turbinas hidrulicas
em substituio aos geradores a diesel encontrados em operao.
Os equipamentos para PCHs e CGHs so principalmente compostos de:
grades e limpa-grades;
comportas de vrios tipos com seus sistemas de movimentao
e sustentao;
176
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
vlvulas com sistemas de abertura e fechamento;
tubulaes, juntas de dilatao, acessrios de tubulaes, portas
de inspeo e aeradores;
cavaletes, talhas, pontes rolantes mecnicas e automatizadas;
turbinas, volantes e reguladores;
alternadores, quadro de comando e proteo;
transformadores, subestaes, linhas de transmisso e seus
componentes;
sistemas de comunicao.
No caso das PCH, o Brasil muito bem atendido por empresas mul-
tinacionais e nacionais. A fabricao no Brasil de componentes me-
cnicos, eltricos e eletrnicos completa, seja por multinacionais e/
ou indstrias genuinamente brasileiras. No que se refere aos compo-
nentes do grupo gerador (turbinas, geradores e reguladores de veloci-
dades), em princpio as multinacionais importam o projeto e alguns
componentes, enquanto que as nacionais realizam todo o ciclo com
seus prprios recursos.
Em funo da pouca utilizao de equipamentos para centrais me-
nores que 100 kW existem poucos fabricantes nacionais, mas eles
atendem satisfatoriamente o mercado. Entretanto, principalmente no
caso das turbinas e geradores de alguns fabricantes os rendimentos
tm se mostrado muito baixos.
No caso especfco deste tipo de central, os equipamentos eletro-
mecnicos representam em determinados casos at 40% do custo
global, como indicado na Figura 2. Isto mostra a importncia de se
melhorar a efcincia do maquinrio, mesmo se tratando de potn-
cias inferiores a 100 kW. Para ocorrer uma expanso desse tipo de
fabricante, incentivos do governo devero existir e haver natural-
mente uma regionalizao dessas centrais, de modo a satisfazer as
necessidades, o que implicar no estabelecimento de um sistema de
superviso em nveis municipal e estadual, os quais ainda inexis-
tem, apesar de serem imprescindveis.
177
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 2 Parcelas de custos de centrais de pequeno porte
Fonte: Elaborao prpria, adaptado de Chapallaz et al. (1992)
No caso de centrais com potncias inferiores a 100 kW existem alguns
fabricantes nacionais comercializando, a um baixo custo, reguladores
eletrnicos de carga que tm a funo de manter o grupo gerador
com frequncia constante.
3. Turbinas Hidrulicas no Convencionais
Para se ter um custo baixo do equipamento em centrais abaixo de
100 kW, principalmente o conjunto gerador, em substituio s tur-
binas convencionais Pelton, Francis e Kaplan, o Grupo de Energia da
Universidade Federal de Itajub (GEN-UNIFEI) vem desenvolvendo
desde 1986 turbinas no convencionais como Michell-Banki e Bom-
bas Funcionando como Turbina (BFT).
A turbina Michell-Banki foi inicialmente patenteada na Inglaterra, em
1903, por A.G. Michell, engenheiro australiano. Mais tarde, entre 1917
e 1919 esta mquina foi pesquisada e divulgada pelo professor hngaro
Danot Banki, conforme Tiago Filho (1989). O fabricante mais antigo
e respeitado no mundo inteiro, para este tipo de turbina, a empresa
alem Ossberger Turbinenfabrik, que desde 1923 associou-se Michell
e j fabricou mais de 7 mil unidades com bons rendimentos.
178
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
O exemplo brasileiro da turbina Michell-Banki foi desenvolvido por
Tiago Filho (1987) no Laboratrio Hidromecnico de Pequenas Cen-
trais Hidreltricas da Unifei, onde foi projetado, construdo e testa-
do um modelo desta turbina genuinamente nacional. A partir da,
em um trabalho subsequente realizado pelo mesmo autor (TIAGO
FILHO, 1991), melhorias foram realizadas com a turbina Michell-
Banki, que atingiu rendimentos da ordem de 73%. A Figura 3 mostra
a turbina Michell-Banki desenvolvida por Tiago Filho (op.cit., 1987)
e suas partes principais.
Figura 3 Modelo brasileiro desenvolvido por Tiago Filho (1987)
1 Conduto forado 2 Pea de transio 3 Injetor 4 P diretriz
5 Tampa do injetor 6 Eixo do rotor 7 Rotor 8 Tampa
Hoje no Brasil a Betta Hidroturbinas de Franca, So Paulo, fabrica
turbinas Michell-Banki. Em 1984, essa empresa iniciou suas ativida-
des no ramo de projetos, fabricao e comercializao de centrais hi-
dreltricas de pequeno porte, destinadas a atender principalmente o
meio rural e as comunidades isoladas, distantes de grandes centros.
O campo de aplicao das turbinas Michell-Banki atende a quedas
de 3 a 100 m, vazes de 0,02 a 2,0 m
3
/s e potncias de 1 a 100 kW.
Devido simplicidade construtiva, esse tipo de turbina apresenta um
custo menor em relao s convencionais Francis e Pelton. A turbina
Michell-Banki indicada para ser usada em centrais hidreltricas de
179
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
pequeno porte, mesmo sendo seu rendimento um pouco abaixo da-
quelas convencionais.
Outro tipo de turbina no convencional estudada no Grupo de Energia
da Unifei a bomba operando em reverso como turbina, denominada no
Brasil por Bomba Operando como Turbina-BFT, conforme Viana (1987).
As bombas hidrulicas so equipamentos produzidos em srie, utili-
zados amplamente na agricultura (irrigao), no saneamento e na in-
dstria. Consequentemente, seu custo tende a ser inferior ao de uma
turbina, com potncias e dimenses semelhantes.
Analisando-se os aspectos construtivos e hidrulicos de bombas e tur-
binas, percebe-se que estes equipamentos so bastante semelhantes,
desempenhando, porm, processos opostos. Bombas so mquinas
geratrizes, ou seja, convertem a energia mecnica (de eixo), fornecida
pelo motor, primeiramente em energia cintica (de velocidade) e, fnal-
mente, em energia de presso. J uma turbina realiza o processo oposto,
convertendo a energia hidrulica disponvel em potncia de eixo, sendo
considerada uma mquina motriz, conforme mostra a Figura 4.
Figura 4 Bomba Funcionando como Bomba e Bomba Funcionando
como Turbina (BFT)
Bomba Funcionando como Bomba Bomba Funcionando como Turbina
Motivados pelos fatores apresentados anteriormente, alguns pesqui-
sadores passaram a estudar a utilizao de bombas funcionando como
turbinas (BFTs) em substituio s turbinas convencionais, principal-
mente em centrais hidreltricas de pequeno porte. Essa alternativa,
180
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
apesar de ainda pouco difundida, j conhecida h vrias dcadas
como comprova, por exemplo, o trabalho de Viana (1987). No Bra-
sil, os primeiros estudos sobre BFTs foram desenvolvidos por Viana
(1987), na ento Escola Federal de Engenharia de Itajub (EFEI), atu-
al Universidade Federal de Itajub (UNIFEI). As vantagens da utiliza-
o de BFTs em substituio s turbinas convencionais so, de acordo
com Viana (2002):
Vantagens econmicas: como j mencionado, bombas so mais
baratas que turbinas, uma vez que seu mercado consumidor
muito amplo, ocorrendo, portanto, produo em massa, o que
no acontece com turbinas;
Disponibilidade: a disponibilidade de bombas e suas peas de
reposio muito maior do que de turbinas, principalmente em
pases em desenvolvimento;
Construo: bombas so simples e robustas, no exigindo conhe-
cimento tcnico altamente qualifcado para sua manuteno;
Bombas e motores podem ser adquiridos em conjunto, forman-
do um grupo gerador completo;
Bombas apresentam uma ampla faixa de tamanhos e potncias,
atendendo aos mais diversos tipos de aproveitamento hidreltrico;
O tempo de entrega de bombas infnitamente menor que o
de turbinas;
A instalao de grupos moto-bomba mais simples que a de
grupos geradores convencionais.
Grupos moto-bomba, com acoplamento direto, reduzem as perdas
na transmisso de potncia atravs de correias, por exemplo. Exis-
tem vrios mtodos de seleo da bomba para operar como turbina,
destacando-se aqueles estudados por Viana (1987) e Chapallaz et al.
(1992). Ambos desenvolvidos com base em resultados experimentais.
181
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4. Exemplos de Gerao Descentralizada
4.1 Comunidade de Aru
O projeto Cachoeira do Aru Um Modelo Energtico Sustentvel
envolvendo Organizaes de Base Comunitria, CT-ENERG/MME/
CNPq003/2003, Nmero do Processo 50.4722/2003-4, foi realizado
entre 2005 e 2007.O estudo foi desenvolvido na Comunidade de Aru,
no municpio de Santarm, Estado do Par. O trabalho envolveu a
Universidade Federal de Itajub (UNIFEI/CERPCH), a WINROCK
Internacional e o Projeto Sade Alegria (PSA). Cada instituio con-
tribuiu com as seguintes atividades:
Unifei/CERPCH Sob a coordenao geral do professor Au-
gusto Nelson Carvalho Viana, levantamentos de dados do apro-
veitamento; projeto e instalao da Microcentral Hidreltrica
Aru (MCH Aru); testes na MCH e treinamento de operao
e manuteno de membros da comunidade;
WINROCK Aplicao do gerenciamento da MCH atravs do
modelo Prisma, modelo para Microgerao e Promoo do De-
senvolvimento Local;
PSA Acompanhamento e apoio das equipes da Unifei/CERP-
CH e WINROCK de Santarm ao local da Comunidade Aru.
Santarm limita-se com os municpios de bidos, Alenquer, Monte
Alegre, Prainha, Aveiro e Juruti. Alm do rio Tapajs, que banha a
cidade-sede, passam pelo municpio os rios Arapiuns, Curu-Una e
Mapiri; os igaraps Au (no Tapajs), gua Boa (no Arapiuns) e An-
dir ou Igarap, afuente do Tapajs.
Dentro dos limites de Santarm, encontra-se a comunidade da Vila
da Cachoeira do Aru, que dista aproximadamente 180 km, por via
fuvial, da cidade. O acesso vila se d pelos rios Tapajs/Arapiuns/
Aru. De Santarm at a Cachoeira do Aru, o tempo de percurso em
barcos grandes a motor de aproximadamente doze a quatorze horas.
182
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
O sucesso do projeto deu-se pelas seguintes razes: envolvimento da
parte tcnica da universidade na concepo da central hidreltrica;
envolvimento da ONG Sade e Alegria, sediada em Santarm, conhe-
cedora das comunidades locais, seus costumes e realidades; partici-
pao ativa da WINROCK no Projeto Prisma, que apresentou um
inovador modelo de gesto para o servio de eletricidade, o qual foi
suprido por fontes energticas locais, renovveis, exploradas e geridas
pela prpria comunidade.
Na questo da execuo do projeto da central hidreltrica, os com-
ponentes hidromecnicos e eletromecnicos foram adquiridos pra-
ticamente no local, ou seja, em Santarm, alm da obra ter sido exe-
cutada por uma empresa da cidade, conhecedora das difculdades de
acesso comunidade, o perodo de chuvas, entre outras. Na poca,
a vila era formada por 45 famlias residentes no local e por outras
27 que viviam um pouco mais afastadas. As atividades econmicas
desenvolvidas por essas famlias apresentavam baixa produtividade,
pois no possuam os meios tecnolgicos para aumentar a produo
e melhorar a qualidade dos produtos. As atividades se restringiam
ao extrativismo, agricultura de subsistncia, caa, pesca, entre
outras. O suprimento de energia eltrica era feito por um pequeno
gerador eltrico acionado por um motor a diesel, que funcionava
nos fnais de semana, por duas ou trs horas para atender 30 das 45
famlias. Outras cinco famlias utilizavam uma precria roda dgua
como fonte de eletricidade. Com o advento da energia eltrica da cen-
tral promoveu-se um desenvolvimento sustentvel da populao do
assentamento, com o uso racional de recursos naturais. Os resulta-
dos trouxeram uma imediata melhoria da qualidade e do padro de
vida dos envolvidos, tendo a gerao descentralizada de energia um
mnimo de impacto ambiental. O arranjo geral do aproveitamento
uma CGH de desvio, com regime operativo a fo dgua, isto , no h
formao de reservatrio e nem acumulao de gua pela barragem.
Esta, de madeira do tipo Ambursen, est localizada margem esquer-
da, com 8 m de comprimento e 3 m de largura, soluo encontrada
para desviar parte da gua do rio para alimentar a central. A tomada
dgua tem comprimento de 3 m, altura de 1,45 m, largura de 1,5 m e
uma lmina dgua de 23,5 m de comprimento (Figura 5) construda
183
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
com chapas de ao composta de grade e comporta de servio para
manuteno e limpeza sustentada por colunas. O conduto de baixa
presso, de dimetro de 0,950 m, est localizado na tomada dgua
(Figura 5) e o conduto forado alimenta as turbinas da casa de mqui-
nas (Figura 6). A turbina do tipo Francis possuindo queda lquida
de 7,28 m, uma vazo 1,12 m
3
/s, uma potncia nominal de 50 kW,
uma rotao de 589 rpm, uma altura de suco de 4 m est acopla-
da ao gerador por polias e correias (Figura 7). O gerador trifsico,
sncrono, tenso 220 V, fator de potncia 0,8, 65 kVA de potncia e
rotao de 1800 rpm (Figura 7). O transformador possui potncia
nominal de 75 kVA, tenso primria de 220 V, tenso secundria de
13,8 kV, isolado e resfriado a leo com circulao natural (Figura 8).
Figura 5 Tomada dgua e conduto
Tomada dgua Conduto de baixa presso
Figura 6 Conduto forado, casa de mquinas e tubo de suco
Conduto forado e casa de mquinas Casa de mquinas e tubo de suco
184
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Figura 7 Grupo gerador
Turbina Francis, fabricante de Santarm Acoplamento por polias e correias turbina
gerador
Figura 8 Transformador e mini-rede
Transformador Mini rede de distribuio
A CGH encontra-se em operao desde dezembro de 2005 atenden-
do 51 consumidores domiciliares, produtivos e pblicos, todos com
medidores de energia. Os operadores foram identifcados na comuni-
dade e treinados em operao e manuteno (O&M) pelo fabricante e
pelo Centro Nacional de Pequenas Centrais Hidreltricas (CERPCH/
UNIFEI), alm do treinamento na parte de redes de distribuio rea-
lizado pela Celpa.
Os resultados obtidos aps a implantao da Central de Gerao Hi-
dreltrica so:
Criao da Associao dos Moradores e Produtores de Energia
de Cachoeira do Aru (AMOPE), que administra a microusina
(cobrana da energia), o sistema de abastecimento de gua e a
movelaria (Figura 9);
Movelaria Comunitria fabricao de mveis para serem co-
mercializados em Santarm (Figura 9);
185
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Telecentro Comunitrio possui trs computadores com aces-
so Internet via satlite e utilizado pelos jovens e monitores
(Figura 10).
Alm do conforto adquirido nos domiclios como iluminao, gela-
deira, televiso, entre outros, a energia trouxe como benefcio o mi-
crossistema de abastecimento de gua (Figura 9), a iluminao no
Posto de Sade (Figura 10), a mercearia e a padaria (Figura 11), o bar
e a sorveteria (Figura 12). Da mesma forma, a Escola Estadual passou
a funcionar tambm no perodo noturno, dando oportunidade al-
fabetizao de adultos. Outras informaes desse projeto podem ser
encontradas no Relatrio Final entregue ao CNPq (2007).
Figura 9 Sistema de abastecimento de gua e movelaria
Micro-sistema de abastecimento de gua Movelaria
Figura 10 Telecentro Comunitrio e Posto de Sade
Telecentro Posto de Sade
186
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Figura 11 Mercearia e Padaria
Mercearia com freezer (incluso de vendas
de carne e peixes)
Produo de pes com forno eltrico
Figura 12 Sorveteria e Bar
Sorvetes de castanha, cupuau e murici Bilhar Bar
4.2 Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA)
O Parque Estadual Ilha Anchieta (PEIA) uma Unidade de Conserva-
o da Natureza do Grupo de Proteo Integral, conforme determina
a Lei Federal n 9.985, de 18/7/2000. Localizado no municpio de Uba-
tuba, So Paulo, a segunda maior ilha do litoral norte do estado, com
permetro de 17 km, sendo dois de praias, perfazendo uma rea total
de 828 ha. O acesso ao parque se d por via martima, principalmente
a partir do per do Saco da Ribeira, na baa do Flamengo, do qual dista
4,3 milhas nuticas (8 km). O PEIA recebe, em mdia, 65 mil visitan-
tes controlados por ano, dentro dos programas de turismo ambiental,
histrico-cultural e pesquisa, sendo o maior nmero de visitas realiza-
do entre dezembro e maro, alm do ms de julho. O efetivo do Parque
conta, em mdia, com quatorze funcionrios, entre pessoal adminis-
trativo, monitores tursticos, servios gerais e seguranas, incluindo
funcionrios pblicos e terceirizados. Destes, sete funcionrios per-
manecem em tempo integral na Ilha (com pernoite) e os demais por
187
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
aproximadamente oito horas/dia. Devido s atividades tursticas, esse
efetivo atua sete dias por semana, havendo revezamento de pessoal.
Os eventos de maior consumo de energia eltrica no Parque ocorrem
na da recepo de grupos que pernoitam na Ilha durante alguns dias,
destacando-se treinamentos promovidos por instituies militares do
estado de So Paulo, cursos na rea ambiental oferecidos pelo PEIA e
excurses escolares, quando o nmero de pessoas hospedadas pode
chegar a cinquenta. A fgura 13 ilustra o PEIA.
Figura 13 Parque Estadual da Ilha Anchieta (PEIA)
Ilha Anchieta vista do reservatrio Per e Prdio da Administrao
At pouco tempo, o sistema de gerao de energia eltrica do PEIA
era hbrido, composto por um sistema solar fotovoltaico e gerador
a diesel. O sistema a diesel o sistema energtico de base na Ilha,
do qual depende a operacionalidade do Parque. Dois so os proble-
mas enumerados pela administrao do PEIA: alto consumo de com-
bustvel (de 6 a 8L/h) e a intermitncia da energia, uma vez que os
geradores no conseguem operar de forma contnua por intervalos
superiores a cinco horas. H ainda o problema ambiental, devido
poluio sonora e do ar.
Existia no PEIA uma central hidrulica de gerao, desativada h al-
guns anos. Em funo disso, para se ter uma energia limpa em subs-
tituio, em parte, gerao a diesel existente props-se reforma da
central. Esta foi viabilizada por um convnio de cooperao tcnico-
fnanceira frmado entre o Grupo de Energia (GEN) da Universida-
de Federal de Itajub e o Ministrio de Minas e Energia (MME). Tal
convnio teve como objetivo avaliar, em campo, o uso de bombas
funcionando como turbina (BFTs) para implantao de centrais de
baixo custo. A primeira fase do convnio consistiu na implantao de
188
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
uma central utilizando BFT no municpio de Delfm Moreira, em Mi-
nas Gerais; a segunda fase contemplou a reforma da central do PEIA,
com o uso da mesma tecnologia. A central foi reprojetada para rece-
ber trs grupos geradores, com capacidades de 2 kW, 4 kW e 6 kW.
A vazo de projeto considerada foi de 5L/s (referente ao grupo gera-
dor de 2 kW), que permite, segundo os estudos hidrolgicos desen-
volvidos, uma gerao a fo dgua com fator de capacidade prximo
a 100%. Os outros dois grupos geradores operam com vazes de 10 e
15L/s, respectivamente, estando todos submetidos a uma queda bruta
de 67,7m. A instalao de trs grupos geradores com potncias suces-
sivas visou conferir maior fexibilidade e operao e na capacidade
de gerao da central, aproveitando a disponibilidade hdrica ao lon-
go de todo o ano hidrolgico. A barragem da central foi reformada
(Figura 14) tendo os vazamentos sido eliminados, de forma a se re-
cuperar a capacidade de regularizao do reservatrio, cujo volume
til de aproximadamente 900m
3
. Foram instaladas tambm uma
comporta de fundo para desassoreamento (Figura 15) e uma grade
de reteno de slidos na tomada dgua, evitando o entupimento dos
condutos e danos aos rotores das turbinas. Uma nova casa de m-
quinas foi construda (Figura 16), considerando aspectos funcionais
inexistentes na usina antiga, como ventilao e iluminao natural.
A Figura 17 mostra o grupo gerador antigo e os trs grupos geradores
de 2kW, 4kW e 6kW.
Figura 14 Barragem e reservatrio
Reservatrio sendo desassoreado e
construo da grade
Reservatrio recuperado
189
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 15 Comporta de fundo, conduto forado e condutos que
alimentam a BFT
Comporta de fundo da barragem
e conduto forado
Vlvulas antes das BFTs e trs condutos
Figura 16 Casa de mquinas
Antiga Nova
Figura 17 Grupos geradores
Grupo gerador antigo desativado Grupos geradores novos com BFTs
A CGH encontra-se em operao desde dezembro de 2010. A equipe
do Grupo de Energia da Unifei ministrou treinamento de operao e
manuteno da central aos funcionrios do PEIA.
Apesar de a CGH no suprir totalmente o parque, um estudo foi re-
alizado no trabalho de Vilanova e Viana (2009). O primeiro cenrio
190
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
analisado considerou a central operando a fo dgua, apenas com seu
menor grupo gerador, de 2 kW, em tempo integral. Esse grupo capaz
de fornecer 48 kWh/dia, correspondente a 36% do consumo dirio. A
economia mensal (em termos de custo de leo diesel), neste caso, foi de
R$ 1.050,00. O segundo cenrio admite a capacidade de regularizao
do reservatrio e operao do grupo gerador hidreltrico de 6 kW du-
rante quatorze horas por dia (das 8h s 22h, incluindo o expediente e as
atividades ps-expediente dos funcionrios). Nesse cenrio, a gerao
de energia hidreltrica de 84 kWh/dia, 64% do consumo total, resul-
tando numa economia, em diesel, de R$ 1.840,00 ao ms.
Para se diminuir mais ainda o consumo de combustvel (Diesel), est
em fase fnal de processo um estudo de efcincia energtica no PEIA
a ser realizado pelo Grupo de Energia da Unifei e com recursos do
Procel/Eletrobrs.
5. Concluses e Recomendaes
O trabalho apresentou dois estudos de caso de centrais de gerao hi-
drulica em comunidades isoladas. Em ambos os estudos, foram uti-
lizados equipamentos de baixo custo, sendo o de Cachoeira do Aru
uma turbina construda em Santarm e o da Ilha Anchieta conjuntos
geradores acionados por bombas funcionando como turbinas. Tam-
bm para os dois casos foi utilizada a mo-de-obra local, que faz com
que caiam os custos gerais. indiscutvel a melhoria na qualidade
de vida da populao de Cachoeira do Aru aps a implementao
da energia eltrica, mais prtica, limpa e confvel que a lamparina
ou a roda dgua, que atendia a poucos, ou at um pequeno gerador
a diesel ali existente. As marcas desse novo momento pelo qual a
comunidade passa podem ser facilmente notadas em facilidades
e confortos antes no acessveis, como gua em casa, o uso de di-
ferentes eletrodomsticos, o funcionamento da escola e a circulao
pela vila noite. H ainda o Telecentro, a movelaria e o surgimento de
novos negcios, bem como as possibilidades de consumo pela comu-
nidade na padaria, sorveteria e bares. O sucesso dos dois casos deve-
se ao envolvimento da universidade e de grupos srios. No caso de
Cachoeira do Aru foi sem dvida a questo do processo de gesto,
191
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
pois gerar mais fcil, o difcil a forma de gerir o empreendimento.
A experincia mostra que o governo dever sempre dar subsdios s
populaes isoladas e tambm passar a responsabilidade comuni-
dade atendida no que diz respeito operao e manuteno da cen-
tral e, principalmente, de sua sustentabilidade. Comunidades isoladas
podero ser atendidas de uma forma descentralizada, a custo baixo,
sobretudo aquelas que esto muito longe dos centros de distribuio
de energia, ou seja, em locais em que o atendimento com a linha de
transmisso representaria um custo altssimo ao pas.
6. Referncias
CHAPALLAZ, J.M.; EICHENBERGER, P.; FISCHER, G. Manual on
Pumps Used as Turbine. MHPG Series, v. 11, Friedr. Vieweg & Sohn
Verlagsgesellschaf mbH; Germany, 1992.
FUGIMOTO, S.K. A Universalizao do Servio de Energia Eltrica
acesso e uso contnuo. Dissertao de Mestrado. So Paulo: USP, 2005.
GOMES, M.C.; RIBEIRO, R.G. Programas de Incluso Social nos
Servios Pblicos Regulados: Anlise dos Instrumentos de Avaliao.
Anais IV Congresso Brasileiro de Regulao. Tropical Manaus: Ma-
naus, 2005.
PORTAL MINISTRIO DE MINAS E ENERGIA. Acesso em: 9 jan.
2012.
REZEK, A.J.J.; RESENDE, J.T. Operao Isolada e Interligada do Ge-
rador de Induo. Dissertao de Mestrado. Itajub: EFEI, jun. 1994.
TIAGO FILHO, G. L., Desenvolvimento Terico e Experimental para
Dimensionamento de Turbina Hidrulica Michell Banki. Dissertao
de Mestrado. Itajub: EFEI, out. 1987. p. 206.
_____. Turbinas no Convencionais para Pequenas Centrais Hidre-
ltricas. II Simpsio Nacional Sobre Fontes Novas e Renovveis de
Energia In: II SINERGE, Curitiba, 7 a 11 ago. 1989.
192
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
u
g
u
s
t
o
N
e
l
s
o
n
C
a
r
v
a
l
h
o
V
i
a
n
a
|
F
a
b
i
a
n
a
G
a
m
a
V
i
a
n
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
_____. Turbina de Fluxo Cruxado Consideraes Sobre o Nmero
de Ps. In: IV Encuentro Latinoamericano de Pequeos Aprovecha-
mientos Hidroenergticos, Cusco, Peru, 24 a 29 abr. 1991.
VIANA, A.N.C. Comportamento de Bombas Centrfugas Funcionando
como Turbinas Hidrulicas. Dissertao de Mestrado. Itajub: EFEI,
dez. 1987.
VIANA, A.N.C.; NOGUEIRA, F. J. H. Bombas Centrfugas Funcio-
nando como Turbinas. Trabalho de Pesquisa. Itajub: Departamento
de Mecnica EFEI, mar. 1990.
VIANA, A.N.C. Bombas de Fluxo Operando como Turbinas Por
Que Us-las? PCH Notcias & SHP News, ano 4. n. 12, Itajub: CERP-
CH, nov.-dez.-jan. 2002.
VIANA, F.G. Universalizao de Energia Eltrica no Brasil. Revista
PCH Notcias & SHP News, n. 46. Itajub: CERPCH, , 2011.
VILANOA, M.R.N., VIANA, A.N.C. Sustentabilidade Energtica em
Unidades de Conservao Ambiental: estudo de caso da Ilha Anchieta.
Ubatuba, CLAGTEE, out. 2009.
_____. Relatrio Final, Cachoeira do Aru um modelo energ-
tico sustentvel envolvendo Organizaes de Base Comunitria,
CT-ENERG / MME / CNPQ 003/2003, Processo 50.4722/2003-4,
CNPq, dez. 2007.
193
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4. Energia Solar Fotovoltaica no Brasil:
Situao Atual e Perspectivas para
Estabelecimento de Indstrias Apoiadas
em Programas de P&D e Financiamento
Adriano Moehlecke
Professor da PUC do Rio Grande do Sul, doutor em energia solar fotovoltaica e
coordenador do Ncleo de Tecnologia em Energia Solar
Izete Zanesco
Professora da PUC do Rio Grande do Sul, doutora em energia solar fotovoltaica
e coordenadora do Ncleo de Tecnologia em Energia Solar.
1. Energia Solar Fotovoltaica e o
Mercado Mundial
O uso de fontes de energias renovveis um dos desafos da humani-
dade para este sculo e quando se trata de fonte alternativa e renov-
vel, a energia solar fotovoltaica a tecnologia que mais tem crescido.
A energia solar pode ser usada para aquecer a gua ou o ambiente em
nossas casas ou pode ser usada para produzir energia eltrica. Para
esta ltima aplicao, usam-se as chamadas clulas solares ou fotovol-
taicas, que convertem a energia solar em energia eltrica de forma di-
reta, sem produzir emisses de poluentes. As clulas solares, quando
associadas eletricamente e colocadas em uma estrutura resistente s
intempries, constituem o mdulo fotovoltaico. Este o equipamen-
to que a populao pode adquirir para produzir sua prpria energia
eltrica. Um sonho para os cidados que prezam pela independncia:
produzir sua energia sem contaminar o meio ambiente.
194
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Embora abundante na Terra, a energia solar ainda pouco usada.
No entanto, nos pases desenvolvidos este cenrio vem mudando.
Na ltima dcada, fortes incentivos foram dados para a instalao de
sistemas fotovoltaicos e o mercado vem passando por um forte cres-
cimento. A Figura 1 apresenta a evoluo da produo mundial de
mdulos fotovoltaicos onde se observa que, somente de 2009 para
2010, houve um crescimento de 118%. Em 2010, a produo mundial
foi de 27,2 GW
1
, o que signifca em termos de potncia instalada o
equivalente a aproximadamente duas centrais hidroeltricas de Itaipu,
a maior central de produo de energia eltrica instalada no Brasil.
Figura 1. Evoluo da produo mundial de mdulos fotovoltaicos
Fonte: Photon International, maro de 2011. Reelaborada pelos autores.
O maior mercado de mdulos fotovoltaicos foi na Alemanha, seguido
da Itlia, sendo que na Europa foi instalada aproximadamente 77%
da produo mundial
2
. Do total de 39 GW instalados no mundo at
2010, 70% esto na Europa. Mas qual o maior produtor destes equi-
pamentos? No a Comunidade Europeia, nem o Japo e tampouco
os Estados Unidos. Como pode ser visto na Figura 2, a China o
maior produtor mundial. Neste contexto, a sia domina o mercado,
com 82,3% da produo mundial. Poderia o Brasil participar desta
escalada de crescimento e se posicionar no cenrio mundial? Ou de
1
HERING, G. Year of the tiger. Photon International, maro de 2011, p.186-214.
2
JRC European Comission. PV Status Report 2011. Research, Solar Cell Production and
Market Implementation of Photovoltaics. ago 2011. 123p. Disponvel em: http://re.jrc.
ec.europa.eu/refsys/
195
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
outra forma: no seria um erro estratgico para o pas no participar
deste mercado ainda em fase de crescimento?
Figura 2. Distribuio regional das indstrias de mdulos
fotovoltaicos em 2010
Fonte: Photon International, maro de 2011. Reelaborada pelos autores.
2. As Tecnologias
Quando o mercado est em processo de crescimento e ainda no
est completamente estabelecido, normalmente surge a pergunta de
qual a melhor tecnologia para fabricao do bem de consumo. Por
exemplo, como no caso de televisores de tela fna, ainda se pergunta
qual a melhor tecnologia, plasma ou cristal lquido (LCD). Do mes-
mo modo, os mdulos fotovoltaicos tambm possuem diferentes
tecnologias de fabricao.
De uma forma geral podemos dividir as tecnologias em trs: as que
usam lminas de silcio, as de flmes fnos e as que ainda esto nos
laboratrios de cientistas.
As clulas solares baseadas em lminas de silcio cristalino dominam
o mercado mundial. A Figura 3 mostra que esta tecnologia ocupou
sempre mais que 81% da produo mundial desde 2000. O silcio cris-
talino correspondeu em 2010 a 86% do mercado mundial. Si-Mono
e Si-Multi correspondem s tecnologias de silcio cristalino; CdTe,
telureto de cdmio; a-Si, silcio amorfo; CIS, disseleneto de cobre e
ndio; Si-Fitas, ftas de silcio.
196
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Figura 3. Distribuio das tecnologias usadas na produo industrial
de mdulos fotovoltaicos
Fonte: Photon International, maro de 2011. Reelaborada pelos autores.
Para produzir o mdulo fotovoltaico com clulas de silcio, vrios
processos industriais so realizados. Primeiro, a partir de quartzo,
carvo vegetal e muita energia eltrica obtm-se o silcio. Este pu-
rifcado e passa por um processo de cristalizao, quando ento so
cortadas lminas muito fnas, da ordem de 0,2 mm de espessura. Es-
tas passam por uma srie de processos qumicos e fsicos para produ-
zir a clula solar. Como uma clula solar produz tenso eltrica baixa,
da ordem de 0,6 V, vrias delas so ligadas em srie para obter tenses
mais elevadas. Estas clulas so encapsuladas sob uma placa de vidro
e emolduradas com alumnio, proporcionando resistncia mecnica
e s intempries. A Figura 4 apresenta clulas solares de silcio crista-
lino e mdulos fotovoltaicos montados com estas clulas.
197
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 4. Clulas solares de silcio cristalino e mdulos fotovoltaicos
Fonte: Divulgao NT-Solar/PUCRS
As vantagens desta tecnologia so: a matria-prima (silcio) pratica-
mente inesgotvel e usa tecnologias similares indstria de circuitos
de microeletrnica. Alguns crticos afrmavam que esta tecnologia
no conseguiria reduzir os custos de produo a ponto de viabilizar o
uso da converso da energia solar em eltrica, mas empresas chinesas
e algumas europeias tm demostrado que isto possvel. Cabe desta-
car que o Brasil um dos maiores produtores mundiais de silcio no
purifcado. Deveria o pas permanecer alheio escalada mundial do
mercado de energia solar fotovoltaica, considerando-se que mais de
80% deste mercado est baseado em silcio?
As tecnologias de flmes fnos so das mais diversas, destacando-se as
de silcio amorfo, as de telureto de cdmio, as de disseleneto de cobre-
glio-ndio, entre outras. Ao contrrio das clulas de silcio cristalino,
o uso de matria-prima menor. Com exceo do silcio amorfo, as
outras possuem problemas de disponibilidade e de descarte dos ma-
teriais. Podem ser fabricados mdulos com placas de vidro ou sobre
flmes plsticos ou metlicos, sendo que estes dois ltimos, podem
ser fexveis. No entanto, a efcincia destes dispositivos menor que
a alcanada em clulas solares de silcio cristalino.
H outras promessas, como clulas de materiais orgnicos com nano-
estruturas, mas ainda esto sendo estudadas por cientistas.
No Brasil o que se estuda? Nos anos de 1970, o desenvolvimento de
clulas solares de silcio foi tema de pesquisa na Universidade de So
Paulo (USP) e na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),
198
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
inclusive com estudos em tecnologia de purifcao de silcio. O Insti-
tuto Militar de Engenharia (IME) se destacou pela produo de clu-
las solares de sulfeto de cdmio/sulfeto de cobre e atualmente estuda
dispositivos com telureto de cdmio/sulfeto de cdmio. Nos anos 80
e metade dos 90 somente as universidades paulistas citadas continua-
ram trabalhando em clulas de silcio, porm com menor nfase, pois
praticamente no havia subveno dos rgos de fnanciamento para
esta rea de pesquisa. No fnal dos anos 90, outros grupos iniciaram
atividades de P&D com silcio e materiais orgnicos. A Pontifcia
Universidade Catlica do Rio Grande do Sul (PUCRS) iniciou suas
atividades fabricando clulas solares de alta efcincia em parceria
com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e depois
desenvolveu uma planta piloto de produo de clulas solares de sil-
cio e mdulos fotovoltaicos e estabeleceu o melhor laboratrio para
desenvolvimento destes dispositivos na Amrica do Sul.
No fnal dos anos 70, a Fone-Mat montava mdulos fotovoltaicos no
Brasil com clulas solares importadas dos Estados Unidos. Em 1980
surgiu a empresa Heliodinmica, que produziu lminas de silcio a
partir do silcio purifcado, as clulas e os mdulos fotovoltaicos. At
1992, operou em um mercado protegido para produtos importados.
Por que as empresas que produziam dispositivos semicondutores dei-
xaram de ser competitivas e fecharam suas portas no Brasil depois
do encerramento da reserva de mercado? Entre vrias razes, duas
podem ser citadas: tecnologia e escala de produo. Sem constantes
avanos tecnolgicos e reduo de custos, impossvel competir no
mercado globalizado. Atualmente, vrias empresas esto avaliando a
produo, principalmente de mdulos fotovoltaicos, com clulas so-
lares importadas.
3. Sistemas Fotovoltaicos no Brasil
Para os mdulos fotovoltaicos fornecerem energia eltrica, no bas-
ta coloc-los no telhado ou na fachada de uma edifcao. Se forem
usados em sistemas isolados da rede eltrica, sero necessrios outros
componentes, tais como baterias, controlador de carga das baterias
e inversor (equipamento que converte corrente/tenso eltrica con-
199
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
tnua em alternada). Neste tipo de sistema, durante o dia se produz
energia eltrica e durante a noite se usa a energia armazenada nas
baterias. Esta soluo vivel economicamente para locais isolados,
distantes da rede eltrica, como muitas das casas e povoados no norte
do Brasil. Segundo estimativas do Laboratrio de Sistemas Fotovol-
taicos do Instituto de Eletrotcnica e Energia (LSF-IEE) da USP, h
da ordem de 30 MW instalados no pas atendendo a populao rural,
implantados no mbito do Programa de Desenvolvimento Energtico
de Estados e Municpios (PRODEEM) e atualmente no Programa Luz
para Todos. A Figura 5 apresenta uma aplicao tpica de sistemas
isolados em Mamirau, Amazonas, realizada pelo LSF-IEE-USP.
Figura 5. Aplicao de sistema fotovoltaico isolado da rede
eltrica, que proporciona energia para a populao rural
Fonte: Foto cedida pelo LSF-IEE-USP
Outro tipo de sistema fotovoltaico o interligado rede eltrica.
Neste caso, alm dos mdulos fotovoltaicos, utiliza-se de um inver-
sor para a conexo rede. Os inversores atualmente comercializa-
dos, alm de converterem a corrente/tenso eltrica contnua em al-
ternada, eletronicamente controlam a tenso eltrica e a frequncia
da corrente/tenso alternada e detectam possveis interrupes de
energia eltrica na rede. Para qu? De forma simples, para evitar que
200
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
o sistema fotovoltaico possa eletrocutar operrios da companhia el-
trica que estejam trabalhando na rede.
Os sistemas interligados rede eltrica so os mais instalados atual-
mente no mundo, dominando mais de 95 % do mercado (ver Nota 2).
Pases como Alemanha, Itlia, Espanha, Portugal, Japo, entre outros,
estabeleceram leis especfcas para incentivar o uso destes sistemas.
Nestes pases, com o uso de sistemas fotovoltaicos, dois problemas
esto sendo resolvidos: gera-se energia para superar parte da crescen-
te demanda por meio de fonte renovvel e, ao mesmo tempo, gera-se
um elevado nmero de empregos. Por exemplo, no caso da Alema-
nha, a cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica gera quatro vezes
mais empregos que a cadeia do carvo mineral.
3
No Brasil, h atualmente da ordem de 1,7 MW em sistemas foto-
voltaicos conectados rede eltrica.
4
A Figura 6 apresenta um sis-
tema interligado rede eltrica no Museu de Cincias e Tecnologia
da PUCRS, fnanciado pelo Ministrio de Minas e Energia (MME).
O sistema est constitudo de 20 mdulos fotovoltaicos que foram
desenvolvidos e fabricados na Universidade.
A potncia instalada 680 W e a rea dos mdulos de 5,5 m2, tendo
produzido em 2011 uma mdia de 40 kWh por ms. Se fosse instalado
com a inclinao tima para Porto Alegre, poderia aumentar em 40%
a produo de energia eltrica. No entanto, razes estticas e didti-
cas apontaram para a instalao na vertical para melhor visualizao
dos mdulos pelos visitantes. O Museu recebe diariamente centenas de
estudantes, sendo que j atingiu da ordem de 1000 visitantes por dia.
Deste modo, o sistema FV instalado na entrada tambm tem a funo
de despertar o interesse por novas formas de produo de energia.
3
FRAIDENRAICH, N. Anlise Prospectiva da Introduo de Tecnologias Alternativas de
Energia no Brasil. Tecnologia Solar Fotovoltaica, UFPE, 2002.
4
ZILLES, R. Laboratrio de Sistemas Fotovoltaicos, Instituto de Eletrotcnica e Energia
da Universidade de So Paulo. Comunicao pessoal, nov.2011.
201
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 6. Sistema fotovoltaico interligado rede eltrica e insta-
lado na fachada do Museu de Cincias e Tecnologia da PUCRS.
Tecnologia de fabricao nacional e com funo educativa.
Fonte: Divulgao NT-Solar/PUCRS
O maior sistema fotovoltaico instalado no pas at o momento a cen-
tral solar fotovoltaica em Tau, CE, com potncia de 1 MW. A MPX
Tauconta com4.680 mdulos fotovoltaicos de silcio cristalino para
converter a energia solar em eltrica, numa rea de aproximadamente
12 mil metros quadrados.
5
A prxima central prevista para ser ins-
talada no Brasil na sede da Eletrosul em Florianpolis, tambm de
1 MW, sendo que neste caso os mdulos sero integrados estrutura
do prdio da empresa e no estacionamento.
5
Disponvel em: http://www.mpx.com.br/pt/nossos-negocios/geracao-de-energia/usinas-
em-operacao / Paginas/mpx-taua.aspx. Acesso em 15 nov. 2011.
202
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Em relao a nossos vizinhos sul-americanos, na Argentina, na pro-
vncia de San Juan, uma central de 1,2 MW foi inaugurada em 2011.
H previso de instalao de mais 20 MW para os prximos anos
em diferentes projetos na mesma regio.
6
O governo local apoia os
empreendimentos e pretende instalar um parque industrial capaz de
produzir todos os equipamentos e materiais, inclusive a matria-pri-
ma, silcio, da cadeia de valor da energia solar fotovoltaica.
4. Planta Piloto de Produo de Clulas
Solares e Mdulos Fotovoltaicos com
Tecnologia Nacional
Embora as universidades brasileiras, especialmente a PUCRS
7
, a
Unicamp
8
e a USP
9
tenham avanado na ltima dcada no que se
refere ao desenvolvimento de clulas solares de alta efcincia em si-
lcio cristalino, nunca houve uma produo em nvel pr-industrial
e tampouco com o nvel de automao existente nas atuais fbricas
de clulas e mdulos fotovoltaicos. Por exemplo, na Europa, as uni-
dades piloto de produo em centros de pesquisa so consideradas
peas chave para proporcionar avanos rpidos para a indstria
de mdulos fotovoltaicos. Pode-se citar o IMEC Interuniversity
MicroElectronics Center
10
, na Blgica, que desde os anos 80 produz
clulas solares em escala piloto, cujas tecnologias desenvolvidas de-
ram lugar ao spin-of de vrias empresas no setor, tais como as Photo-
voltech e Soltech. Em 2006, o Instituto Fraunhofer, Freiburg, Alema-
6
Disponvel em: http://www.cleanenergycongress.com.ar/es/docs/pdf/15-%20Victor%20
Dona.pdf. Acesso em 15 nov. 2011.
7
MOEHLECKE, A. Clulas Solares Efcientes e de Baixo Custo de Produo. In: Prmio
Jovem Cientista e Prmio Jovem Cientista do Futuro. Gerdau, CNPq, Fundao Roberto
Marinho, 2002, p. 15-76.
8
MARQUES, F.C., URDANIVIA, J., CHAMBOULEYRON, I. A simple technology to im-
prove crystalline-silicon solar cell efciency. Solar Energy Materials and Solar Cells, v. 52,
1998, p. 285-292.
9
CID, M. Fabricao de clulas solares. I Simpsio Nacional de Energia Solar Fotovoltaica,
CD, Porto Alegre, 2004.
10
DUERINCKX, F., FRISSON, L., MICHIELS, P.P., CHOULAT, P., SZLUFCIK, J. Towards
highly efcient industrial cells and modules from multicrystalline wafers. Proceedings of the
17h European Photovoltaic Solar Energy Conference, Munique, Alemanha, 2001, p. 1375-1378.
203
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
nha, implantou uma linha completa de produo de clulas solares de
silcio e mdulos fotovoltaicos para avaliar equipamentos e processos
sob os pontos de vista tcnico, econmico e ambiental, com investi-
mentos de 14 milhes de euros.
11
12
Na sia, o Instituto de Pesquisa
em Energia Solar de Singapura foi estabelecido em 2008 com a misso
de realizar pesquisa e desenvolvimento orientados para a indstria,
bem como para a cincia bsica. Novas clulas solares esto sendo
desenvolvidas e plantas piloto so capazes de produzir em escala pr-
industrial os dispositivos desenvolvidos.
13
No Brasil, a disseminao do uso de sistemas fotovoltaicos est limitada
por problemas de custo e de ausncia de uma produo nacional com-
petitiva internacionalmente. Alm disso, os produtos importados so
comercializados com preos acima do mercado internacional. Neste
contexto, para incentivar tecnologias nacionais de fabricao de clu-
las solares e mdulos fotovoltaicos, em 2004, o Ministrio da Cincia,
Tecnologia e Inovao e a PUCRS articularam com a Financiadora de
Estudos e Projetos (FINEP), Companhia Estadual de Gerao e Trans-
misso de Energia Eltrica (CEEE-GT), Eletrosul Centrais Eltricas S.A.
(ELETROSUL) e Petrleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS) um projeto
para transferir a tecnologia de fabricao de clulas solares desenvolvi-
da pela equipe do Ncleo de Tecnologia em Energia Solar ( NT-Solar)
da PUCRS para uma linha pr-industrial, a fm de verifcar a viabili-
dade tcnica e econmica da produo em larga escala. O projeto foi
inovador em trs aspectos: i) tecnologia: o desenvolvimento cientfco
e tecnolgico de clulas solares de silcio com insumos de baixo custo
e obteno de dispositivos efcientes por meio de mecanismos de get-
tering foi patenteado pela PUCRS; ii) ambiente: processos industriais
11
Wafers go in, cells come out. Fraunhofer Institute builds cell production line for testing.
Photon International, maio de 2005, p. 22.
12
BIRO, D., PREU, R., GLUNZ, S.W., REIN, S., RENTSCH, J., EMANUEL, G., BRUCKER,
I., FAASCH, T., FALLER, C., WILLECKE, G., LUTHER, J. PV-TEC: Photovoltaic
Technology Evaluation Center design and implementation of a production research
unit. Proceedings of the 21h European Photovoltaic Solar Energy Conference, Dresden,
Alemanha, 2006, p. 621-624.
13
Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS), Annual Report 2010. Disponvel
em: http://www.seris.sg. Acesso em 22/8/2011.
204
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
foram desenvolvidos dentro do ambiente acadmico, especifcamente
no parque tecnolgico da PUCRS (TECNOPUC) e iii) gerenciamento:
universidade e empresas gerenciaram o projeto por meio de um comit
gestor. Nos cinco anos de execuo do projeto, podem ser destacados
os seguintes resultados:
Implantao de infraestrutura laboratorial para um centro nacio-
nal em energia solar fotovoltaica, centro mais bem equipado da
Amrica Latina;
Desenvolvimento de dois processos industriais para fabricao
de clulas solares: um de alta efcincia, atingindo 15,4 %, e o
outro de baixo custo, possibilitando a fabricao de dispositivos
de 13 %;
Desenvolvimento de um processo industrial para fabricao de
mdulos fotovoltaicos, atingindo efcincias de 12,7% em m-
dulos de potncia da ordem de 36 W;
Formao de recursos humanos qualifcados: oito mestres fo-
ram formados e houve o treinamento de mais de 25 estudantes
de mestrado, doutorado e graduao, bem como de doutores;
Solicitao de registro de duas patentes;
Fabricao e caracterizao de mais de 12.000 clulas solares e
200 mdulos fotovoltaicos;
Identifcao e capacitao de fornecedores de insumos no
mercado nacional;
Formao de uma base de dados de produo para subsidiar a
execuo de um plano de negcios;
Divulgao do projeto e da tecnologia na mdia.
Este tipo de projeto foi indito no Brasil, colocando o pas com ca-
pacidade tecnolgica para fbricas de clulas solares e mdulos foto-
voltaicos, com o desenvolvimento das atividades em um perodo de
apenas cinco anos. Como reconhecimento, em 2006, o projeto foi o
vencedor do II Prmio Melhores Universidades Guia do Estudante
205
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
e Banco Real, na categoria Inovao e Sustentabilidade e, no mesmo
ano, o projeto foi fnalista no Prmio Santander Banespa de Cincia
e Inovao.
A Figura 7 apresenta notcias veiculadas em revistas e jornais desta-
cando os resultados obtidos no projeto Planta Piloto.
14
15
16
17
18
Figura 7. Notcias nacionais e internacionais sobre a Planta Piloto
de Produo de Clulas e Mdulos Fotovoltaicos
Fonte: Photon La Revista de Fotovoltaica, Zero Hora, A Tribuna, Dirio do Nordeste e Modal.
5. Viabilidade de Indstrias de Clulas
Solares e Mdulos Fotovoltaicos
A equipe do NT-Solar/PUCRS, com base nos processos de fabricao
de clulas e de mdulos fotovoltaicos desenvolvidos e na inexistncia
de fbricas no pas, concluiu que seria necessrio preparar um plano de
negcios para verifcar a viabilidade econmica da produo industrial
14
ROSSEL, A.D. Renacer de las cenizas. Brasil quiere integrar la cadena de valor fotovoltai-
ca desde el silcio hasta los mdulos. Photon La Revista de Fotovoltaica. Septiembre de
2010, Madri-Espanha, p. 104-111.
15
Na espera por investidores. Modal-Revista de Infraestrutura e Logstica, n. 5, agosto/se-
tembro de 2008, Porto Alegre-RS, p.14-15.
16
WERB, E. A indstria que vem do Sol. Zero Hora. Caderno Global Tech, 30/11/2009,
Porto Alegre-RS.
17
Mais perto do Sol. A Tribuna. Caderno Cincia, 14/12/2009, Santos-SP, p. C4-C5
18
Nova fase para energia solar. Dirio do Nordeste, 9/12/2009, Fortaleza-CE, p. 10.
206
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
dos equipamentos desenvolvidos. Neste caso, a Universidade novamen-
te avanou sobre um terreno que seria do setor empresarial.
Com apoio do Ministrio da Cincia, Tecnologia e Inovao, por meio
da Finep, da Eletrosul e do grupo CEEE, a PUCRS contratou uma
empresa de consultoria que, em conjunto com os coordenadores do
NT-Solar, elaboraram o plano de negcios. Com a simulao da im-
plantao e operao de uma fbrica de clulas e mdulos fotovoltai-
cos por dez anos no Brasil, verifcou-se que vivel economicamente
produzir estes equipamentos no pas com a tecnologia desenvolvida.
No entanto, duas difculdades foram observadas.
A primeira seria a concorrncia internacional com produtos importa-
dos, pois as indstrias na China esto atingindo escalas de produo
muito grandes, maiores que 1000 MW ao ano e, somado aos avanos
tecnolgicos, o preo vem caindo anualmente. Segundo, a ausncia
de um mercado estabelecido no Brasil com demanda necessria para
o estabelecimento de indstrias.
Uma caracterstica importante deste tipo de indstria que, para ser
vivel a produo, o empreendimento dever basear-se em leis de in-
centivos existentes (Programa PADIS) e, desta maneira, sero inves-
tidos recursos de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. Neste caso,
o total de recursos investidos em P&D ser maior que a soma dos
impostos devidos, indicando uma forma diferente de analisar novos
empreendimentos. Desta forma, haveria no pas empresas que fecha-
riam o ciclo de pesquisa & desenvolvimento & inovao & produo,
como esquematizado na Figura 8.
207
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 8 Indstrias de clulas solares e mdulos fotovoltai-
cos instaladas no Brasil devem fechar o ciclo, reinvestindo em
pesquisa, desenvolvimento e inovao
Fonte: Elaborao prpria
6. Sugestes para Incentivar a Cadeia da
Energia Solar Fotovoltaica
Antes de apresentar sugestes, interessante revisar pelos menos os
ltimos anos de reunies, simpsios e estudos realizados no Brasil,
para propor aes para desenvolvimento da energia solar fotovoltaica
no pas.
Em 2004 e 2005, durante o I e o II Simpsio Nacional de Energia Solar
Fotovoltaica, realizados na PUCRS, Porto Alegre, e no Centro de Pes-
quisas de Energia Eltrica (CEPEL), Rio de Janeiro, respectivamente,
com especialistas de universidades, de companhias de energia eltri-
ca, de rgos governamentais e de empresas do setor, chegou-se s se-
guintes concluses sobre o que fazer para desenvolver a energia solar
208
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
fotovoltaica: i) integrao dos diferentes grupos de pesquisa por meio
de rede de pesquisa, abrangendo cincia, tecnologia, desenvolvimen-
to e aplicaes; ii) elaborao de uma proposta de poltica pblica in-
tegrada nas reas tecnolgica e industrial, envolvendo os Ministrios
de Minas e Energia, da Cincia e Tecnologia e do Desenvolvimento,
Indstria e Comrcio Exterior (MDIC); iii) apoio a operaes piloto
de produo de clulas solares e mdulos fotovoltaicos e silcio grau
solar; iv) incentivo para o desenvolvimento dos componentes dos sis-
temas fotovoltaicos com tecnologia nacional; v) criao de uma linha
de crdito para o consumidor fnal adquirir sistemas fotovoltaicos;
vi) programa de incentivos fscais para consumidores que desejem
instalar sistemas fotovoltaicos interligados rede; vii) programas de
incentivos para o estabelecimento de indstrias nacionais.
19
20
Em 2009, o Centro de Gesto e Estudos Estratgicos (CGEE), com
a colaborao da Agncia Brasileira de Desenvolvimento Industrial
(ABDI), dos Ministrios da Cincia, Tecnologia e Inovao, de Minas e
Energia, do Meio Ambiente e do Desenvolvimento, Indstria e Comr-
cio Exterior, de instituies cientfcas e tecnolgicas e de empresas do
ramo, preparou o documento Energia solar fotovoltaica no Brasil: sub-
sdios para tomada de deciso.
21
Foram apresentadas 16 recomenda-
es, sendo que as principais para curto prazo foram: elaborar e fnan-
ciar programa de P&D&I que possibilite ganhos de competitividade,
modernizar laboratrios e estabelecer processos piloto, regulamentar a
conexo de sistemas fotovoltaicos rede eltrica, incentivar a gerao
fotovoltaica distribuda conectada rede eltrica, inserir o tema ener-
gias renovveis na Poltica de Desenvolvimento Produtivo, elaborar
uma poltica industrial para o estabelecimento de indstrias de clulas
19
ZANESCO, I. MOEHLECKE, A. Primeiro Simpsio Nacional de Energia Solar Foto-
voltaica rene pesquisadores para debater os rumos desta tecnologia no pas. CRESESB
Informe, n. 9, nov. 2004, p. 10-11. Disponvel em: http://www. cresesb.cepel.br/publica-
coes/download/periodicos/informe9.pdf.
20
PATRCIO, M. II SNESF discute propostas para expandir o uso da energia solar foto-
voltaica no Brasil. CRESESB Informe, n. 10, setembro de 2005, p. 12-13. Disponvel em:
http://www.cresesb.cepel.br/publicacoes/download/periodicos/informe10.pdf.
21
Centro de Gesto e Estudos Estratgicos CGEE. Energia solar fotovoltaica no Brasil:
subsdios para tomada de deciso. Srie Documentos Tcnicos, 2-10, 2010, 42 p. Dispon-
vel em: http://www.cgee.org.br/publicacoes/documentos_tecnicos.php.
209
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
solares, de mdulos fotovoltaicos, de silcio grau solar e eletrnico, bem
como de equipamentos para sistemas fotovoltaicos.
O Grupo de Trabalho em Sistemas Fotovoltaicos GT-GDSF, estabe-
lecido pelo MME, em 2010, fnalizou um relatrio,
22
do qual se po-
dem destacar algumas das consideraes e recomendaes: i) para o
desenvolvimento sustentvel da tecnologia solar fotovoltaica neces-
srio consolidar uma cadeia produtiva pautada por aes de estmulo
ao mercado e implantao de indstrias; ii) h vantagens na aplicao
de sistemas fotovoltaicos para sistemas de pequeno porte, com pro-
duo prxima carga, o que evita custos de transporte e de distribui-
o; iii) no h ainda no Brasil uma estrutura industrial favorvel para
a sua insero, devido ao seu alto custo e falta de uma cadeia produ-
tiva consolidada; iv) as perspectivas de diminuio de custos em m-
dio prazo indicam a necessidade de aes de preparao de uma base
tcnica e regulatria para atender s possibilidades de insero desta
tecnologia; v) a preparao de uma poltica de incentivo pautada no
desenvolvimento tecnolgico poder promover a cadeia produtiva;
vi) MME e MDIC deveriam promover uma estratgia de fomento
instalao de indstrias no Brasil por meio de incentivos fscais e
tributrios; vii) no se considerou adequada a determinao de um
ndice de nacionalizao como estmulo indstria nacional, tendo
em vista experincias do passado e viii) destacou-se a necessidade da
promoo de um projeto piloto de pesquisa e desenvolvimento com a
instalao, operao e acompanhamento desses sistemas conectados
rede em um conjunto de residncias.
A Agncia Nacional de Energia Eltrica (ANEEL) avanou no se que
refere a gerao distribuda, sendo que os trabalhos com a participa-
o de pblico externo se iniciaram com a Consulta Pblica ANEEL n.
15/2010, para apresentar os principais instrumentos regulatrios utili-
zados no Brasil e em outros pases para incentivar a gerao distribuda
de pequeno porte, a partir de fontes renovveis de energia. Comple-
22
Relatrio do Grupo de Trabalho em Sistemas Fotovoltaicos GT-GDSF / Ministrio de
Minas e Energia MME, Portaria n 36, de 26 de novembro de 2008. Estudo e propostas
de utilizao de gerao fotovoltaica conectada rede, em particular em edifcaes
urbanas, 2009, 222 p.
210
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
mentando esta ao, houve a Audincia Pblica 042/2011 em 6 de ou-
tubro de 2011, buscando reduzir as barreiras para a instalao de micro
e minigerao distribuda a partir de sistemas fotovoltaicos.
23
24
Assim,
em 2012 certamente teremos publicada uma norma para sistemas co-
nectados rede em baixa tenso. Em agosto de 2011, a Aneel apresentou
a Chamada Pblica 013/2011 com o projeto estratgico Arranjos Tcni-
cos e Comerciais para Insero da Gerao Solar Fotovoltaica na Matriz
Energtica Brasileira, visando instalao de usinas fotovoltaicas de 0,5
MW a 3 MW.
25
Cabe comentar que um projeto estratgico compreende
pesquisas e desenvolvimentos que coordenem e integrem a gerao de
novo conhecimento tecnolgico em subtema de grande relevncia para
o setor eltrico brasileiro, exigindo um esforo conjunto e coordenado
de vrias empresas de energia eltrica e entidades. Assim, a agncia de-
monstrou o interesse na nova forma de produo de energia eltrica,
envolvendo as concessionrias, pois elas podero usar seus recursos de
P&D para instalar e analisar as centrais fotovoltaicas.
No segundo semestre de 2010, a Associao Brasileira da Indstria
Eltrica e Eletrnica (ABINEE) deu os primeiros passos para a for-
mao do Grupo Setorial de Sistemas Fotovoltaicos, que se formali-
zou no incio de 2011. Atualmente com mais de cinquenta empresas,
vem trabalhando em proposies do setor industrial para o estabele-
cimento de um programa que possa formar o mercado e a implanta-
o de indstrias neste setor no Brasil.
O que poderia ser sugerido para o desenvolvimento da energia solar
fotovoltaica no Brasil? Primeiro, vale comentar que no serve para o
Brasil simplesmente criar leis de incentivos similares s da Alemanha
ou Espanha, pois nossa matriz eltrica predominantemente reno-
23
ANEEL Consulta Pblica 015/2010. Disponvel em: http://www.aneel.gov.br/ aplicaco-
es/consulta_publica/consulta.cfm?ano=2010&idArea=14.
24
ANEEL Audincia Pblica 042/2011. Disponvel em: http://www.aneel.gov.br/ apli-
cacoes/audiencia/dspListaDetalhe.cfm?attAnoAud=2011&attIdeFasAud=562&id_
area=13&attAnoFasAud=2011.
25
ANEEL Chamada n 013/2011, Projeto Estratgico: Arranjos Tcnicos e Comerciais para
Insero da Gerao Solar Fotovoltaica na Matriz Energtica Brasileira, Superintendncia
de Pesquisa e Desenvolvimento e Efcincia Energtica, Braslia, agosto de 2011, 14 p. Dis-
ponvel em: www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/PeD_2011-ChamadaPE13-2011.pdf.
211
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
vvel e no h um parque industrial capaz de suprir a demanda de
equipamentos. Assim, neste primeiro momento, a contribuio para
limpar a matriz energtica seria pequena e empregos seriam ge-
rados fora do pas, pois todos os equipamentos seriam importados,
inviabilizando o nascimento de indstrias nacionais para este setor.
No entanto, sem um mercado, no haver investidores interessados
em estabelecer indstrias de clulas e mdulos fotovoltaicos. Aes
governamentais poderiam resolver este impasse.
Considerando que j h isenes fscais para a implantao de inds-
trias que invistam em pesquisa e desenvolvimento no Brasil e que as
clulas e mdulos fotovoltaicos so isentos do ICMS em muitos es-
tados brasileiros, uma forma de incentivar a implantao de fbricas
seria por meio de um programa de fnanciamento com linhas espe-
cfcas e com a possibilidade de incluso de capital de risco. Fontes
de fnanciamento com carncia e pagamento de longo prazo podem
viabilizar a formao de novas empresas, que poderiam ter preos
de venda no muito diferentes dos praticados pelas grandes inds-
trias internacionais, pois a expectativa de risco seria reduzida e, deste
modo, poderiam ser considerados, por exemplo, nos clculos econ-
micos, taxas de atratividade da ordem de 15%. Em relao ao capital
de risco, poderiam ser criadas linhas de crdito especfcas visando
ao estabelecimento de novas empresas de base tecnolgica, muitas
delas que poderiam ser spin-ofs de universidades. Mas, neste caso,
cabe lembrar que empreendimentos na rea de energia solar fotovol-
taica so intensivos em capital e deveriam ser criados mecanismos
especfcos para o fnanciamento, pois as empresas nascentes no
tero condies de apresentar garantias condizentes com os valores
exigidos pelos bancos de fomento. Uma indstria de clulas solares
e mdulos fotovoltaicos de tamanho mnimo necessitaria da ordem
de 100 milhes de reais! De uma forma geral, sem fontes de capital
de risco, nenhuma nova empresa de base tecnolgica em energias re-
novveis surgir. Simples montadoras de mdulos fotovoltaicos no
podem usufruir das isenes antes comentadas e tero difculdade
para competir com empresas internacionais sem investir em P&D.
212
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A
d
r
i
a
n
o
M
o
e
h
l
e
c
k
e
|
I
z
e
t
e
Z
a
n
e
s
c
o
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Considerando que teramos no Brasil empresas que investiriam em
pesquisa e desenvolvimento na rea de energia solar fotovoltaica, com
as isenes existentes e as linhas de fnanciamento e capital de risco,
poderia se estabelecer um mercado competitivo para uma produo
da ordem de 100 MW anuais. Para grandes empresas internacionais
este um valor pequeno, mas sufciente para as empresas nacionais
iniciarem suas atividades e se prepararem, com pesquisa, desenvolvi-
mento e inovao, para a corrida internacional de reduo dos custos
na eletricidade obtida da energia solar.
Se o Brasil considerar estratgica a participao no mercado de ener-
gia solar fotovoltaica em sua fase de crescimento acelerado, neces-
sria a curva de aprendizagem, e talvez tenha chegado a hora de se
iniciar este processo. O problema quem tomar a deciso!
Sem uma poltica clara de apoio s indstrias de clulas e mdulos
FV que invistam em P&D no Brasil, ser muito difcil competir com
grandes empresas internacionais. Por exemplo, se a Poltica de De-
senvolvimento Produtivo prev o acionamento de instrumentos de
incentivo tais como linhas de crdito e fnanciamento e captao de
capital de risco bem como o uso do poder de compra do Estado por
empresas da administrao direta e de empresas estatais, a incluso
da cadeia produtiva de energia solar fotovoltaica poderia facilitar
este processo por meio das atuais fontes de fnanciamento tais como
BNDES e Finep. Aes coordenadas para um programa de sistemas
fotovoltaicos conectados rede eltrica em baixa tenso, com ndi-
ce de nacionalizao progressivo anualmente, regulamentao des-
burocratizada e gil e com incentivos econmicos e polticos para a
implantao de indstrias de clulas solares e mdulos fotovoltaicos
com tecnologia nacional, so estratgicas.
Em resumo, h necessidade de se promover um mercado mnimo
para a produo em escala maior que 30 MW anuais e o estabeleci-
mento de formas de fnanciamento viveis para empreendedores na
rea de fabricao de clulas e mdulos fotovoltaicos.
213
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
5. O Produto Biogs: Reflexes sobre
sua Economia
Ccero Bley Jr.
Superintendente de Energias Renovveis da Itaipu Binacional
1. Introduo
Estamos diante da oportunidade de obter combustvel em escala in-
dustrial a partir da transformao de milhes de toneladas de resduos
agropecurios e agroindustriais, de lixo orgnico e de esgotos urbanos.
Trata-se do biogs
1
, produto obtido no processo anaerbico de decom-
posio da matria orgnica, que pode ser aplicado para gerar energia
eltrica, trmica e veicular. As biomassas dos resduos que originam o
biogs so excessos da produo e desperdcios que ao serem jogados
fora produzem signifcativos impactos ambientais nas guas e atmosfe-
ra. Sua produo implica, necessariamente, um processo de tratamento
sanitrio, o que faz com que esta fonte de energia seja considerada uma
das mais sustentveis entre as renovveis. Para se obter biogs no so
exigidas grandes obras e investimentos, no so ocupadas terras desti-
nadas agricultura nem comprometidos os recursos naturais.
Como produto, o biogs gera em torno de si uma economia que
sustenta servios tcnicos com vrias fnalidades, comrcio de insu-
mos, processos e suprimentos e uma diversifcada indstria de base.
1
BIOGS: Composto gasoso, constitudo em mdia por 59% de gs metano (CH4), 40%
de gs carbnico (CO2) e 1% de gases-trao, entre eles o gs sulfdrico (H2S), resultante
da degradao anaerbia (ausncia de oxignio) da matria orgnica, por colnias mistas
de microorganismos. considerado um recurso renovvel.
214
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
A maior parte das atividades aquecidas com a economia do biogs
de natureza local e regional, ou seja, aquece-se uma economia des-
centralizada a partir do potencial energtico local.
O que viabilizou o biogs como fonte renovvel de energia foi a regu-
lamentao do sistema de Gerao Distribuda
2
(GD), introduzido no
Brasil pelo Decreto n 5.163/04 e normatizado pela Agncia Nacional
de Energia Eltrica (ANEEL) em dezembro de 2009, aps a agncia
ter aberto uma Chamada Pblica para discutir e receber contribuies
com a fnalidade de introduzir modifcaes no Programa de Distri-
buio de Energia Eltrica no Sistema Eltrico Nacional (PRODIST).
A mudana no PRODIST permitiu a pequenas unidades geradoras de
energia eltrica conectarem-se rede de distribuio para venderem
energia ao Sistema Nacional, o que ampliou enormemente as possibi-
lidades de conexo. Se antes era possvel conectar pequenos geradores
apenas no Sistema de Transmisso (cem mil quilmetros de rede no
Brasil), com a GD as pequenas unidades geradoras passam a contar
com aproximadamente 4,5 milhes de quilmetros de linhas de dis-
tribuio. Ou seja, 45 vezes mais disponibilidade de linhas de conexo,
sempre localizadas nos centros de carga (demanda de energia).
Produo do biogs
A produo de biogs ocorre colocando-se resduos orgnicos, ou
biomassa residual, em um biodigestor, em cujo interior e na ausncia
absoluta de oxignio, uma colnia mista de microorganismos previa-
mente inoculada degrada esta biomassa residual, atacando seus sli-
dos volteis (degradveis). Alm da produo do biogs, o processo
reduz a carga orgnica poluente dos resduos e d origem a outro pro-
duto: o digestato, com caractersticas biofertizantes.
Esta a linha de base, ou o fragmento estrutural bsico da econo-
mia do biogs, que se constitui, portanto, no tratamento sanitrio por
2
GERAO DISTRIBUDA: Modo de gerao de energia eltrica conectada em sincronia
com a rede de distribuio, que viabiliza a gerao por microcentrais, possibilitando a des-
centralizao do sistema. A gerao distribuda pode servir para qualquer fonte renovvel
de energia eltrica, como elica, solar, hdrica, geotrmica e no caso da gerao de biogs,
alm dos efeitos energticos, ainda produz efeitos ambientais, econmicos e sociais.
215
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
biodigesto anaerbica
3
de qualquer resduo, ou biomassa residual
em estado lquido ou pastoso, que so resduos e efuentes orgni-
cos, industriais, dejetos da produo de animais e resduos slidos
provenientes do benefciamento da produo agrcola ou mesmo de
lavouras especifcamente plantadas para fns energticos.
Vivel em sistemas de Gerao Distribuda (GD) (descentralizada)
de energia, o biogs frma-se como um produto estratgico na matriz
energtica brasileira.
Formas de uso
O biogs um produto extremamente verstil como fonte renovvel
de energia. Pode ser obtido em ampla gama de escalas de produo,
desde menos de 1 megawatt (MW) at 10 a 15 MW, que equivale a
uma pequena central hidreltrica (PCH). possvel reunir o biogs
produzido em todas essas escalas em uma s unidade de converso
em energia, atravs de gasodutos rurais. Este dispositivo particular-
mente importante quando se trata de reunir a produo de biogs e
pequenas propriedades de agricultura familiar em um determinado
territrio ou em assentamentos rurais que contam com uma pequena
escala de produo que no habilitaria estas propriedades para ge-
rar energia. Os condomnios rurais de agroenergia, constitudos por
produtores, unidades coletivas, agroindustriais e outras geradoras de
biomassa de resduos, viabilizam juntos escalas de gerao de energia
bastante signifcativas.
Aplicaes
Em termos de aplicaes, ou das possibilidades de uso do biogs,
depara-se novamente com a versatilidade do produto. Ele serve para
gerar energia eltrica, trmica, veicular, ou todas ao mesmo tempo,
3
BIODIGESTO ANAERBICA: consiste em submeter um volume dirio de biomassa
residual em estado lquido ou pastoso no interior de dispositivos de engenharia sanitria,
conhecidos como biodigestores, durante um determinado tempo de reteno hidrulica,
sob condies ideais de temperatura e agitao. Neste dispositivo, em ausncia total de
oxignio, atuam colnias mistas de microorganismos, que encontram condies ideais
para proliferar, alimentando-se dos slidos volteis solveis na biomassa em tratamento,
o que provoca a degradao da matria orgnica.
216
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
porque possvel tambm armazen-lo em gasmetros ou sries de-
les. Hoje, gasodutos podem levar o biogs produzido em pequenas
propriedades, agroindstrias ou estaes de tratamento de esgoto,
at microcentrais termeltricas, onde este processado para gerar
energia eltrica que pode ser disponibilizada diretamente na rede
de distribuio ou para a gerao de energia trmica, que serve
secagem de gros e ao aquecimento de instalaes rurais, como avi-
rios e granjas de sunos, ou para o aquecimento de caldeiras nas mais
diversas indstrias. Os ganhos com a obteno de biofertilizantes de
alta qualidade no processo de biodigesto da matria orgnica, com a
converso do biogs em combustvel veicular ou com a comercializa-
o de crditos de carbono obtidos com a reduo dos gases de efei-
to estufa enviados atmosfera, so vantagens econmicas adicionais
que fazem com que o produto venha ganhando um espao crescente
na matriz energtica brasileira.
Concretizao da economia (Cadeia de Suprimentos do Biogs)
Desde junho de 2008, seis projetos geradores de energia eltrica com
biogs e saneamento ambiental localizados no oeste do Paran vm
executando o estabelecido em contratos de compra de energia com a
Companhia Paranaense de Energia Eltrica (COPEL). Todas geram
energia eltrica com o biogs produzido a partir de seus respectivos
resduos orgnicos canalizados para biodigestores. O biogs produ-
zido canalizado para casas de mquinas a fm de promoverem o
acionamento de motores ciclos OTTO e Diesel que movimentam
geradores de energia eltrica. Um painel de comando sincroniza a
energia produzida com a rede de distribuio local e registra a quan-
tidade produzida. Esta energia usada para a efcincia energtica das
atividades, ou para o seu autoabastecimento, e o excedente, por estar
o gerador conectado rede, vendido concessionria distribuidora.
Um caso para estudo: Granja Colombari
Assistido por tcnicos da Plataforma Itaipu de Energias Renovveis,
o produtor rural Jos Carlos Colombari, de So Miguel do Iguau,
Paran, foi o primeiro produtor rural do Brasil a vender energia el-
trica no sistema de gerao distribuda. Ele disponibiliza, em mdia,
217
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
29 megawatts-hora (MWh) por ms de energia eltrica para venda
Copel. Esta energia gerada a partir de 1.000 metros cbicos (m
3
)
dirios de biogs produzidos com os dejetos dos cinco mil sunos que
regularmente confna em sua granja. Ao preo de R$ 135,55 o mega-
watt (MW), equivalente ao valor de referncia do setor eltrico, e sem
nenhum subsdio, Colombari e sua famlia obtm uma renda extra de
R$ 2.550 por ms.
O produtor rural tambm intensifcou o uso de eletricidade em sua
propriedade, aplicando a energia em motores, bombas de recalque e
moinhos. A economia obtida com a produo energtica da ordem
de R$ 8.200 mensais. Este valor, adicionado ao que comercializado
para a Copel, resulta em uma economia de R$ 10.750 reais mensais,
ou R$ 129.000 anuais.
O biogs usado como combustvel na Granja Colombari corresponde
a duas mil toneladas equivalentes de gs carbnico por ano. O biofer-
tilizante, fonte de nitrognio, fsforo e potssio, usado para a fertili-
zao orgnica dos solos de pastagens e lavouras da granja, determi-
na, ainda, aumento considervel da produtividade destas atividades.
Hoje eu sou um produtor de energia com inscrio na Aneel. Tudo o
que antes era resduo se transformou em negcio na minha proprie-
dade, celebra Colombari.
Com estas refexes, procura-se evidenciar alguns dos contornos
econmicos que ocorrem em torno do biogs e que permitem en-
tend-lo como um produto como tantos outros, assim como o ovo,
o leite, a carne, o milho, o etanol e outros. Pretende-se mostrar tam-
bm o absurdo de o biogs, com todo o potencial econmico direto
e indireto que representa, ser sistematicamente jogado fora. Contido
na biomassa dos resduos orgnicos urbanos, como o lixo e os esgo-
tos domsticos e efuentes industriais, ou nos resduos rurais, como
os dejetos animais, os slidos de diversas origens na produo e na
agroindstria representam srios impactos ambientais tanto em rela-
o poluio hdrica como atmosfrica. Talvez por isso, por estar
associado ao lixo, aos restos, ao poluente descartvel, o real valor eco-
nmico do biogs passe despercebido.
218
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Na produo, uma matria-prima passa por um ou mais processos de
transformao para ganhar qualidade ou intensifc-la e tornar-se um
produto para ser consumido. Com o biogs d-se o mesmo. Os resduos
e efuentes orgnicos submetidos a um determinado tratamento sanit-
rio a biodigesto anaerbica em condies especfcas, geram dois
produtos, um lquido, efuente do processo, e outro gasoso, o biogs.
Como todo produto, o biogs tambm constitui e sustenta uma cadeia
de demandas e suprimentos relativamente complexa, ou seja, o biogs
centro gerador e mantenedor de economias que se constituem em
seu entorno. A produo de biogs demanda, consome e gera resul-
tados econmicos e, como ela se encontra pulverizada nos ambientes
rurais, favorec-la signifca tambm distribuir localmente os resulta-
dos econmicos produzidos por esta economia. So resultados dire-
tos, como a gerao das energias eltrica, trmica e automotiva, com
a reduo de emisses de gases do efeito estufa (GEE) e por isso com
a obteno de crditos de carbono, e tambm resultados econmicos
indiretos, como as demandas por servios de planejamento, implan-
tao, operao e manuteno dos processos que produzem o biogs e
as energias que com ele podem ser geradas. Vale sempre lembrar que
a obteno do biogs indissocivel da produo de biofertilizante.
Releva notar que existe farta disponibilidade de referncias em dados
e informaes tcnico-cientfcas feitas pela pesquisa mundial e bra-
sileira sobre biofertilizante e biogs, assim como j se encontra publi-
cada a legislao pertinente. Como este trabalho pretende somente
chamar a ateno sobre os aspectos econmicos do biogs, dele no
constaro essas referncias.
2. Contextualizao
2.1 O Biogs no Presente
Em vrios momentos da histria recente ocorreram iniciativas para
produzir e usar o biogs. Nos anos 1970 chegou a integrar o modelo
da revoluo verde, paradigma da atual economia mundial da pro-
duo de alimentos; mas, ao contrrio das outras tecnologias desse
219
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
modelo, ele no prosperou. Passaram-se trinta anos sem que o bio-
gs integrasse os sistemas produtivos, ainda que fazendo parte deles
como subproduto produzido. E isso em larga escala. Mesmo com as
mais recentes iniciativas motivadas pelo Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo (MDL), proposto pelo Protocolo de Kyoto, os projetos
foram concebidos de forma a simplesmente queimar o biogs sem ne-
nhum aproveitamento energtico, o que evidentemente reduz a linha
de base dos projetos, facilitando sua aprovao e seu monitoramento,
porm impondo um desperdcio injustifcvel para a atividade sub-
metida a estas condies. Conclui-se que nos dias atuais o valor eco-
nmico do biogs simplesmente desperdiado, queimado, ou, ainda
pior, emitido para a atmosfera na forma bruta onde, com um poder
destruidor 21 vezes maior do que o do gs carbnico (CO
2
) para des-
truir a camada de oznio, pode resultar em srias consequncias para
o aquecimento global e as mudanas climticas.
Os setores do agronegcio e da agroindstria teriam uma equao
econmica mais prxima da sustentabilidade se encontrassem formas
de renda para fazer frente cobertura dos custos de investimentos
e despesas de manuteno dos seus servios ambientais. Da forma
como esto estruturados economicamente os negcios e da forma
como so exigidos por leis ambientais atualmente, esses servios pe-
sam de maneira signifcativa na estrutura econmica, j que se trata
de passivos, ou seja, so economicamente neutros, no geram rendas.
Produzindo o biogs como uma contrapartida aos custos e despesas
hoje necessrias manuteno dos servios ambientais e sanitrios
e aproveitando-o como um produto com valor econmico, gerador
de um dos insumos mais importantes de suas estruturas de custos,
a energia, esses setores poderiam encontrar possibilidades reais de
gerar renda e com isto cobrir seus custos ambientais.
2.2 O Biogs no Futuro
A cincia tem estudado intensamente os gases e proposto uma nova
matriz energtica com predominncia de fontes renovveis de ener-
gia, para atenuar os efeitos danosos dos combustveis fsseis. O pes-
quisador ingls Robert Hefner III, na publicao A Era dos Gases
220
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
(2006), demonstrou como a matriz energtica mundial vem evoluin-
do desde a predominncia dos combustveis slidos (biomassa da
madeira), passando pela era atual dos combustveis lquidos (deriva-
dos do petrleo) e j enxergando a era dos gases, que ter seu apogeu
em um mundo movido a hidrognio (H), o mais puro vetor de ener-
gia conhecido.
Nesta modelagem, Hefner III avaliou como os padres de combus-
tveis variaram e ainda variaro na matriz energtica ao longo de
trezentos anos de histria, de 1850 at 2150, identifcando em seus
perodos clssicos a revoluo industrial, a economia ps-moderna,
a economia do sculo 21, e fnalmente chegando economia do hi-
drognio. Demonstrou como a humanidade utilizou e desenvolveu
seus combustveis em cada perodo e os foi substituindo diante de
fatores determinantes como escassez, efeitos negativos imprevisveis,
impactos ambientais, desempenho econmico e outros. No estudo da
tendncia do uso dos gases at o seu ponto culminante, o hidrognio
demonstrou tambm que uma etapa no pode ser ignorada, ou negli-
genciada: a passagem pela intensa utilizao do metano (CH
4
), que
compe o biogs. O metano est na rota do hidrognio. Ser necess-
rio desenvolver e aprimorar suas aplicaes, como se fosse um estgio
preliminar ou precursor da economia do hidrognio.
As civilizaes orientais conhecem o biogs h muito tempo. O ima-
ginrio popular o associa podrido, aos esgotos, aos pntanos, de-
gradao; enfm, o biogs fcou relacionado com aspectos escatolgi-
cos, naturais e construdos. Talvez por isso, o produto seja associado
ao passado e, consequentemente, tenha tido o seu valor e importncia
econmica minimizados. No entanto, como proposto por Hefner III,
para evoluir no uso dos gases, a humanidade ter que dominar o me-
tano, sendo inevitvel estabelecer que este gs est ligado ao futuro e
no ao passado, ainda que o biogs e seus componentes faam parte
do ciclo biogeoqumico do carbono, que o mais antigo, o maior e o
mais importante ciclo do metabolismo da Terra. H de se considerar,
inclusive, que o metano portador do prprio hidrognio. Duas mo-
lculas de H para uma de carbono (C).
221
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
O estudo mencionado revela ainda que a Era dos Gases dever deter-
minar que a humanidade deixe para trs uma forma de crescimento
econmico no sustentvel, centralizado, de capital intensivo e ine-
fciente energeticamente, e v, de forma gradativa, encontrando um
modelo de crescimento descentralizado, desenvolvido tecnologica-
mente e altamente efciente no aproveitamento energtico. Esse novo
modelo preconizado por Hefner III traz o biogs novamente ao cen-
rio das energias renovveis estratgicas e defne o que preciso fazer
para que isto acontea, ou seja, as mudanas regulatrias necessrias,
como a do conceito de GD necessrio para descentralizar a gerao
de energia e o urgente reconhecimento do biogs como produto
com valor econmico a ser considerado.
Com a GD abre-se uma nova perspectiva energtica tambm para o
fornecimento de energia eltrica e trmica geradas com biogs. Trata-
se da possibilidade de economias eletrointensivas como secagem
de gros, olarias, cimenteiras, porcelanatos, britadeiras e demais in-
dustrializaes de produtos minerais, assim como frigorfcos, ami-
donarias e outras ligadas a agroindstrias encontrarem no biogs
possibilidades reais de obterem energia eltrica sob medida, espec-
fca para seus altos consumos. Tambm se revelam possveis os casos
de autoabastecimento feitos com geradores a diesel, como em uso na
hotelaria em geral, para vencer os horrios de ponta.
2.3 A Itaipu Binacional e o Biogs
Monitorando a qualidade das guas dos rios tributrios do Reserva-
trio de Itaipu, a empresa tem registrado ndices hipereutrfcos das
guas, determinados pelo aporte de sedimentos orgnicos e fertilizan-
tes qumicos originados de biomassa de resduos das operaes com
animais estabulados e da eroso dos solos do territrio hidrogrfco di-
retamente infuente, a Bacia Hidrogrfca Paran III. Consta de levan-
tamentos recentes da biomassa residual neste territrio que ali so cria-
dos 1,5 milho de sunos em 1.250 granjas, sendo que destas somente
280 tratam de dejetos com biodigestores. Agrava ainda esta situao a
criao de cerca de 500 mil vacas leiteiras e 40 milhes de aves.
222
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
A eutrofzao produz um crescimento descontrolado de algas ma-
crftas futuantes e fxas, que em sua dinmica sucessria acabam
produzindo restos orgnicos que se depositam no fundo do reserva-
trio, e ali, em ambiente anaerbico, comeam a produzir boinas que
ganham a superfcie e dali desprendem-se para o ar. Os rios tribut-
rios, com gua bruta de boa qualidade, tornam-se assim emissores de
gases do efeito estufa.
Por este fato a Itaipu, atravs de sua Coordenadoria de Energias Re-
novveis, elegeu o biogs como prioridade em termos de energias
renovveis, procurando oferecer s atividades geradoras uma pers-
pectiva de valorizao econmica da biomassa residual e com isto
estabelecer oportunidade de retir-la do ambiente. Para demonstrar
esta possibilidade em escala real a empresa estimulou a implantao
de seis unidades de demonstrao, que j esto produzindo energia
com boinas, e ofcialmente vendendo os excedentes concessionria
estadual Copel, com autorizao da Aneel.
3. A Economia do Biogs
Como um produto, o biogs constitui um centro gerador de econo-
mia. Provoca demandas e consumidor de uma cadeia signifcativa
de suprimentos, enquanto apresenta resultados econmicos concre-
tos, palpveis na forma de energias, crditos de carbono e efcincia
energtica, que constituem receitas na economia do biogs.
As demandas desta economia como projetos, licenciamento ambien-
tal, regulao, capacitao tcnica e outros constituem pr-requisitos
para que a gerao de biogs possa se implantar. Os suprimentos
como motores, geradores, controles, biodigestores, fltros, tubulaes
e uma infnidade de outras peas, componentes e processos de origem
industrial, que movimentam o comrcio e servios especializados, so
elementos essenciais para que os processos se instalem e operem.
Os resultados econmicos que advm da instalao da economia do
biogs so os diretos como as energias eltrica, trmica e automoti-
va, aplicadas para autoconsumo e para venda de excedentes e indi-
retos, como a obteno de crditos de carbono (MDL) por reduo de
223
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
emisses de GEE, a adequao ambiental da atividade pela reduo
de cargas orgnicas poluentes e a sua efcincia energtica.
3.1 Energias do Biogs
Entende-se por converso energtica o processo que transforma um
tipo de energia em outro. O biogs apresenta grande versatilidade
como fonte energtica renovvel, pois a sua energia qumica pode ser:
convertida em energia mecnica por processos de combus-
to controlada, em motores estacionrios que por sua vez
movem geradores e estes promovem a converso direta em
energia eltrica;
utilizada para a cogerao de energia trmica, aplicada ge-
rao de gua quente e vapor gerados com as altas tempera-
turas do motor;
queimada como fonte de energia trmica em caldeiras;
aplicada como combustvel gs veicular (purifcado) em
motores automotivos e estacionrios.
Comeam a surgir tambm novas aplicaes, como a refor-
ma do biogs para a obteno de hidrognio e o uso deste
para carregar as clulas combustveis.
4
a) Energia eltrica
A gerao de energia eltrica tendo o biogs como fonte realizada
atravs do uso deste para a alimentao de grupos motogeradores.
So possveis duas fnalidades para a energia eltrica gerada. A pri-
meira e melhor remunerada ser sempre o uso da energia para auto-
abastecimento. Nesse caso, surgem os resultados diretos na efcincia
energtica da atividade e na possibilidade de se intensifcar o uso da
eletricidade para a realizao de novos trabalhos essenciais para o
4
REFORMA DO METANO: Consiste na converso do Metano (e outros hidrocarbonetos)
em Hidrognio e Monxido de Carbono, sendo o processo mais comum o da reao de
vapor sobre um catalisador em nquel. O processo visa produo de Hidrognio para
alimentar clulas combustveis. Pedro, C.E.G. and V. Putsche. Survey of the Economics of
Hydrogen Technologies. National Renewable Energy Laboratory. September, 1999.
224
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
aumento da produtividade e para a sustentao econmica da ativi-
dade, j que gerada por e pela prpria atividade.
A segunda fnalidade seria a venda do excedente da energia ou da
sobra aps o autoabastecimento, viabilizada pela conexo do gerador
em paralelo a uma rede de distribuio. Na atualidade, para a conexo
em rede a potncia mxima permitida de at 300 quilowatts (KW),
com Sistema de Medio de Faturamento (SMF) padro da Cmera
de Comercializao de Energia Eltrica (CCEE), atravs de medidor
de quatro quadrantes. Para o autoabastecimento no h limites de po-
tncia, sendo esta a mais vantajosa condio de retorno econmico
pela energia gerada.
A venda dos excedentes de energia eltrica pode ser realizada por
meio de contratos com concessionrias distribuidoras, atravs de
Chamadas Pblicas reguladas pelas instrues normativas da Aneel.
Recentemente ocorreram mudanas signifcativas nesta regulao.
As Resolues Normativas 390/2009 e 395/2009 da agncia, que f-
xaram mudanas de critrios aos procedimentos de distribuio do
PRODIST, permitiram que a energia eltrica em GD gerada com
biogs e saneamento ambiental, por geradores de pequeno porte, me-
nores do que 1 MW e em baixa tenso, possa ser conectada em redes de
distribuio. O potencial desta energia pode ser avaliado na Tabela 1.
225
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Fontes: SIDRA/IBGE, 2006.
5
Plantel abatido (bovinos, sunos e aves) em estabelecimentos inspeciona-
dos, vacas leiteiras e bovinos estabulados.
Interessante registrar que, no Brasil, as redes de distribuio somam
cerca de 4,5 milhes de quilmetros. Antes das modifcaes do
PRODIST, o mximo permitido para geradores de energia descentra-
lizados, como as Pequenas Centrais Hidreltricas (PCHs), era a cone-
xo em subestaes das redes de transmisso, cuja extenso no Brasil
de cerca de 100 mil quilmetros.
A capilaridade das redes de distribuio, agora acessveis devido re-
gulao da GD, praticamente assegura a possibilidade de gerao de
energia eltrica e de fornec-la ao sistema, para as atividades produ-
toras de animais, atividades industriais ou de subsistncia garantindo,
assim, a comercializao desta energia, o que se constitui no passo fun-
damental para obter-se a dimenso econmica da energia do biogs.
Ao potencial de biogs produzido com os dejetos dos plantis de
animais abatidos no Brasil, conforme Tabela 1, foram aplicados os
5
SIDRA Sistema IBGE de Recuperao Automtica, que acessa o Bando de Dados
Agregador do rgo.
Tabela 1. Produo Potencial de Biogs no agronegcio brasileiro
em 2006
Categoria
Animal
Produo potencial de biogs (milhes de m
3
)
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
Frangos 158,7 139,2 152,2 126,6 142,3 141,0 155,6 160,3 151,2 159,0 151,5 161,2
Leites 24,2 22,0 25,1 23,7 24,4 24,0 24,6 24,7 22,9 23,9 23,5 24,7
Sunos
adultos
58,0 55,9 62,6 65,0 67,9 65,4 67,9 67,2 65,9 67,8 63,9 66,6
Vacas
produzindo
362,8 327,7 362,8 351,1 362,8 351,1 362,8 362,8 351,1 362,8 351,1 362,8
Bovinos
abatidos
40,9 33,1 44,2 37,1 46,2 43,5 44,3 47,5 43,3 45,9 42,5 44,8
Bovinos
estabulados
79,1 71,5 79,1 76,6 79,1 76,6 79,1 79,1 76,6 79,1 76,6 79,1
TOTAL 723,8 649,4 726,1 680,1 722,7 701,7 734,3 741,6 711,0 738,6 709,1 739,4
Total Anual:
8.577,8
milhes de
m3
Mdia Mensal: 714,8 milhes de m3
226
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
coefcientes de gerao de energia apresentados por Gaspar (2003).
Com isto obteve-se que o volume mdio de biogs desses plantis
pode produzir 1,1 terawatt/ hora (TWh) / ms de energia eltrica,
confrmado pelos coefcientes enunciados por Lucas Jr. & Silva (2005).
Isto permite estimar que a gerao potencial de energia eltrica
do setor da produo de carnes est em torno de 1 TWh/ms, ou
12 TWh/ano. Ou, ainda, equivale a cerca de 2% do consumo mdio
brasileiro, estimado em 500 TWh/ano de energia eltrica. O valor
desta gerao pode ser obtido pelo valor de referncia da energia el-
trica produzida no Brasil, de R$ 145,00/MWh, aplicado ao valor po-
tencial da energia com biogs enunciado anteriormente, que totaliza
R$ 1,74 bilhes, por ano. Considerando que enquanto 2% do total da
energia consumida no Brasil pode soar insignifcante, o valor desta
energia representa a perda de mais de R$ 1,7 bilho por ano, perdidos
do setor da produo, na forma de energia eltrica.
b) Energia trmica
A converso do biogs em energia trmica pode ser feita de duas formas:
por cogerao a partir da instalao de conversores de calor nos
coletores de escape dos motores para pr-aquecimento da gua
da caldeira de gerao de vapor; e
pela utilizao direta de biogs como combustvel em caldeiras
ou fornos substituindo a lenha, o bagao de cana, o diesel ou
outro combustvel empregado.
Entre as aplicaes da energia trmica produzida com biogs est a
gerao de gua quente e/ou vapor para aquecimento de animais; o
resfriamento obtido por dispositivos de troca de calor, para a refrige-
rao de produtos perecveis; e o uso direto do biogs para queima
em caldeiras e em processos que exijam aquecimento. Aplicar parte
do biogs para gerar energia trmica pode substituir a lenha ou com-
bustveis fsseis utilizados em caldeiras.
O poder calorfco do biogs varia de 5000 a 7000 quilocalorias por
metro cbico (kcal/m
3
) (ou de 20,93 a 29,37 megajoule (MJ). segundo
Droste (1997); Jordo & Pessoa (1995); Van Haandel & Lettina, 1994;
227
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Metcalf & Eddy (1991); Batista (1981) e Azevedo Netto (1961). Con-
siderando o potencial anual de produo de biogs no Brasil (Tabela
1) igual a 8.577,8 milhes de metros cbicos e considerando o poder
calorfco do biogs de 20,93 MJ, chegamos a um potencial total de ge-
rao de energia trmica de 17.970 terajoule (TJ) por ano. Isto equivale
a cerca de 14,5 milhes de toneladas de lenha ou cavaco de madeira.
c) Energia automotiva
O metano com alto poder combustvel resultante do biogs fltra-
do que, em termos de combustvel automotivo, se comporta como o
Gs Natural Veicular (GNV). Veculos de passeio ou de carga podem
utiliz-lo quando adaptados com as mesmas tecnologias de conver-
so de motores a GNV. Esta pode se confgurar em uma alternativa
importante quando o biogs produzido pela mesma cadeia de supri-
mentos que o utilizar, pela autonomia combustvel e pela reduo de
custos que isto representa, por exemplo, uma linha de coleta diria de
leite, ou uma linha de distribuio de raes.
Pela fltragem, separa-se o CH
4
do CO
2
, que funciona como anticha-
ma ou no combustvel. separado tambm o gs sulfdrico (H
2
S),
que corrosivo e mesmo em pequenas quantidades produz a corro-
so de peas essenciais dos motores. O Material Particulado (MP), ou
p, tambm removido na fltragem. Assim, obtm-se o gs metano
com alto teor de pureza, aumentando ao mximo o seu poder calor-
fco e, consequentemente, sua efcincia e possibilidades de aplicao.
Conforme citado anteriormente, o poder calorfco do biogs varia
de 5.000 a 7.000 kcal/m
3
. Quando comparado ao potencial calorfco
da gasolina, chegamos a um fator de equivalncia energtica de 0,60
litros de gasolina para cada metro cbico de biogs (considerando o
menor potencial calorfco para o biogs como sendo 5.000 kcal/m).
Para o diesel, este fator de 0,55 litros de diesel para cada metro cbi-
co de biogs, e para o gs natural o fator de equivalncia energtica
de 0,53 m de gs natural para cada metro cbico de biogs.
Quando se aplicam esses fatores aos dados de produo potencial de
biogs no Brasil (Tabela 1) estima-se que, se todo o biogs disponvel
fosse convertido em combustvel para veculos, isso representaria, em
228
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
um ano, cerca 5,15 bilhes de litros de gasolina, 4,72 bilhes de litros
de diesel ou 4,5 bilhes de m de GNV.
3.2 Gasodutos Rurais para Transporte do Biogs
Certamente a gerao do biogs por biodigestores instalados o mais
prximo possvel das microcentrais, a fm de que se possa utiliz-
lo como combustvel para gerar energia, a situao locacional que
apresenta melhor custo/benefcio.
Porm nem sempre isto possvel e as unidades de gerao muitas
vezes fcam distanciadas das unidades de aplicao. Nestes casos, o
biogs dever ser transportado de um local para outro, o que implica
a necessidade de se servir de um gasoduto para tal.
A soluo atravs de gasodutos tem importncia fundamental para
produtores rurais que gerariam biogs em escala invivel economica-
mente, como acontece com a agricultura familiar, em assentamentos,
e mesmo para integraes cooperativadas, com propriedades distri-
budas em espaos relativamente prximos ou concentrados. Gaso-
dutos rurais podem ser construdos em tubulao fexvel de Polieti-
leno de Alta Densidade (PEAD) com dimetros variveis entre 20 a
90 mm, para reduzir resistncias e perdas de carga e ser implantados
em microbacias hidrogrfcas, caso do Condomnio de Agroenergia
para Agricultura Familiar do Crrego Ajuricaba, implantado como
referncia pela Itaipu Binacional em Marechal Cndido Rondon, Pa-
ran, cuja confgurao resulta extremamente facilitadora para a ado-
o de outras prticas sanitrias e conservacionistas associadas para
a reduo de poluio, seja hdrica ou atmosfrica. So condomnios
de agroenergia com biogs.
A implantao do Condomnio de Agroenergia Ajuricaba tem como
principal objetivo viabilizar 38 propriedades de agricultura familiar
existentes na microbacia hidrogrfca. Produtores com renda inferior
a R$ 100 mil por ano e dedicados produo de leite e carne suna,
bem como de aves em plantis de pequeno porte, isolados, no atin-
giriam escala para usar os estercos e dejetos dos seus animais para
229
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
produzir energias com biogs. A soluo encontrada pela Coordena-
doria de Energias renovveis da Itaipu foi de instalar um biodigestor
em cada propriedade e transportar o biogs ali gerado, a partir de
um gasoduto que conecta os biodigestores. O gasoduto chega a uma
microcentral termeltrica a biogs, onde tambm so demonstradas
aplicaes trmicas do biogs como em um secador de gros com
fogo indireto.
de registrar que no h especifcaes tcnicas nem regulao para
gasodutos rurais no Brasil. Isso se d mais pelo fato de o biogs e
suas possibilidades de microgerao no serem vistos pela Agncia
Nacional do Petrleo (ANP) ou pela Petrobrs, que se encarrega dos
processos de gerao, transporte e distribuio de gs. As empresas
estaduais de gs de estados onde as possibilidades de gerao de ener-
gias com o biogs comea a se tornar realidade, como no Paran e
Santa Catarina, acompanham a movimentao realizada pelos pro-
dutores, por algumas empresas estatais de energia e pela Aneel.
3.3 Cooperativismo com Biogs
O biogs, como produto e como fonte renovvel de energias, pode ser
explorado em sistemas cooperativos. Biodigestores podem ser interli-
gados por gasodutos rurais formando conjuntos de redes interligadas
com gesto associativa, ou mesmo confgurando planejamento para
ordenamento territorial. So muito interessantes porque oferecem es-
cala para a economia do biogs. Os condomnios se associam e po-
dem interligar seus gasodutos a uma s central geradora de energia,
o que determinaria uma economia em escala altamente viabilizadora
para os participantes e resultados importantes ambientais, energti-
cos e principalmente econmicos que podem resultar do cooperati-
vismo com biogs, independentemente da vinculao do produtor a
outras cooperativas, ou integraes. As cooperativas de eletrifcao
rural, que encontram difculdades para ingressar em gerao pelas
limitaes legais, podem encontrar nos condomnios associados uma
interessante soluo econmica.
230
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
4. Reduo de Emisses e os Crditos de
Carbono com Biogs
Os resultados apontados por muitos especialistas tm mostrado pa-
noramas assustadores em relao s mudanas climticas causadas
pela ao do homem no Planeta. Os GEEs lanados na atmosfera au-
mentaram desde 1750 devido ao consumo de combustveis fsseis,
s novas formas de uso da terra, aos desmatamentos e agricultura
intensiva. As principais fontes de emisso de GEEs no Brasil provm
do uso da terra e da agropecuria, ao contrrio dos pases desenvol-
vidos, onde a energia e o transporte so as maiores fontes de emisso
de gases poluentes.
As preocupaes com esses cenrios levaram a Organizao das Na-
es Unidas a promover acordos entre os pases membros, estabele-
cendo a necessidade de controle sobre as intervenes humanas que
levam a mudanas no clima planetrio. Do primeiro acordo, em de-
zembro de 1997, conhecido como Protocolo de Kyoto, estabeleceu-se
que os pases industrializados deveriam reduzir, entre 2008 e 2012,
suas emisses de GEEs. Entre esses gases esto o gs carbnico, o me-
tano, o xido nitroso (N
2
O) e o clorofuorcarbono (CFC). O ndice de
reduo foi fxado em pelo menos 5,2% abaixo dos nveis registrados
em 1990, o que equivale a uma meta mundial de cerca de 714 milhes
de toneladas de gases por ano.
Para incentivar esta reduo, o Protocolo de Kyoto props o Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo (MDL), que permite aos pases de-
senvolvidos caso no consigam ou no possam cumprir suas metas
promovendo a reduo de emisso de gases de seus prprios parques
industriais poder comprar crditos de carbono dos pases que emi-
tem ndices baixos de GEE. Esta compra feita atravs de ttulos, ou
Certifcados de Reduo de Emisses (CERs). Para obt-los, as ati-
vidades geradoras de GEE se submetem a metodologias fxadas pelo
Painel Intergovernamental de Mudanas Climticas (IPCC) e atravs
delas conseguem demonstrar a reduo de suas emisses. Um CER
corresponde a uma tonelada equivalente de dixido de carbono e vale
em mdia, no mercado internacional, US$ 10 por crdito.
231
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4.1 Posio Brasileira em Relao s Redues de Emisses
As Naes Unidas, pela Conveno Quadro das Naes Unidas so-
bre Mudana do Clima (UNFCCC), fzeram realizar, em 2009, a 15
Conferncia das Partes, em Copenhague, Dinamarca. Aps esta Con-
ferncia, o Brasil estabeleceu o compromisso voluntrio de reduo
de emisso de GEE entre 36,1% e 38,9% de suas emisses atuais at
2020. As metas para cumprir estes compromissos e reduzir as emis-
ses das atividades da produo brasileira de alimentos constam do
Projeto Agricultura de Baixo Carbono, que aponta para a reduo de
um bilho de toneladas equivalentes de carbono, com as aes apre-
sentadas na Tabela 2.
Tabela 2. Aes para reduo das emisses de carbono
Objetivo Ao
Para a reduo de emisses da ordem de
669 milhes de t CO
2
eq.
Reduo de 80% da taxa de desmatamento
na Amaznia
Reduo de 40% da taxa de desmatamento
do Cerrado
Para a reduo de emisses entre 133 a 166
milhes t CO
2
eq.
Recuperao de pastagens atualmente
degradadas
Promoo ativa da integrao lavoura-
pecuria
Ampliao do plantio direto e a fxao
biolgica de nitrognio
Para a reduo em emisses variveis entre
174 a 217 milhes de toneladas de CO
2
eq.
Ampliao da efcincia energtica,
o uso de biocombustveis, a oferta de
hidreltricas e fontes alternativas de
biomassa, elicas, pequenas centrais
hidreltricas, e o uso de carvo de forestas
plantadas na siderurgia
Fonte: MAPA, 2010
Para demonstrar uma das possibilidades de o governo federal cum-
prir suas metas de reduo de emisses atravs do biogs, pode-se
estimar a reduo de emisses com base na produo anual de biogs
por animais abatidos no Brasil em 8577,8 milhes de m
3
(Tabela 1)
e aplicando-se o ndice de 60% de metano no biogs, obtm-se uma
produo anual de metano de 5.145,6 milhes de m
3
. Com a densi-
dade do metano de 0,72 kg/m
3
e o potencial de aquecimento global
do metano em 21 vezes o do CO
2
, possvel calcular a reduo anual
potencial de 77.8 milhes t CO
2
eq. Comparando-se este potencial
232
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
com o Indicador/Compromisso do Projeto Agricultura de Baixo Car-
bono, que de um bilho de t Co
2
eq. at 2020, pode-se entender
que o potencial de reduo encontrado ser de, aproximadamente,
7% deste indicador.
5. Referncias
ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica. Resoluo Normati-
va n 390, de 15 de dezembro de 2009. Disponvel em: www.aneel.gov.
br/cedoc/ren2009390.pdf. Acesso em: jul. 2010.
___________ Resoluo Normativa n 395, de 15 de dezembro de
2009. Disponvel em: www.aneel.gov.br/cedoc/ren2009395.pdf. Aces-
so em jul. 2010.
AZEVEDO NETTO, J. M. Aproveitamento do Gs de Esgotos, Re-
vista DAE, ano XXII, n. 41, p. 15-44, jun, e n. 42, p. 11-40, set. 1961.
BATISTA, L. F. Construo e Operao de Biodigestores Manual
Tcnico, Empresa Brasileira de Assistncia Tcnica e Extenso Rural,
54 p., Braslia, DF, 1981.
BLEY JR, C., LIBANIO, J.C., GALINKIN, M., OLIVEIRA, M.M.,
Agroenergia da biomassa residual: perspectivas Energticas, Ambien-
tais e socioeconmicas. 2. ed. Itaipu Binacional, Organizao Naes
Unidas para Alimentao e Agricultura / FAO TechnoPolitik Editora,
2009. 140 p.
COELHO, S. T.; VELZQUEZ, S. M. S. G.; SILVA, O. C.; VARKULYA,
A. Jr.; PECORA, V.. Relatrio de Acompanhamento Biodigestor
Modelo UASB. So Paulo. CENBIO Centro Nacional de Referncia
em Biomassa, 2003.
COELHO, S. T.; VELZQUEZ, S. M. S. G.; SILVA, O. C.; PECORA,
V.; ABREU, F. C. de. Relatrio de Acompanhamento Relatrio Final
de Atividades do Projeto Programa de Uso Racional de Energia e Fontes
Alternativas (PUREFA). So Paulo. CENBIO Centro Nacional de
Referncia em Biomassa, 2005.
233
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
DROSTE, R. L. Teory and Practice of Water and Wastewater
Treatment, cap. 18 Anaerobic Wastewater Treatment, p. 622-669,
John Wiley & Sons, Inc, Estados Unidos, 1997.
GASPAR, R. M. B. L.; Utilizao de biodigestores em pequenas e m-
dias propriedades rurais com nfase agregao de valor: um estudo
de caso da Regio de Toledo PR. Florianpolis: UFSC, Programa
de Ps-graduao em Engenharia de Produo e Sistemas, 2003, 106
p. Disponvel em: <http://www.tede.ufsc.br/teses/PEPS4022.pdf>.
Acesso em: jul. 2010.
IPCC Painel Intergovernamental de Mudanas Climticas. Guia
para Inventrios Nacionais de Gases de Efeito Estufa IPCC Ca-
ptulo 10: Emisses da Pecuria e do Manejo de Dejetos. Disponvel
em: <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp. Acesso em: jul. 2010.
IPCC Painel Intergovernamental de Mudanas Climticas. Meto-
dologia AMS.III.D Verso 14 Captura de Metano em Sistemas de
Gesto de Animais 2009. Disponvel em: http://cdm.unfccc.int/
methodologies/ DB/ZODCONSVY9D 2ONI J KJMU ZEKRE56T71/
view.html . Acesso em jul. 2010.
JORDO, E. P. & PESSA, C. A. Tratamento de Esgotos Domsticos,
3. ed. Rio de Janeiro: ABES (1995), 681 p.
LUCAS JR. E SILVA. Biogs Produo e utilizao. Unesp, 2005.
MAPA MINISTRIO DA AGRICULTURA, PECURIA E ABAS-
TECIMENTO. Plano Nacional de Agroenergia, 2006-2011. Braslia:
Mapa, 2005, 120 p.
________. Projeto Agricultura de Baixo Carbono. 2010.
METCALF & EDDY (1991), Wastewater Engineering: Treatment,
Disposal, Reuse, 3. ed., cap. 12, Nova York: McGraw-Hill p. 765-926.
234
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
C
c
e
r
o
B
l
e
y
J
r
.
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
SOUZA et al. (1992) apud POMPERMAYER, Raquel de Souza and
PAULA JUNIOR, Durval Rodrigues de. Estimativa do potencial
bra*sileiro de produo de biogs atravs da biodigesto da vinhaa e
comparao com outros energticos. In: ENCONTRO DE ENERGIA
NO MEIO RURAL, 3. ed. Campinas. 2000. Disponvel em: http://
www.proceedings.scielo.br/ scielo.php?pid= MSC00000000 220000 0
0 200055&script=sci_arttext . Acesso em 15 jul. 2010.
235
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
6. Fontes de Financiamento e Dificuldades
para a Obteno de Recursos para
Projetos no Campo das Fontes Alternativas
Renovveis de Energia na Regio Sul do
Brasil
Rogrio Gomes Penetra
Gerente de Planejamento do BRDE em Santa Catarina
1. Introduo
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) um
banco de desenvolvimento atuante na regio Sul do Brasil. Apoia in-
vestimentos nos diversos setores da economia, sejam indstrias, co-
mrcio e servios, agronegcio ou infraestrutura. Nos ltimos anos
tem-se intensifcado o fnanciamento a investimentos em fontes alter-
nativas renovveis de energia eltrica, especifcamente em projetos de
gerao elica e hidreltricas, a partir de biogs e de biomassa.
A disponibilidade de fontes de fnanciamento de longo prazo e com
reduzido custo fnanceiro essencial para a viabilizao dos inves-
timentos nas diferentes fontes renovveis de energia, visto que so
projetos de infraestrutura, setor que demanda elevado investimento
inicial e que requer prazos distendidos para sua amortizao, no po-
dendo ser dependente de crdito caro, sob pena de inviabilizar proje-
tos e desestimular investidores, com consequente prejuzo ao desen-
volvimento do pas.
No mbito de atuao do BRDE, as fontes de fnanciamento com as ca-
ractersticas exigidas pelos citados projetos so essencialmente providas
236
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
por recursos oriundos de fundos especiais constitucionais, tal qual o
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), origem de parcela signifcativa
dos recursos repassados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Eco-
nmico e Social (BNDES), diretamente ou indiretamente, por meio de
instituies fnanceiras credenciadas, como o caso do BRDE.
Por esse motivo, o acesso a tais recursos extremamente regrado, o
que resulta em difculdades adicionais para sua utilizao. Sua utili-
zao exige o atendimento integral a inmeros requisitos de ordem
legal, ambiental, social, regulatria, alm da fscalizao e acompa-
nhamento da aplicao dos recursos. Especifcamente nos projetos
que envolvem fontes alternativas renovveis de energia no Brasil, a
estruturao de garantias para a operao elemento importante para
a concretizao do apoio fnanceiro, merecendo ateno especial por
parte dos empreendedores e agentes fnanciadores.
O objetivo deste artigo identifcar as fontes de fnanciamento atual-
mente utilizadas pelo BRDE no apoio a projetos no campo das fontes
alternativas renovveis de energia na regio Sul do Brasil, bem como
as difculdades para a obteno desses recursos, considerando sua
rea de atuao e o porte dos projetos comumente fnanciados.
2. O BRDE
uma instituio fnanceira pblica de fomento, controlada pelos es-
tados do Paran, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, instituda em
15 de junho de 1961. Juridicamente organizado como autarquia inte-
restadual, o banco conta com autonomia fnanceira e administrativa
e seu acervo integra o patrimnio dos estados controladores, que so
subsidiariamente responsveis por suas obrigaes. Como banco de
desenvolvimento, especializado na oferta de crdito de mdio e lon-
go prazos.
Sua misso promover e liderar aes de fomento ao desenvolvimen-
to econmico e social de toda a regio de atuao, apoiando as inicia-
tivas governamentais e privadas, atravs do planejamento e do apoio
tcnico, institucional e creditcio de longo prazo.
237
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
A viso do BRDE ser reconhecido pela sociedade como instituio
imprescindvel, capaz de prover e estimular aes que resultem no
crescimento econmico e social da regio de atuao, contribuindo
para a melhoria dos seus indicadores de desenvolvimento humano.
Para isto, seus valores contemplam o compromisso com o desenvol-
vimento regional, a valorizao do conhecimento tcnico, a autossus-
tentabilidade, a gestocolegiada e a resilincia.
Sua estrutura administrativo-organizacional determinada por re-
gimento interno estabelecido pelo Conselho de Desenvolvimento
e Integrao Sul (CODESUL) e fundamentada por atos constituti-
vos aprovados pelas assembleias legislativas dos estados-membros.
O BRDE est sujeito ao acompanhamento e controle dos tribunais de
contas dos estados controladores, bem como fscalizao do Banco
Central do Brasil.
Os dados estruturais do BRDE em 30/11/2011 so:
trs agncias e 536 colaboradores;
4 271 operaes contratadas, no valor total de R$ 1,462 bilho,
em 2011;
31 576 clientes ativos em 1043 municpios atendidos (87%);
Carteira de crdito de R$ 7,0 bilhes e Patrimnio lquido de
R$ 1,24 bilho;
Resultado lquido de R$ 79,2 milhes em 30/11/2011.
2.1 Alguns projetos fnanciados pelo BRDE
Em relao aos empreendimentos no campo das fontes alternati-
vas renovveis de energia na regio Sul do Brasil, o BRDE tem f-
nanciado projetos situados em uma faixa de valores que varia entre
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e R$ 70.000.000,00 (setenta mi-
lhes de reais), especifcamente em projetos de gerao elica e hi-
dreltrica, a partir de biogs e de biomassa. As unidades de gerao
produzem desde 0,2 MW at 150 MW.
238
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Para melhor exemplifcar a rea de atuao e o porte dos investimen-
tos, a seguir so apresentados alguns projetos fnanciados pelo banco.
2.1.1 Biogs como fonte alternativa de gerao de energia
Um dos projetos fnanciados est localizado em Videira, Santa Cata-
rina, em uma propriedade rural focada na suinocultura. O complexo
de granjas de sunos abriga mais de dez mil matrizes, com produo
anual superior a 225 mil leites. O projeto de fnanciamento contem-
plou a modernizao e ampliao das granjas de sunos e os investi-
mentos para coleta e aproveitamento do biogs, compreendendo a
aquisio e instalao de mantas de PVC nas lagoas anaerbicas j
existentes (Figura 1) e a instalao de dois geradores para produo
de energia eltrica, com potncia instalada de 200 kVA (Figura 2).
Figura 1 Lagoas recobertas por manta de PVC, com o objetivo de
reter e acumular o biogs resultante da digesto anaerbica
Fonte: BRDE
239
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Figura 2 Um dos geradores do sistema para produo
de energia eltrica
Fonte: BRDE
Especifcamente para o sistema de reteno do biogs e de gerao
de energia, foram investidos R$ 1.176.500,00, com fnanciamento
de 100% do projeto. Para tratamento dos dejetos sunos, a granja j
dispunha de um sistema baseado no modelo proposto pelo Centro
Nacional de Pesquisa de Sunos e Aves da Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuria (EMBRAPA Sunos e Aves), utilizando sistema
de separao da parte slida da lquida, no qual os slidos so desti-
nados para a compostagem e o lquido resultante tratado em lagoas
anaerbias.
2.1.2 Pequenas Centrais Hidreltricas
A implantao de trs pequenas centrais hidreltricas (PCH) no rio
Engano, localizado no municpio de Angelina, Santa Catarina, pr-
ximas umas das outras, foi caracterizado como um nico projeto e
fnanciado pelo BRDE. A primeira PCH, mais a montante, deno-
minada PCH Barra Clara, possui capacidade instalada de 1,54 MW,
sendo que a energia assegurada e verifcada pela Aneel de 1,1MW.
240
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
O investimento total alcanou R$ 5.300.000,00, com fnanciamento
de R$ 4.200.000,00.
A PCH Coqueiral, cujas obras da barragem e da tomada dgua podem
ser vistas na Figura 3, no mesmo rio Engano, possui capacidade ins-
talada de 3,16 MW, sendo que a energia assegurada e verifcada pela
Aneel de 1,90 MW. O investimento total alcanou R$ 13.000.000,00,
com fnanciamento de R$ 10.000.000,00.
Figura 3 Vista das obras da barragem e da tomada dgua da
PCH Coqueiral
Fonte: BRDE
Por fm, mais a jusante no rio Engano, a PCH Santa Ana, possui ca-
pacidade instalada de 6,30 MW, sendo que a energia assegurada e
verifcada pela Aneel de 3,80 MW. O investimento total alcanou
R$ 20.200.000,00, com fnanciamento de R$ 17.500.000,00.
2.1.3 Biomassa como fonte alternativa de gerao de energia
A instalao de uma nova unidade de co-gerao de energia com ca-
pacidade instalada de 25 MW de potncia e fornecimento mximo
de 25 t/h de vapor, localizada em Lages, Santa Catarina, utilizando
resduos de madeira (biomassa) das indstrias da regio, tambm
241
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
foi fnanciada pelo BRDE. O projeto abrangeu a planta de gerao
de energia propriamente dita (Figura 4), a linha de transmisso de
2200 metros at a subestao das Centrais Eltricas de Santa Cata-
rina CELESC S.A., a captao para fornecimento de gua, o ptio
de recebimento da biomassa e todas as demais necessidades fsicas
para a completa operao da geradora. O investimento total alcanou
R$ 70.400.000,00, em 2003, com fnanciamento de R$ 49.300.00,00.
Figura 4 Vista da unidade de co-gerao de energia com capaci-
dade instalada de 25 MW de potncia e fornecimento mximo de
25 t/h de vapor, localizada em Lages SC, utilizando resduos de
madeira (biomassa)
Fonte: BRDE
2.1.4 Usinas elicas
O BRDE fnanciou parcela dos investimentos de projeto que consis-
tiu no aproveitamento do potencial elico para a gerao de energia
eltrica por meio da construo de trs parques elicos: os de Os-
rio, Sangradouro e dos ndios, com 50 MW cada um, implantados
no municpio de Osrio, Rio Grande do Sul, observado na Figura 5.
O empreendimento foi fnanciado com recursos do BNDES no mon-
tante de R$ 465 milhes, sendo que o montante de R$ 105 milhes
242
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
foi fnanciado diretamente pelo BNDES e o restante (R$ 360 milhes)
por um conjunto de bancos, dentre eles o BRDE, com R$ 70 milhes.
Figura 5 Vista parcial de parque elico fnanciado pelo BRDE
Fonte: BRDE
2.2 Fontes de Financiamento
A implantao de uma unidade de gerao de energia demanda in-
vestimentos por parte dos empreendedores. Em algumas situaes,
os empreendedores possuem todo o recurso necessrio. Entretanto,
a situao mais comum caracteriza-se pela necessidade de outra fon-
te de recursos, denominada recursos de terceiros. Desta forma, cada
empreendimento ter como fontes de fnanciamento os recursos pr-
prios dos empreendedores e os recursos de terceiros.
Sucintamente, os recursos de terceiros podem ser classifcados como
onerosos ou no onerosos. O fnanciamento bancrio um dos exem-
plos de recursos de terceiros onerosos. Este tipo de fnanciamento
possui um custo (taxa de juros) e prazos para sua amortizao, defni-
dos contratualmente. O agente fnanciador remunerado pelos juros
reais recebidos ao longo do perodo de carncia e de amortizao.
A participao acionria um exemplo de recursos de terceiros no
onerosos. Os recursos so integralizados na empresa responsvel pe-
243
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
los investimentos requeridos pelo projeto. O agente fnanciador, ago-
ra scio da empresa, remunerado pelos dividendos futuros, decor-
rentes dos lucros do empreendimento.
2.2.1 Financiamento bancrio com recursos de longo prazo
O Sistema BNDES a principal fonte de recursos dos fnanciamentos
realizados pelo BRDE. Assim, todos os fnanciamentos do BRDE res-
peitam as condies de cada linha de crdito ou programa estabele-
cido pela instituio. As condies de fnanciamento variam confor-
me o porte do grupo econmico responsvel pelo empreendimento.
A classifcao de porte de empresa e de grupo econmico adotada pelo
BNDES e aplicvel a todos os setores est resumida no quadro a seguir:
Classifcao Receita operacional bruta anual
Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhes
Pequena empresa
Maior que R$ 2,4 milhes e menor ou
igual a R$ 16 milhes
Mdia empresa
Maior que R$ 16 milhes e menor ou
igual a R$ 90 milhes
Mdia-grande empresa
Maior que R$ 90 milhes e menor ou
igual a R$ 300 milhes
Grande empresa Maior que R$ 300 milhes
Fonte: BNDES
2.2.1.1 Para empreendedores privados
O BRDE apoia projetos que visem diversifcao da matriz energti-
ca nacional e que contribuam para a sua sustentabilidade, utilizando a
linha BNDES Energias Alternativas. So apoiveis projetos de bioele-
tricidade, biodiesel, bioetanol, energia elica, energia solar, pequenas
centrais hidreltricase outras energias alternativas, cujos empreende-
dores sejam sociedades com sede e administrao no pas, de controle
nacional ou estrangeiro, e pessoas jurdicas de direito pblico.
a) As condies fnanceiras para o fnanciamento desses empreendi-
mentos compem-se de:
b) Custo Financeiro:Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), hoje em
6% ao ano.
c) Remunerao Bsica do BNDES: 0,9% ao ano.
244
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
d) Taxa de Intermediao Financeira: 0,5% ao ano somente para
mdias-grandes e grandes empresas; as micro, pequenas e mdias
empresas esto isentas da taxa.
e) Remunerao do BRDE: negociada individualmente com o em-
preendedor.
Para empreendimentos cujo valor de fnanciamento seja superior a
R$ 20 milhes, a participao mxima de fnanciamento em relao
aos investimentos de 90% dos itens fnanciveis para projetos de
co-gerao de energia que utilizem caldeira de biomassa com presso
maior ou igual a 60 bar, ou de 80% dos itens fnanciveis para os de-
mais empreendimentos.
Para empreendimentos cujo valor de fnanciamento seja inferior a
R$ 20 milhes, a participao mxima de fnanciamento em relao aos
investimentos de 90% dos itens fnanciveis para todos os tipos de em-
preendimento. O prazo de amortizao do fnanciamento de at dezes-
seis anos, com carncia adequada ao prazo de implantao do projeto.
Complementarmente s linhas disponveis, o custo fnanceiro m-
dio dos recursos pode ser reduzido com a utilizao da linha BNDES
PSI Bens de Capital, com o fnanciamento da aquisio de mqui-
nas e equipamentos novos, de fabricao nacional, credenciados no
BNDES, associados ao projeto de implantao da unidade de gera-
o de energia a partir de fontes renovveis. Para ser credenciado no
BNDES, as mquinas e equipamentos devem apresentar ndice de na-
cionalizao, em peso e valor, igual ou superior a 60%, ou cumprir o
Processo Produtivo Bsico (PPB). A taxa de juros deste fnanciamen-
to de 6,5% ao ano para micro, pequenas e mdias empresas, com
fnanciamento de at 90% dos investimentos. Para mdias-grandes e
grandes empresas, a taxa de juros de 8,7% ao ano, com fnanciamen-
to de at 70% dos investimentos. Para todas as empresas, conta-se
com prazo total de dez anos, com at dois anos de carncia.
245
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
2.2.1.2 Para produtores rurais e suas cooperativas
Em diferentes atividades rurais, h gerao de resduos que, lanados
diretamente no meio ambiente, causam grande impacto ambiental.
Para a reduo deste impacto, os produtores rurais devem dispor de
sistema de tratamento de resduos em suas propriedades. Os investi-
mentos envolvidos na implantao destes sistemas de tratamento so
volumosos, comparativamente ao retorno econmico da atividade
rural. Para viabiliz-los, fundamental que o produtor consiga aufe-
rir ganhos incrementais a partir do tratamento dos resduos.
Para o fnanciamento desses projetos, est disponvel o Programa de
Modernizao da Agricultura e Conservao de Recursos Naturais
(MODERAGRO), do BNDES, que contempla investimentos neces-
srios ao tratamento de dejetos e a obras decorrentes da execuo de
projeto de adequao sanitria e/ou ambiental relacionado s ativi-
dades constantes do objetivo desse programa, dentre elas os setores
da apicultura, aquicultura, avicultura, chinchilicultura, cunicultura,
foricultura, fruticultura, horticultura, ovinocaprinocultura, pecuria
leiteira, pesca, ranicultura, sericicultura e suinocultura. Os investi-
mentos na gerao de energia a partir do biogs coletado do sistema
de tratamento de dejetos tambm esto contemplados.
A taxa de juros deste programa de 6,75% ao ano, com fnanciamento
de at 100% dos investimentos, limitado a R$ 600 mil, por cliente, para
empreendimento individual, e a R$ 1,8 milho, para empreendimento
coletivo, respeitado o limite individual por participante. O prazo total
do fnanciamento de at dez anos, includa a carncia de at trs anos.
Para projetos de maior porte de cooperativas singulares de produo
agropecuria, agroindustrial, aqucola ou pesqueira e de cooperativas
centrais formadas exclusivamente por cooperativas de produo agrope-
curia, agroindustrial, aqucola ou pesqueira, est disponvel o Programa
de Desenvolvimento Cooperativo para Agregao de Valor Produo
Agropecuria (PRODECOOP). Neste programa so apoiveis a implan-
tao de sistemas para gerao e co-gerao de energia e de linhas de
ligao para consumo prprio, como parte integrante de um projeto de
agroindstria, e a implantao, conservao e expanso de sistemas de
246
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
tratamento de efuentes. Tambm neste programa os investimentos na
gerao de energia a partir do biogs coletado do sistema de tratamento
de dejetos esto contemplados.
A taxa de juros deste programa de 6,75% ao ano, com fnanciamento
de at 90% dos investimentos, limitado a R$ 60 milhes, por coope-
rativa. O prazo total do fnanciamento de at doze anos, includa a
carncia de at trs anos.
2.2.2. Participao acionria (recursos de terceiros no
onerosos)
O custo unitrio de implantao de uma pequena central hidreltrica
(R$/MW) varia de acordo com o projeto, que deve atender a aspectos
geolgicos, ambientais, de disponibilidade hdrica, legais etc. Ainda
assim, dentro do contexto dos projetos apresentados ao BRDE, pos-
svel identifcar um custo mdio em torno de R$ 6.000.000,00 por
MW instalado, ao longo do ano de 2011. Assim sendo, uma PCH de
15 MW implica investimentos da ordem de R$ 90.000.000,00. Consi-
derando que o fnanciamento geralmente fca limitado a 80% do in-
vestimento total, de modo a atender as projees de capacidade de
pagamento da dvida, os empreendedores devem dispor de cerca de
R$ 18.000.000,00. A indisponibilidade destes recursos prprios uma
das limitaes para a disseminao dos investimentos no campo das
fontes alternativas de gerao de energia.
Para contornar essa limitao, a subsidiria de gerao das Centrais
Eltricas de Santa Catarina S.A. (Celesc CELESC Gerao), em
parceria com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), elaborou o Programa Catarinense de Apoio s Fontes Alter-
nativas de Gerao de Energia (SC-Energia), no qual se fundamen-
tou a Chamada Pblica GN 01/2007, publicada em maro de 2008,
convocando interessados a participar do processo de seleo para
a formao de parcerias por meio de Sociedade(s) de Propsito(s)
Especfco(s) (SPE), para implantar e explorar PCHs e projetos de
fontes alternativas de energia, em potncia instalada at 30 MW por
projeto, localizados, preferencialmente, no territrio catarinense.
247
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Dada a expressiva importncia socioeconmica e ambiental deste
programa para Santa Catarina, o BRDE, sendo instituio fnanceira
pblica e comprometida com o desenvolvimento sustentvel, tornou-
se parceiro do Programa SC-Energia, oferecendo apoio tcnico, insti-
tucional e creditcio.
A implantao e explorao das PCHs, conforme previsto no Pro-
grama SC-Energia, so viabilizadas por meio de SPEs, tendo como
acionistas a(s) empresa(s) e/ou investidor(es) e a Celesc Gerao S.A.,
que ter participao acionria de no mximo 49%, assegurando que
os demais scios permaneam como acionistas majoritrios.
A disposio da CELESC Gerao S.A. de formar parceria com inves-
tidores e de aportar signifcativo montante de recursos na(s) SPE(s)
facilitar e, consequentemente, estimular a implantao de muitos
projetos de fontes alternativas de energia em Santa Catarina, j que a
sua participao como investidora e facilitadora dos processos de co-
nexo das usinas a rede distribuidora e de comercializao da energia
gerada minimizar os riscos dessas operaes (AQUINO, F. M., 2009).
3. Dificuldades para a Obteno de Recursos
para Projetos
de pensamento corrente que a maior difculdade para obteno de f-
nanciamento no campo das fontes alternativas para gerao de energia
seja a disponibilidade de garantias. No campo de atuao do BRDE, a
realidade no corrobora esse pensamento. Em casos raros o fnancia-
mento de um projeto no concretizado por causa das garantias.
As garantias usuais utilizadas em fnanciamentos correntes no BRDE
so constitudas com hipoteca de bens imveis e alienao fduci-
ria de equipamentos fnanciados. Tal prtica utilizada nos fnancia-
mentos de investimentos corriqueiros das empresas, tais quais a cons-
truo ou ampliao de parque produtivo, a aquisio de mquinas e
equipamentos, entre outros.
Para o setor de infraestrutura, especifcamente no campo da gerao
de energia por fontes alternativas, a modalidade usual de estruturao
de fnanciamento no adequada. Para tanto, o BRDE utiliza o Project
248
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Finance, que se refere estruturao fnanceira de implantao de um
empreendimento, como uma unidade econmica com fns especfcos
(SPEs), na qual os fnanciadores se baseiam, como fonte para repaga-
mento de seus emprstimos, nos ganhos econmicos e fnanceiros ad-
vindos somente do empreendimento pelo conceito de fuxo de caixa.
Os contratos, por sua abrangncia, mais que os ativos do empreendi-
mento, constituem-se como a verdadeira garantia colateral dos fnan-
ciadores.
Na modalidade Project Finance, as garantias so determinadas em
funo da anlise tcnico-econmica do projeto e dos acionistas, des-
tacando-se as seguintes:
i) penhor de aes da SPE;
ii) penhor dos direitos emergentes da concesso;
iii) penhor dos direitos creditrios;
iv) reserva de meios de pagamento: vinculao e cesso em garantia,
em favor dos credores, da receita proveniente dos contratos de
compra e venda de energia, incluindo a constituio de conta re-
serva no valor equivalente a, no mnimo, trs parcelas do servio
da dvida e trs parcelas do contrato de operao e manuteno;
v) constituio, durante a implantao do projeto, de pacote de
garantias que mitiguem risco de implantao e/ou seguros, com
clusula benefciria em favor dos credores, incluindo, dentre
as possibilidades: (a) performance bond; (b) seguro de risco de
engenharia; e (c) completion bond;
vi) constituio de contrato de suporte dos acionistas no montante
mnimo equivalente ao aporte de recursos prprios por parte
dos acionistas, podendo este montante ser elevado conforme a
capacidade fnanceira de aporte desses recursos; e
vii) fana corporativa e/ou aval dos controladores privados.
Note-se que a difculdade nesta modalidade possuir um contrato de
compra e venda de energia (item iv) pelo prazo total do fnanciamen-
to, que alcana at dezesseis anos. Essa difculdade decorrente da
viso do vendedor que deseja vender sua energia pelo maior preo
possvel e julga que seu valor tende a se valorizar com o tempo e do
comprador, que deseja comprar sua energia pelo menor preo poss-
vel e no est convencido de que seu valor tende a se valorizar com o
tempo. Em geral, o mercado prefere contratos de curto prazo.
249
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Para contornar essas limitaes de disponibilidade de um contrato de
compra e venda de energia pelo prazo total da operao, o BRDE tem
adotado solues alternativas, muitas vezes combinadas com a estru-
turao usual de garantias, nos projetos de menor valor:
i) Contratos de compra e venda de energia com diferentes prazos,
sempre respeitando a necessidade de cobertura do servio da dvida;
ii) Uso de contrato de compra e venda de energia de outras unida-
des de gerao de energia j em operao;
iii) Hipoteca de bens imveis no envolvidos no projeto, para fnan-
ciamentos de menor valor.
Atualmente, a maior difculdade para obteno de recursos passa pela
anlise econmico-fnanceira do empreendimento, quando o preo
da energia vendida no sufciente para remunerar os investimentos
e o servio da dvida.
Para tal, fundamental a comparao entre as diferentes realidades
de mercado, observadas pelo corpo tcnico do BRDE nas anlises de
projetos entre 2002 e 2011. Em 2002, a Poltica Operacional do BRDE
considerava ( JUNQUEIRA et al.):
i) Contrato de compra e venda de energia por volta de R$ 80,00
/ MWh, com perspectiva de elevao dos preos ao longo do
tempo;
ii) Custo de implantao de at R$ 2 milhes / MW de potncia
instalada;
iii) Taxa Interna de Retorno (TIR) mnima de 12% a.a.;
iv) Custo mdio do fnanciamento: 15% ao ano.
Em 2011, a realidade operacional observada nos diferentes projetos
analisados pelo BRDE em Santa Catarina era:
Contrato de compra e venda de energia por volta de R$ 130,00 / MWh,
com perspectiva de queda dos preos ao longo do tempo;
i) Custo de implantao de cerca de R$ 6 milhes / MW de potn-
cia instalada;
ii) Taxa Interna de Retorno (TIR) aceitvel de 8% a.a.;
iii) Custo mdio do fnanciamento: 9,2% ao ano.
250
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
R
o
g
r
i
o
G
o
m
e
s
P
e
n
e
t
r
a
|
C
O
N
T
R
I
B
U
I
E
S
E
S
P
E
C
I
A
I
S
Ainda que o custo do fnanciamento tenha sido reduzido e o valor
de compra e venda tenha sido elevado, percebe-se que o aumento
dos custos de implantao repercutiu na reduo da TIR do projeto,
reduzindo a atratividade fnanceira dos projetos e, em muitos casos,
inviabilizando a gerao de caixa para amortizao da dvida.
4. Concluses
Dentro do escopo de atuao do BRDE, h linhas para fnanciamento de
diversos portes de projeto no campo das fontes alternativas de gerao
de energia, com possibilidade de participao em at 100% do investi-
mento, com juros de at 6,75% ao ano e prazo compatvel com as carac-
tersticas de gerao de caixa do empreendimento. Complementarmen-
te ao endividamento oneroso, h programa para participao acionria
de companhia estadual de gerao e distribuio de energia eltrica.
As garantias necessrias para a operao de crdito no tm sido um fa-
tor limitador, visto que o BRDE dispe de diversas alternativas para a
estruturao dos fnanciamentos, mesclando o modelo tradicional de f-
nanciamento com variantes do modelo conhecido como Project Finance.
As difculdades para a obteno de recursos para projetos no campo
das fontes alternativas renovveis de energia na regio Sul do Brasil,
notadamente em pequenas centrais hidreltricas, residem na avalia-
o da viabilidade econmico-fnanceira do empreendimento, em
funo do aumento dos custos de implantao e da incerteza quanto
ao valor de venda da energia comercializada.
5. Referncias
AQUINO, F. M. Programa Catarinense de Apoio as Fontes Alternati-
vas de Gerao de Energia (SC-Energia). Banco Regional de Desen-
volvimento do Extremo Sul. Agncia de Florianpolis. Gerncia de
Planejamento. 2009. 23 p.
JUNQUEIRA, A. A.; BERCHT, M.; BREMER. O. A. E SILVA, P. R. F.
Informe Sobre as PCHs. Nota Tcnica. Disponvel em: <http://www.
brde.com.br/ media/ brde. com . br/doc/estudos_e_pub/Informe%20
Sobre%20PCHs.pdf.> BRDE. jun. 2002.
PROPOSIES
LEGISLATIVAS
253
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
REQUERIMENTO
(Dos Srs. Pedro Uczai, Inocncio Oliveira, Ariosto Holanda, Arnaldo
Jardim, Bonifcio de Andrada, Flix Mendona Jnior, Jaime Martins,
Jorge Tadeu Mudalen, Mauro Benevides, Newton Lima, Teresa Surita
e Waldir Maranho)
Requer o envio de Indicao ao Minis-
trio de Minas e Energia com a fina-
lidade de sugerir a incluso de infor-
maes referentes a fontes de energia
alternativa no Balano Energtico
Nacional e nos estudos de planejamen-
to energtico, bem como a criao de
uma secretaria de fontes renovveis de
energia na estrutura do rgo.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 113, inciso I e 1
o
, do Regimento Interno da
Cmara dos Deputados, requeiro a V. Ex.. seja encaminhada ao
Poder Executivo a indicao em anexo, sugerindo ao Ministrio de
Minas e Energia a incluso de informaes referentes a fontes de
energia alternativa no Balano Energtico Nacional e nos estudos de
planejamento energtico, bem como a criao de uma secretaria de
fontes renovveis de energia na estrutura do rgo.
Sala das Sesses, em de de 2012.
Deputado PEDRO UCZAI (PT-SC)
Relator do tema no Conselho de Altos Estudos e
Avaliao Tecnolgica
Deputado INOCNCIO OLIVEIRA (PR-PE)
Presidente do Conselho de Altos Estudos
e Avaliao Tecnolgica
254
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
INDICAO N
o
2.935, DE 2012
(Dos Srs. Pedro Uczai, Inocncio Oliveira, Ariosto Holanda, Arnaldo
Jardim, Bonifcio de Andrada, Flix Mendona Jnior, Jaime Martins,
Jorge Tadeu Mudalen, Mauro Benevides, Newton Lima, Teresa Surita
e Waldir Maranho)
Sugere ao Ministrio de Minas e Ener-
gia a incluso de informaes referen-
tes a fontes de energia alternativa no
Balano Energtico Nacional e nos
estudos de planejamento energtico,
bem como a criao de uma secretaria
de fontes renovveis de energia na es-
trutura do rgo.
Excelentssimo Senhor Ministro Edison Lobo:
As fontes renovveis de energia detm participao expressiva na
matriz energtica brasileira, particularmente em relao oferta de
energia eltrica. Todavia, preciso considerar que a expanso da fon-
te hidroeltrica dever ocorrer, essencialmente, por meio de usinas a
fio dgua, sem a formao de reservatrios que possam compensar
a variao sazonal das afluncias hdricas. Sendo assim, tornar-se-
cada vez mais importante a utilizao de fontes complementares para
compensar a perda de capacidade de gerao hidroeltrica no perodo
de baixa vazo de nossos rios.
Os estudos tm demonstrado que, no Brasil, temos o privilgio de
possuir fontes renovveis cuja disponibilidade mais acentuada nos
momentos de baixas afluncias hdricas, como o caso da elica, so-
lar e tambm da biomassa proveniente do bagao de cana-de-acar.
So, portanto, candidatas preferenciais a exercer a tarefa de comple-
mentao gerao hidreltrica. Assim, a instituio de mecanismos
que favoream o aproveitamento desse potencial renovvel, certa-
mente, trar maiores ganhos ao pas que a utilizao de combustveis
fsseis, dispendiosos e poluentes.
Ressaltamos que o Balano Energtico Nacional (BEN) o documen-
to em que se baseia o planejamento energtico no Brasil e que serve de
255
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
referncia para o desenvolvimento dos planos e projetos dos agentes
do setor energtico, sejam eles estatais ou privados.
Entretanto, no decorrer de estudo realizado no mbito do Conselho
de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica da Cmara dos Deputados,
tratando das fontes de energia renovvel no Brasil, observamos que
esto ausentes da referida publicao algumas informaes que jul-
gamos de fundamental importncia.
Inicialmente, verificamos que, apesar da contratao recente de gran-
de quantidade de energia eltrica proveniente da fonte elica nos lei-
les realizados pelo governo federal, no consta do BEN 2011, no ca-
ptulo referente a recursos e reservas energticas, meno ao potencial
elico brasileiro. A utilizao dessa fonte energtica de grande inte-
resse, uma vez que, alm de renovvel, possui baixo impacto ambien-
tal e vem demonstrando j ter alcanado a fase de competitividade
em relao s fontes tradicionais.
Da mesma forma, constatamos que no consta da ltima verso do ba-
lano energtico dados acerca do potencial solar disponvel em nosso
pas. Segundo o Atlas Brasileiro de Energia Solar, publicado pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a energia solar mdia incidente
no territrio brasileiro bastante superior aos ndices encontrados na
Europa, continente que detm a liderana global na produo de ener-
gia fotovoltaica.
Cremos que o atual estgio de desenvolvimento da tecnologia solar fo-
tovoltaica no mundo a coloca em condio de, brevemente, ascender
posio em que hoje se encontra energia elica. Se devidamente esti-
mulada, ser capaz de inserir-se plenamente em nossa matriz energ-
tica, trazendo, alm dos ganhos ambientais, vantagens econmico-so-
ciais, pela possibilidade de implantao de toda uma cadeia produtiva
relacionada produo de equipamentos para a converso da energia
solar em eletricidade.
A energia fotovoltaica a que mais cresce no mundo hoje. Sua via-
bilidade, na forma de gerao descentralizada, foi reconhecida pelo
presidente da Empresa de Pesquisa Energtica em seminrio interna-
cional realizado, em setembro de 2011, na Cmara dos Deputados. A
Agncia Nacional de Energia Eltrica, por sua vez, manifestou-se no
256
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
mesmo sentido em nota tcnica datada de junho de 2011. Alm disso,
a agncia reguladora aprovou, em 17/04/2012, a Resoluo Normati-
va n 482/2012, que institui sistema de compensao de energia. Esse
sistema permitir o incio do desenvolvimento dessa fonte no Brasil
ao permitir que os consumidores que instalarem sistemas fotovoltaicos
possam abater, do montante de energia que consumirem, a quantidade
de energia que injetarem na rede eltrica.
Alm da energia solar fotovoltaica, outras fontes podem realizar a gera-
o de energia eltrica renovvel na forma de gerao distribuda, como
pequenos aproveitamentos hidroeltricos, turbinas elicas de pequena
dimenso e a queima de biomassa originada de resduos agrcolas, flo-
restais e urbanos. Conforme destacado no PNE 2030, essa modalidade
de gerao eleva a segurana energtica e promove o desenvolvimento
sustentvel, pois permite a reduo dos custos e perdas no transporte
de energia eltrica; o aproveitamento de vocaes regionais com ga-
nhos ambientais; a utilizao de resduos de processos produtivos, que
seriam de outra forma desperdiados; o atendimento a reas remotas; o
desenvolvimento tecnolgico; e o surgimento de oportunidades para o
crescimento da indstria nacional. Ganhos equivalentes podero tam-
bm ser obtidos pela expanso do uso da energia solar para aquecimen-
to de gua, que substitui, com vantagens, o chuveiro eltrico, respons-
vel por sobrecarregar o sistema interligado nacional no horrio de pico
de consumo, no incio da noite.
Observamos, contudo, que, apesar dos benefcios citados, essas fontes
tambm no foram includas, nos documentos de planejamento do
setor, entre aquelas que compem a oferta que suprir o mercado fu-
turo de energia eltrica.
Diante dessas consideraes, sugerimos a esse eminente Ministrio
de Minas e Energia que promova diligncias no sentido de incluir os
recursos elicos e solares disponveis no Brasil nas prximas edies
do Balano Energtico Nacional.
Solicitamos ainda que, nos prximos documentos de planejamento
energtico a serem publicados pelo Ministrio de Minas e Energia,
as contribuies que podem ser providas pela gerao distribuda de
257
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
pequena escala, includas as fontes solar fotovoltaica e trmica, sejam
contabilizadas para o suprimento da demanda do pas.
Por fim, rogamos a sua excelncia a criao de uma secretaria de fon-
tes renovveis na estrutura organizacional do ministrio, como so-
luo que facilitar a adoo das medidas necessrias para atingir o
objetivo de dotar o pas de uma matriz energtica com a participao,
crescente e diversificada, das fontes renovveis de energia, em sin-
tonia com as preocupaes, compartilhadas, mundialmente, quanto
s urgentes providncias requeridas para que sejam minimizados os
efeitos, cada vez mais evidentes e dramticos, das mudanas do siste-
ma climtico terrestre.
Certos de contarmos com a notvel sensibilidade de sua excelncia
no trato das questes de relevante interesse pblico, encaminhamos
a presente indicao.
Sala das Sesses, em de de 2012.
Deputado PEDRO UCZAI (PT-SC)
Relator do tema no Conselho de Altos Estudos e
Avaliao Tecnolgica
Deputado INOCNCIO OLIVEIRA (PR-PE)
Presidente do Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica
258
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
PROJETO DE LEI N 3.924, DE 2012
(Dos Srs. Pedro Uczai, Inocncio Oliveira, Ariosto Holanda, Arnaldo
Jardim, Bonifcio de Andrada, Flix Mendona Jnior, Jaime Mar-
tins, Jorge Tadeu Mudalen, Mauro Benevides, Newton Lima, Teresa
Surita e Waldir Maranho)
Estabelece incentivos produo de
energia a partir de fontes renovveis,
altera as Leis n 9.249, de 26 de de-
zembro de 1995; n 9.250, de 26 de
dezembro de 1995; n 9.427, de 26 de
dezembro de 1996; n 9.648, de 27 de
maio de 1998; n 9.991, de 24 de julho
de 2000; n 10.848, de 15 de maro de
2004; n 11.977, de 7 de julho de 2009, e
d outras providncias.
O Congresso Nacional decreta:
Seo I
Disposies Preliminares
Art. 1 Esta lei estabelece incentivos produo de energia a partir de
fontes renovveis; altera as Leis n 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
n 9.648, de 27 de maio de 1998; n 9.991, de 24 de julho de 2000;
n 10.848, de 15 de maro de 2004; e d outras providncias.
Art. 2 Para os fins desta Lei e de sua regulamentao ficam estabele-
cidas as seguintes definies:
I Fontes Alternativas Renovveis de Energia: as fontes de energia
elica, solar, geotrmica, de pequenos aproveitamentos de potenciais
hidrulicos, da biomassa, dos oceanos e as pequenas unidades de pro-
duo de biocombustveis;
II Distribuidoras: as concessionrias e permissionrias do servio
pblico de distribuio de energia eltrica;
III Microgerao Distribuda: gerao distribuda, realizada por cen-
tral geradora de energia eltrica com potncia instalada menor ou igual
a 100 quilowatts (kW), a partir de fonte alternativa renovvel de energia;
IV Minigerao Distribuda: gerao distribuda, realizada por cen-
tral geradora de energia eltrica com potncia instalada superior a
259
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
100 kW e menor ou igual a 1.000 kW, a partir de fonte alternativa
renovvel de energia;
V Pequenas Centrais de Energia Renovvel: instalaes para a pro-
duo de energia eltrica ou calor a partir de fontes renovveis de ener-
gia que possuam capacidade instalada de at 1.000 quilowatts (kW),
eltricos ou trmicos;
VI Pequenas Unidades de Produo de Biocombustveis: aquelas
com capacidade de produo de at 10.000 litros por dia, para o caso
de biocombustveis em estado lquido, ou at 10.000 metros cbicos
por dia, no caso daqueles em estado gasoso;
VII Biogs: gs produzido pela digesto anaerbica da biomassa.
Seo II
Da Gerao de Energia Eltrica em Pequena Escala
Art. 3 O consumo de energia eltrica das unidades consumidoras
que realizem micro ou minigerao distribuda, a ser faturado pelas
distribuidoras, corresponder diferena entre a energia consumida
da rede eltrica e a nela injetada.
1 A partir da data de conexo rede da central de micro ou minige-
rao distribuda, caso o montante de energia injetado seja maior que
o consumido, essa energia excedente ser adquirida pelas distribui-
doras e valorada a uma tarifa que, para cada instalao, permanecer
fixa por um perodo de vinte anos.
2 As tarifas mencionadas no 1 a serem aplicadas s instalaes
conectadas no primeiro ano aps a data de publicao desta lei, dife-
renciadas por fonte de energia, correspondero a:
I na modalidade de microgerao distribuda:
a) R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) por megawatt-hora
para hidreltricas;
b) R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) por megawatt-ho-
ra para energia obtida da biomassa proveniente de cultivos
energticos ou resduos de atividades agrcolas, florestais ou
industriais;
c) R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por megawatt-hora
para energia obtida do biogs;
260
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
d) R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) por megawatt-hora
para a energia elica;
e) R$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) por megawatt-hora
para a energia solar produzida em instalaes fixadas sobre a
cobertura ou fachada de edificaes cuja finalidade principal
no seja a gerao de energia eltrica a partir da fonte solar;
f) R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por megawatt-hora
para a energia solar produzida em instalaes montadas so-
bre o solo;
g) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) por megawatt-hora
para a energia ocenica.
II na modalidade de minigerao distribuda:
a) R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) por megawatt-hora
para hidreltricas;
b) R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) por megawatt-ho-
ra para energia obtida da biomassa proveniente de cultivos
energticos ou resduos de atividades agrcolas, florestais ou
industriais;
c) R$ 173,00 (cento e setenta e trs reais) por megawatt-hora
para energia obtida do biogs;
d) R$ 168,00 (cento e sessenta e oito reais) por megawatt-hora
para a energia elica;
e) R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) por megawatt-hora para
a energia solar produzida em instalaes fixadas na cober-
tura ou fachada de edificaes construdas cuja finalidade
principal no seja a gerao de energia eltrica a partir da
fonte solar;
f) R$ 310,00 (trezentos e dez reais) por megawatt-hora para a
energia solar produzida em instalaes montadas sobre o
solo;
g) R$ 210,00 (duzentos e dez reais) por megawatt-hora para a
energia ocenica.
3 As tarifas a que se refere o 2 sero reduzidas anualmente,
para novas conexes, nos seguintes percentuais, de acordo com a
fonte de energia:
261
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
I 1% (um por cento) para a energia hidreltrica e a derivada da bio-
massa e biogs;
II 1,5% (um inteiro e cinco dcimos por cento) para a energia elica
e ocenica;
III 5% (cinco por cento) para a energia solar.
4 O percentual de decrscimo anual referente ao valor a ser pago
pela micro e minigerao distribuda, para o caso da energia solar,
poder ser aumentado, caso a capacidade instalada no pas, no exerc-
cio anterior, supere a meta anual definida para a fonte em regulamen-
to, que no poder ser inferior a 1000 (mil) megawatts (MW).
5 O valor da energia excedente, apurado conforme disposto nos
1, 2, 3 e 4, ser creditado na fatura de energia eltrica seguinte.
6 Quando o valor da fatura seguinte no for suficiente para que
o consumidor recupere todo o crdito a que tem direito, os valores
remanescentes sero abatidos, sucessivamente, nas prximas faturas,
at o perodo de seis meses, a partir do qual o consumidor poder
optar por receber o montante acumulado em moeda corrente.
7 Para o caso da microgerao distribuda, o custo da instalao de
equipamentos de medio para permitir a aplicao das disposies
de que trata este artigo ser de responsabilidade das distribuidoras.
8 Para o caso da gerao de energia eltrica por microgerao dis-
tribuda, devero ser padronizados, para todo o territrio nacional,
os sistemas de medio e conexo, a forma de registro dos empreen-
dimentos, bem como o modelo dos contratos de conexo e de uso dos
sistemas de distribuio e de transmisso.
9 A conexo das unidades de microgerao distribuda ao sistema
de distribuio, no mesmo ponto de entrega de energia ao consumidor,
dever ser realizada no prazo mximo de noventa dias, aps solicitao
de seus proprietrios, que sero responsveis pelos custos de conexo.
10. Os custos associados aos reforos na rede de distribuio even-
tualmente necessrios para o recebimento da energia de que trata este
artigo sero de responsabilidade das distribuidoras e sero considera-
dos no clculo das respectivas tarifas de distribuio.
11. Os proprietrios das centrais de micro e minigerao distribu-
da podero se apropriar integralmente dos benefcios financeiros
decorrentes da comercializao de redues certificadas de emisses
262
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
de gases de efeito estufa decorrentes da aplicao das disposies
deste artigo.
12. As centrais de micro e minigerao distribuda estaro isentas
do pagamento de tarifas de uso dos sistemas de transmisso e distri-
buio de energia eltrica.
13. Quando micro ou minigerao distribuda for conectada direta-
mente rede de distribuio, com o propsito de fornecer energia ao
sistema eltrico, a energia injetada ser obrigatoriamente adquirida
pelas distribuidoras e ser remunerada de acordo com o disposto nos
2, 3 e 4.
14. No se aplica o disposto no 13 fonte solar, cujas instalaes
de micro e minigerao distribuda no podero apresentar exceden-
te mensal superior a 50% da mdia mensal de consumo dos ltimos
doze meses da unidade consumidora a que estiverem vinculadas.
Art. 4 O art. 2 da Lei n 10.848, de 15 de maro de 2004, passa a
vigorar com a seguinte redao:
Art. 2 ....................................................................................................
..................................................................................................................
8 ...........................................................................................................
..................................................................................................................
II proveniente de:
..................................................................................................................
e) micro ou minigerao distribuda, constitudas de centrais
de gerao de energia eltrica de capacidade instalada at
100 quilowatts (kW) e 1000 kW, respectivamente, que utilizem,
exclusivamente, fontes renovveis de energia.
....................................................................................................... (NR)
Art. 5. O inciso I do 4 do art. 11 da Lei n 9.648, de 27 de
maio de 1998, passa a vigorar com a seguinte redao:
Art. 11. ...................................................................................................
..................................................................................................................
4 ...........................................................................................................
I aproveitamento hidreltrico de que trata o inciso I do art. 26
da Lei n 9.427, de 26 de dezembro de 1996, aproveitamento hi-
dreltrico com potncia igual ou inferior a 1.000 kW, ou a gera-
o de energia eltrica a partir de fontes elica, solar, biomassa e
263
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
gs natural, que venha a ser implantado em sistema eltrico iso-
lado e substitua a gerao termeltrica que utilize derivado de
petrleo ou desloque sua operao para atender ao incremento
do mercado;
....................................................................................................... (NR)
Seo III
Da Elevao da Capacidade Energtica das Hidreltricas
Art. 6 O art. 26 da Lei n 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redao:
Art. 26. ..................................................................................................
..................................................................................................................
7 As autorizaes e concesses que venham a ter acrscimo
de capacidade na forma do inciso V deste artigo sero prorro-
gadas por prazo suficiente amortizao dos investimentos,
limitado a 20 (vinte) anos.
..................................................................................................................
10. Aplicam-se os benefcios previstos nos 1 e 5 deste ar-
tigo s pequenas centrais hidreltricas que venham a ter acrs-
cimo de capacidade na forma do inciso V deste artigo, indepen-
dentemente da destinao da energia produzida. (NR)
Seo IV
Dos Certificados Comercializveis de
Energia Alternativa Renovvel
Art. 7 Ficam institudos os Certificados Comercializveis de Ener-
gia Renovvel.
Art. 8 O Certificado Comercializvel de Energia Renovvel, depois
de registrado junto Cmara de Comercializao de Energia Eltri-
ca CCEE, constitui a obrigao do agente de gerao vendedor de
fornecer aos agentes atuantes no Ambiente de Contratao Livre, no
decorrer do perodo estabelecido, o montante de energia eltrica es-
pecificado no documento.
Pargrafo nico. Os Certificados Comercializveis de Energia Reno-
vvel sero comercializveis desde a sua emisso at o final do pe-
rodo de fornecimento, respeitados, nesse ltimo caso, os saldos de
energia remanescentes.
264
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Art. 9 O montante de energia eltrica especificado no Certificado
Comercializvel de Energia Renovvel dever representar parcela da
efetiva capacidade de empreendimento de produo de energia eltri-
ca a partir de fontes renovveis.
Art. 10. Os Certificados Comercializveis de Energia Renovvel re-
gistrados na CCEE podero ser utilizados para comprovar a contra-
tao de energia necessria para atendimento carga dos consumido-
res livres de que tratam os arts. 15 e 16 da Lei n 9.074, de 7 de julho
de 1995.
Seo V
Da Energia Solar
Art. 11. As instituies financeiras e os agentes financeiros do Sis-
tema Financeiro da Habitao devero incluir o custo de sistema de
aquecimento solar de gua e de sistema de gerao de energia foto-
voltaica nos financiamentos imobilirios que utilizarem recursos do
Sistema Brasileiro de Poupana e Emprstimo SBPE, Fundo de Ga-
rantia do Tempo de Servio FGTS, Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor FAT e Oramento Geral da Unio OGU, se assim solicitado
pelo proponente do financiamento.
Art. 12. Recursos da Reserva Global de Reverso, de que trata o 2
do artigo 13 da Lei n 9.427, de 26 de dezembro de 1996, podero
ser utilizados para financiar a aquisio de sistemas de aquecimento
solar de gua e de sistema de gerao de energia fotovoltaica a serem
instalados nas edificaes residenciais brasileiras.
1 Os recursos de que trata o caput sero repassados aos consumi-
dores residenciais pelas concessionrias, permissionrias e autoriza-
das do servio pblico de distribuio de energia eltrica.
2 Os financiamentos dos consumidores residenciais de energia
eltrica que adquirirem sistemas de aquecimento solar ou sistema de
gerao de energia fotovoltaica na forma do disposto neste artigo se-
ro pagos por meio de parcelas mensais cobradas por intermdio das
faturas de energia eltrica.
3 A taxa de juros anual mxima para a concesso dos financiamen-
tos previstos neste artigo ser a Taxa de Juros de Longo Prazo TJLP.
265
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4 Alm da taxa de juros prevista no 3, podero ser cobrados
dos consumidores financiados os custos administrativos incorridos
pelos agentes de distribuio de energia eltrica para concesso dos
financiamentos.
Art. 13. O art. 82 da Lei n 11.977, de 7 de julho de 2009, passa a vigo-
rar com a seguinte redao:
Art. 82. Os recursos do PMCMV somente podero ser utiliza-
dos para o financiamento da construo ou aquisio de im-
veis residenciais novos que possuam sistema termossolar de
aquecimento de gua.
1 Fica autorizado o custeio, no mbito do PMCMV, da aqui-
sio e instalao de equipamentos para produo de energia
fotovoltaica ou que contribuam para a reduo do consumo de
gua em moradias.
2 No caso de empreendimentos com recursos do FAR, pode-
ro ser financiados tambm equipamentos de educao, sade
e outros equipamentos sociais complementares habitao, nos
termos do regulamento.
3 O disposto no caput no se aplica para o caso dos projetos
em que o interessado demonstrar a inviabilidade tcnica de ins-
talao de sistema termossolar de aquecimento de gua. (NR)
Seo VI
Das Pesquisas em Fontes Alternativas Renovveis de Energia
Art. 14. O art. 4 da Lei n 9.991, de 24 de julho de 2000, passa a vigo-
rar com a seguinte redao:
Art. 4 ....................................................................................................
I 25% (vinte e cinco por cento) para o Fundo Nacional de De-
senvolvimento Cientfico e Tecnolgico FNDCT, criado pelo
Decreto-Lei n 719, de 31 de julho de 1969, e restabelecido pela
Lei n 8.172, de 18 de janeiro de 1991;
II 25% (vinte e cinco por cento) para projetos de pesquisa e
desenvolvimento, segundo regulamentos estabelecidos pela
Agncia Nacional de Energia Eltrica ANEEL;
III 20% (vinte por cento) para o MME, a fim de custear os
estudos e pesquisas de planejamento da expanso do sistema
266
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
energtico, bem como os de inventrio e de viabilidade neces-
srios ao aproveitamento dos potenciais hidreltricos e estudos
para levantamento dos potenciais hidreltricos, elicos, so-
lares e da biomassa compatveis com a micro e a minigerao
distribudas;
IV 30% (trinta por cento) para o Fundo para Pesquisas em
Fontes Alternativas Renovveis de Energia Eltrica e Solar.
....................................................................................................... (NR)
Art. 15. Fica institudo o Fundo para Pesquisas em Fontes Alternati-
vas Renovveis de Energia Eltrica e Solar, constitudo pelos seguin-
tes recursos:
I recursos a ele destinados por intermdio do inciso IV do art. 4 da
Lei n 9.991, de 24 de julho de 2000;
II recursos oramentrios a ele especificamente destinados;
III rendimentos de operaes financeiras que realizar;
IV recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convnios
celebrados com rgos e entidades da administrao pblica federal,
estadual, distrital ou municipal;
V doaes realizadas por entidades nacionais e internacionais, p-
blicas ou privadas;
VI emprstimos de instituies financeiras nacionais e internacionais;
VII reverso dos saldos anuais no aplicados.
Pargrafo nico. O Fundo para Pesquisas em Fontes Alternativas Re-
novveis de Energia Eltrica e Solar ter o objetivo de financiar as
atividades de pesquisa cientfica, capacitao profissional e desen-
volvimento tecnolgico realizadas em centro nacional de pesquisas
em fontes alternativas renovveis para produo de energia eltrica e
solar trmica.
Seo VII
Da Produo de Biocombustveis em Pequena Escala
Art. 16. As pequenas unidades de produo de biocombustveis po-
dero vender seus produtos diretamente para os postos revendedores
de combustveis ou para os consumidores finais, por intermdio de
postos revendedores prprios, registrados na Agncia Nacional do
Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis ANP.
267
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
Art. 17. As cooperativas de pequenos produtores rurais, assim defi-
nidos no mbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agri-
cultura Familiar, podero vender os biocombustveis por elas produ-
zidos diretamente para os postos revendedores de combustveis ou
para os consumidores finais, por intermdio de postos revendedores
prprios, registrados na ANP.
Art. 18. Cooperativa de produtores rurais poder ser autorizada a
transportar, por meio de gasoduto, os biocombustveis gasosos pro-
duzidos pelos associados, de maneira a possibilitar que sejam con-
sumidos, transformados, armazenados ou comercializados de forma
centralizada pela cooperativa.
Pargrafo nico. A autorizao para o transporte de biogs na forma
do caput ser concedida pela entidade federal competente para regu-
lar as atividades de transporte de biocombustveis.
Seo VIII
Do Crdito Produo de Energia em Pequena Escala
Art. 19. Fica institudo o Programa Nacional de Crdito aos Pequenos
Produtores de Energia Renovvel PPER, com o objetivo de prover
recursos para financiar a implantao de pequenas centrais de energia
renovvel e de pequenas unidades de produo de biocombustveis.
1 So beneficirias do PPER as pessoas fsicas e jurdicas que pos-
suam projetos para implantao de pequenas centrais de energia re-
novvel e de pequenas unidades de produo de biocombustveis.
2 So recursos destinados ao PPER os provenientes:
I do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT;
II do Fundo Nacional sobre Mudana do Clima, criado pela Lei
n 12.114, de 9 de dezembro de 2009;
III do oramento geral da Unio.
Art. 20. Fica institudo o Fundo de Garantia aos Pequenos Produ-
tores de Energia Renovvel FGER, que ter por finalidade prestar
garantias aos financiamentos concedidos por instituio financeira
para a implantao de pequenas centrais de energia renovvel e de
pequenas unidades de produo de biocombustveis.
Pargrafo nico. O FGER contar com recursos:
268
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
I da Reserva Global de Reverso RGR, de que trata o 2 do artigo
13 da Lei n 9.427, de 26 de dezembro de 1996;
II recursos oramentrios a ele especificamente destinados;
III rendimentos de operaes financeiras que realizar;
IV doaes realizadas por entidades nacionais e internacionais, p-
blicas ou privadas;
V emprstimos de instituies financeiras nacionais e internacionais;
VI reverso dos saldos anuais no aplicados.
Seo IX
Dos Incentivos Tributrios
Art. 21. Os veculos automveis eltricos e eltricos hbridos, bem
como aqueles movidos a hidrognio ou ar comprimido, ficam isentos
do Imposto sobre Produtos Industrializados, inclusive quanto a par-
tes, peas, acessrios e insumos utilizados em sua fabricao ou que
os integrem.
Art. 22. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos de fun-
dos de investimentos em ttulos e valores mobilirios emitidos por
empresas geradoras de energia a partir de fontes alternativas renov-
veis, bem como de empresas industriais produtoras de equipamentos,
partes, peas e acessrios que sejam destinados produo de energia
proveniente de fontes alternativas renovveis, ter alquota cinco pon-
tos percentuais inferiores alquota aplicvel taxao dos demais
fundos de investimentos classificados como de renda varivel.
Art. 23. O art. 13 da Lei n 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redao:
Art. 13 ...................................................................................................
..................................................................................................................
3 Podero ser deduzidos, at o limite de 8% (oito por cento),
por perodo de apurao, do lucro operacional da pessoa jurdi-
ca, os gastos com a aquisio de bens e prestao de servios a
serem utilizados ou incorporados na construo ou montagem
de instalaes destinadas ao aproveitamento, pelo adquirente
dos bens ou tomador dos servios, de energia solar ou elica ou
de outras fontes alternativas renovveis utilizadas na gerao de
energia eltrica.
269
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
4 O saldo remanescente da deduo prevista no 3 deste arti-
go, no aproveitado devido ao limite de que trata o referido par-
grafo, poder ser deduzido nos perodos de apurao seguintes.
5 O disposto nos 3 e 4 no exclui outras dedues previs-
tas na legislao tributria. (NR)
Art. 24. O art. 8 da Lei n 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte redao:
Art. 8 ....................................................................................................
..................................................................................................................
II ...........................................................................................................
..................................................................................................................
h) a gastos com a aquisio de bens e com a prestao de ser-
vios a serem utilizados ou incorporados na construo ou
montagem de instalaes destinadas ao aproveitamento, pelo
adquirente dos bens ou tomador dos servios, de energia solar
ou elica ou de outras fontes alternativas renovveis utilizadas
na gerao de energia eltrica;
..................................................................................................................
4 A deduo prevista na alnea h do inciso II do caput deste
artigo fica limitada a 8% (oito por cento), por ano-calendrio,
da soma dos rendimentos de que trata o inciso I do caput deste
artigo. (NR)
Art. 25. Esta lei entra em vigor na data de sua publicao.
JUSTIFICAO
As energias renovveis so de grande importncia para o Brasil.
Explor-las implica na diversificao de nossa matriz energtica de
forma limpa, com a reduo de emisses de poluentes, includos os
causadores de efeito estufa, e o aumento da segurana energtica.
O Brasil tem obtido grande xito na utilizao das fontes renovveis
em grande escala, como atestam o sucesso dos recentes leiles de
energia eltrica na contratao das fontes elica e hidreltrica, assim
como importante participao do etanol e do biodiesel no mercado
de combustveis lquidos.
270
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Como resultado, o Brasil apresenta uma participao de renovveis de
45,5% em sua oferta de energia, enquanto a mdia mundial de 13,3%.
Todavia, observa-se que a legislao brasileira possui uma importan-
te lacuna no campo das fontes renovveis. As normas em vigor no
permitem a produo de energia em instalaes de pequena escala,
como painis fotovoltaicos montados sobre telhados de residncias.
Para gerao de energia nessa ordem de grandeza e sua injeo na
rede de distribuio de energia eltrica so exigidos os mesmos equi-
pamentos requeridos para o caso das grandes usinas. A comerciali-
zao da energia, por sua vez, requer os mesmos procedimentos bu-
rocrticos que as grandes plantas de gerao. Alm disso, os preos
pagos aos pequenos produtores de energia so incompatveis com os
custos incorridos e com os benefcios que trazem ao setor energtico
e sociedade como um todo.
Em razo desse ambiente hostil, observa-se que o Brasil est em posi-
o de grande desvantagem quando se analisa o panorama da produ-
o de energia em pequena escala no mundo. Essa situao nos impe
custos econmicos, ambientais e sociais e precisa ser revertida.
O propsito desse projeto de lei contribuir para o desenvolvimen-
to das fontes alternativas renovveis de energia, que foram definidas
como energia elica, solar, geotrmica, de pequenos aproveitamentos
de potenciais hidrulicos, da biomassa, dos oceanos e as pequenas
unidades de produo de biocombustveis.
A elaborao desta proposio foi subsidiada por amplo estudo reali-
zado no mbito do Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnol-
gica e teve tambm como referncia, entre outras propostas, o subs-
titutivo final aprovado pela comisso especial destinada a apreciar o
Projeto de Lei n 630/2003 e demais projetos apensados.
No que se refere produo de energia eltrica em pequena escala,
propomos a criao de duas novas modalidades de gerao, a micro e a
minigerao distribuda. Por meio dessas duas modalidades, o consu-
midor de energia eltrica que tambm produzi-la poder abater a ener-
gia injetada na rede do seu consumo de eletricidade. Caso a gerao
seja superior ao consumo, sero gerados crditos a serem compensados
271
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
nos seis meses seguintes. Aps esse prazo, poder resgatar o saldo em
moeda corrente, de acordo com a fonte de energia utilizada.
Quando as instalaes de micro e minigerao distribuda possurem
o propsito nico de gerar energia eltrica, as distribuidoras tambm
devero adquirir a energia produzida e devero remuner-la por va-
lores que variam de acordo com a fonte de gerao.
As instalaes de microgerao distribuda so aquelas com capaci-
dade instalada de gerao de at 100 quilowatts (kW). Por sua vez,
considera-se minigerao distribuda a derivada de instalaes cuja
capacidade instalada seja superior a 100 kW e igual ou inferior a
1000 kW. Essas faixas de potncia so compatveis com as medidas
propostos pela Agncia Nacional de Energia Eltrica Aneel, por
meio da Audincia Pblica n 42/2011, instituda para ouvir a socie-
dade sobre a minuta de resoluo que visa a para reduzir as barreiras
para a instalao de micro e minigerao distribuda incentivada.
Com a criao dessas novas modalidades, dever surgir um novo
mercado no pas para equipamentos e servios de gerao de ener-
gia eltrica em pequena escala. Com isso, abre-se a possibilidade de
instalao de toda uma cadeia produtiva no setor, como a implanta-
o de unidades industriais de produo de painis fotovoltaicos, por
exemplo. Essa indstria apresentou grande expanso no mundo, mas
no alcanou o Brasil, em razo da deficincia de nossa legislao,
apesar de possuirmos as maiores reservas de silcio do planeta, prin-
cipal matria-prima para a produo dos mdulos solares.
Quanto energia solar fotovoltaica, convm ressaltar que, de acordo
com a Aneel, essa fonte j vivel no Brasil e pode contribuir para
melhorar as condies de nossa rede eltrica. Em nota tcnica, datada
de 20 de junho de 2011, que subsidiou a realizao de audincia p-
blica para receber contribuies para reduzir as barreiras gerao
distribuda de pequeno porte, a rea tcnica da agncia demonstrou
essa viabilidade.
Nesse documento da agncia reguladora, foi informado que nove dis-
tribuidoras possuem tarifas finais acima de R$ 600 por megawatt-
hora (MWh) e 22 praticam tarifas entre R$ 500 e R$ 600 por MWh,
abrangendo estados como Minas Gerais, Maranho, Tocantins,
272
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cear, Piau, parte do Rio de Janeiro, Mato Grosso e interior de So
Paulo. Assim, como o custo da gerao fotovoltaica estimado entre
R$ 500 e R$ 600 por MWh, essa fonte j pode ser vivel nas reas de
concesso dessas 31 distribuidoras.
preciso considerar tambm que a instalao de pequenas unidades
de gerao distribuda nas reas rurais poder contribuir decisiva-
mente para o desenvolvimento sustentvel no campo, promovendo
melhor distribuio de renda que o modelo centralizado de produo
de eletricidade hoje vigente. O efeito multiplicador dessa nova ati-
vidade no meio rural certamente contribuir para reduo das de-
sigualdades regionais, que um dos objetivos primordiais de nossa
Repblica, conforme assentado no artigo 3 da Constituio Federal.
Esta proposta tambm prev a adoo de incentivos para facilitar o
acrscimo da capacidade de gerao de energia das hidreltricas, uma
vez que a elevao da eficincia dos aproveitamentos a forma mais
barata e de menor impacto ambiental para aumento da produo de
energia renovvel no pas.
Propomos ainda a criao de certificados comercializveis de energia
alternativa renovvel, que tero a finalidade facilitar a negociao da
energia produzida por fontes limpas no ambiente de contratao livre
de energia eltrica.
Em relao energia solar, o projeto prev tambm a exigncia de
que as instituies financeiras passem a incorporar nos financiamen-
tos imobilirios a instalao de sistema de aquecimento solar de gua
e de sistema de gerao de energia fotovoltaica. Prev, ainda, a ins-
tituio de mecanismo em que os consumidores de energia eltrica
possam obter financiamento para instalao de sistemas de energia
solar, trmicos ou fotovoltaicos, por meio da distribuidora de energia
eltrica, sendo as parcelas correspondentes ao pagamento cobradas
por meio da fatura de energia eltrica. Propomos tambm que, no
mbito do Programa Minha Casa Minha Vida, seja obrigatria a uti-
lizao da energia termossolar, que reduz sobremaneira os dispn-
dios em energia eltrica das famlias de baixa renda. Nesse programa
governamental, propomos ainda que seja facultativa a utilizao de
sistema fotovoltaico.
273
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
O objetivo dessas medidas eliminar uma das principais barreiras para
a utilizao da energia solar, referente ao custo inicial de aquisio e
instalao dos equipamentos necessrios para seu aproveitamento.
Dessa maneira, sero beneficiados os consumidores finais, enquanto se
cria o mercado que permitir o desenvolvimento da indstria de ener-
gia solar, com grande gerao de emprego e renda.
Quanto disponibilizao de crdito para a produo de energia em
pequena escala, o projeto prev a instituio de programa que conta-
r, principalmente, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalha-
dor FAT, administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econmico e Social BNDES. Essa medida fundamental, pois
aqueles que desejam produzir energia a partir de fontes renovveis,
por meio de empreendimentos de menor porte, encontram grande
dificuldade na obteno de recursos financeiros, o que no ocorre
para o caso dos grandes empreendimentos energticos.
Ainda com relao a esse ponto do crdito, esta proposio tambm
ataca outra relevante barreira para esses pequenos empreendimen-
tos, que a obteno de garantia para aprovao dos financiamentos.
Propomos, assim, a criao de um fundo garantidor, com a finalidade
de prestar garantias aos financiamentos concedidos por instituio
financeira para a implantao de pequenas centrais de energia reno-
vvel e de pequenas unidades de produo de biocombustveis.
No que se refere pesquisa e desenvolvimento das fontes alternativas
renovveis, o projeto prope a criao do Fundo para Pesquisas em
Fontes Alternativas Renovveis de Energia Eltrica e Solar, constitu-
do, principalmente, de recursos provenientes das aplicaes obriga-
trias das empresas do setor eltrico em pesquisa e desenvolvimento.
O objetivo do fundo ser financiar as atividades de pesquisa cien-
tfica, capacitao profissional e desenvolvimento tecnolgico rea-
lizadas em um centro nacional de pesquisas em fontes alternativas
renovveis de energia eltrica e solar. A criao desse centro facilitar
a coordenao dos esforos das atividades de pesquisa no Brasil, pos-
sibilitando maiores avanos tcnicos e aumentando a efetividade da
aplicao dos recursos.
274
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Este projeto de lei prev tambm que os recursos provenientes das
empresas do setor eltrico para financiar estudos afetos aos poten-
ciais hidreltricos sejam tambm utilizados para levantamento dos
potenciais hidreltricos, elicos, solares e da biomassa compatveis
com a micro e a minigerao distribuda.
Esta proposio inclui tambm dispositivos que permitem que as pe-
quenas unidades de produo de biocombustveis e as cooperativas
de produtores rurais comercializem os biocombustveis produzidos
diretamente com os postos revendedores, ou com os consumidores fi-
nais. Dessa forma, procura-se alterar o modelo vigente que, especial-
mente para o caso do etanol, favorece os grandes empreendimentos
de produo, e impede uma maior participao dos pequenos e m-
dios agricultores. A medida sugerida ter o efeito de promover maior
incluso social e desenvolvimento regional, com melhor distribuio
de renda nas reas rurais.
Quanto aos biocombustveis gasosos, como, por exemplo, o biogs
produzido a partir da digesto anaerbica de dejetos de animais, o
projeto permite que cooperativa de produtores rurais utilizem ga-
soduto para transportar o produto at o local onde lhe ser dada
uma destinao conjunta. Na cooperativa o biocombustvel poder
ser queimado para a produo de energia eltrica ou calor. Poder
tambm ser tratado e utilizado para outros fins, como combustvel
automotivo ou insumo em indstria qumica. Com essa medida,
favorecida a produo de energia renovvel, com o benefcio adicional
de fornecer uma destinao a resduos que poderiam, de outra forma,
vir a poluir os recursos hdricos da regio onde so produzidos.
Por fim, foram includos na proposta incentivos tributrios que con-
templam os veculos eltricos e eltricos hbridos, bem como aqueles
movidos a hidrognio ou ar comprimido; os fundos de investimento
financeiro cujos recursos so aplicados em fontes alternativas reno-
vveis de energia; e dedues no imposto de renda de pessoas fsicas e
jurdicas dos recursos aplicados em energias alternativas renovveis.
As medidas propostas neste projeto tero como resultado aumento
significativo da produo de energia de forma descentralizada no
Brasil, o que trar, certamente, extraordinrios benefcios ambien-
275
P
R
O
P
O
S
I
E
S
L
E
G
I
S
L
A
T
I
V
A
S
Cadernos de Altos Estudos 10
Energias Renovveis:
Riqueza Sustentvel ao Alcance da Sociedade
tais, econmicos e sociais. Por esse motivo, solicitamos aos colegas
parlamentares decisivo apoio para sua rpida transformao em lei.
Sala das Sesses, em de de 2012.
Deputado PEDRO UCZAI (PT-SC)
Relator do tema no Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica
Deputado INOCNCIO OLIVEIRA (PR-PE)
Presidente do Conselho de Altos Estudos e Avaliao Tecnolgica
10
Cadernos de Altos Estudos 10
C
a
d
e
r
n
o
s
d
e
A
l
t
o
s
E
s
t
u
d
o
s
Conhea outros ttulos da srie Cadernos de Altos Estudos
na pgina do Conselho: www.camara.gov.br/caeat
ou na pgina da Edies Cmara, no portal da Cmara dos Deputados:
www2.camara.gov.br/documentos-e-pesquisa/publicacoes/edicoes
A Cmara Pensando o Brasil
Riqueza Sustentvel
ao Alcance da Sociedade
Energias Renovveis
E
n
e
r
g
i
a
s
R
e
n
o
v
v
e
i
s
:
R
i
q
u
e
z
a
S
u
s
t
e
n
t
v
e
l
a
o
A
l
c
a
n
c
e
d
a
S
o
c
i
e
d
a
d
e
capa_energias-renovaveis-riqueza-sust-alcance-sociedade_10.indd 1 25/06/2012 11:49:16
Você também pode gostar
- Apêndice D - Configurando o Powerflex em Uma DNETDocumento15 páginasApêndice D - Configurando o Powerflex em Uma DNETMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Estudo Mec - CamaraDocumento232 páginasEstudo Mec - CamaraGustavo FerreiraAinda não há avaliações
- Trabalho - Rev FinalDocumento56 páginasTrabalho - Rev FinalVinícius AffonsoAinda não há avaliações
- Plano Estratégico - STIDocumento36 páginasPlano Estratégico - STILiheldsonBarbosaAinda não há avaliações
- Tec AssistivaDocumento465 páginasTec AssistivaJulia HeradãoAinda não há avaliações
- Implantação de GEDDocumento80 páginasImplantação de GEDMauricio VicenteAinda não há avaliações
- PLS Finalizado - Outubro 2020Documento76 páginasPLS Finalizado - Outubro 2020Iohanna DouradoAinda não há avaliações
- 20191S WIEZELPedroHenriqueCerchiari OD0671Documento33 páginas20191S WIEZELPedroHenriqueCerchiari OD0671Eduardo Ronald DetmeringAinda não há avaliações
- Futuro Engenharias-CompactadoDocumento132 páginasFuturo Engenharias-CompactadoramonhsAinda não há avaliações
- Report Ai CiapjDocumento75 páginasReport Ai CiapjVanessa DouradoAinda não há avaliações
- Minerais Estrategicos e Terras-RarasDocumento237 páginasMinerais Estrategicos e Terras-RarasluizalencarAinda não há avaliações
- 2008 - GQM para Auxiliar Sistemas LegadosDocumento92 páginas2008 - GQM para Auxiliar Sistemas LegadosRobsonCarmoAinda não há avaliações
- Anexos TCCDocumento5 páginasAnexos TCCLeandro CarvalhoAinda não há avaliações
- Infraestrutura e Conectividade de RedesDocumento66 páginasInfraestrutura e Conectividade de RedesAntonio Augusto CavaliAinda não há avaliações
- Relatorio Tecnico ParcialDocumento69 páginasRelatorio Tecnico ParcialCarlos MendesAinda não há avaliações
- Universidade Tecnológica Federal Do Paraná Departamento Acadêmico de Engenharia Mecânica Engenharia MecânicaDocumento62 páginasUniversidade Tecnológica Federal Do Paraná Departamento Acadêmico de Engenharia Mecânica Engenharia MecânicaniltonferreiraribeiroAinda não há avaliações
- Roberto Queyroi PDFDocumento112 páginasRoberto Queyroi PDFJhonatan LeonAinda não há avaliações
- Plano Diretor - STIDocumento108 páginasPlano Diretor - STIGrazziano DuarteAinda não há avaliações
- Leitura DigitalDocumento52 páginasLeitura DigitalErick OliveiraAinda não há avaliações
- Conversor CC CADocumento133 páginasConversor CC CAArimatea JúniorAinda não há avaliações
- Dissertação Claudia Albernaz Pós Banca-1Documento102 páginasDissertação Claudia Albernaz Pós Banca-1momade murampuaAinda não há avaliações
- Leitura DigitalDocumento66 páginasLeitura DigitalVinicius PassosAinda não há avaliações
- IMPACTOS DOS SUBSÍDIOS CUSTEADOS PELA CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - Rutelly Marques Da SilvaDocumento71 páginasIMPACTOS DOS SUBSÍDIOS CUSTEADOS PELA CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO - Rutelly Marques Da SilvaEnrico Cesari CostaAinda não há avaliações
- Doutrina E Método Da Escola Superior De InteligênciaNo EverandDoutrina E Método Da Escola Superior De InteligênciaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Invertezas de Medição de Grandes ComprimentosDocumento64 páginasInvertezas de Medição de Grandes ComprimentosAurélio TorquatoAinda não há avaliações
- Relatorio RecuperacaodeempresasDocumento142 páginasRelatorio RecuperacaodeempresasMichel Lobo Toledo LimaAinda não há avaliações
- Colecao Odm Centro OesteDocumento337 páginasColecao Odm Centro OesteCarlos Marcelo Cardoso FernandesAinda não há avaliações
- Percepcao de Seguranca Com Eletricidade V5.0 1Documento45 páginasPercepcao de Seguranca Com Eletricidade V5.0 1Marelo do ValleAinda não há avaliações
- Ebook - Sustentabilidade e Respponsabilidade Social SRS - em - Foco - Vol13Documento287 páginasEbook - Sustentabilidade e Respponsabilidade Social SRS - em - Foco - Vol13masldeAinda não há avaliações
- REDES VIRTUAIS PRIVADAS - Pedro CelestinoDocumento90 páginasREDES VIRTUAIS PRIVADAS - Pedro CelestinoAndre Luis Oliveira FonsecaAinda não há avaliações
- Brazilian Space PolicyDocumento270 páginasBrazilian Space PolicyDavid LopezAinda não há avaliações
- Relatorio Ia 3a Edicao 0Documento92 páginasRelatorio Ia 3a Edicao 0Eduardo Castelo Branco E SilvaAinda não há avaliações
- Metodologia para Especificação de Telecom para Subestação PDFDocumento184 páginasMetodologia para Especificação de Telecom para Subestação PDFRogério FerreiraAinda não há avaliações
- Tese Teoria IRDocumento161 páginasTese Teoria IRDaniel MódenaAinda não há avaliações
- Dnocs Relatorio Anual 2006Documento122 páginasDnocs Relatorio Anual 2006pedro.martins33772Ainda não há avaliações
- Biodiesel PDF Consolidado PDFDocumento186 páginasBiodiesel PDF Consolidado PDFChris DaveAinda não há avaliações
- Politica Espacial Brasileira PDFDocumento477 páginasPolitica Espacial Brasileira PDFJucinete RodriguesAinda não há avaliações
- Comandos Elétricos 1Documento83 páginasComandos Elétricos 1Letícia Oliveira de Souza100% (1)
- Manual Compilacao Legislacao 2edDocumento109 páginasManual Compilacao Legislacao 2edCristiano CBAinda não há avaliações
- Manual Sus Digital v18042024 - Tarde 1Documento38 páginasManual Sus Digital v18042024 - Tarde 1rebeca rodriguesAinda não há avaliações
- Leitura DigitalDocumento50 páginasLeitura DigitalMárcio SantosAinda não há avaliações
- Caderno - LICENCIAMENTO CAU 0503Documento140 páginasCaderno - LICENCIAMENTO CAU 0503Wanderlei Da Silva JuniorAinda não há avaliações
- Breda GeanDavis DDocumento208 páginasBreda GeanDavis Dluciano kanepaAinda não há avaliações
- Implementação de Clínica Odontológica Online AfrodenteDocumento63 páginasImplementação de Clínica Odontológica Online AfrodenteVandersonAbreuAinda não há avaliações
- ABREU Yolanda Energia Sociedade e Meio Ambiente PDFDocumento175 páginasABREU Yolanda Energia Sociedade e Meio Ambiente PDFeduardojanserAinda não há avaliações
- Topicos em Administracao Vol 23Documento244 páginasTopicos em Administracao Vol 23Daniel NascimentoAinda não há avaliações
- Medicamentos SUS Competencia Justiça FederalDocumento210 páginasMedicamentos SUS Competencia Justiça FederalMariana PerdigãoAinda não há avaliações
- Livro Re ExistirDocumento193 páginasLivro Re ExistirdolorescristinaAinda não há avaliações
- OpenAccess Vian 9786555500578 0Documento10 páginasOpenAccess Vian 9786555500578 0julianoflorczakAinda não há avaliações
- Curso - Agric Famil Sustent - Agua SoloDocumento82 páginasCurso - Agric Famil Sustent - Agua SoloSaulo de Oliveira LimaAinda não há avaliações
- Métodos Biométricos para Aplicações de Segurança ComputacionalDocumento45 páginasMétodos Biométricos para Aplicações de Segurança Computacionalrobsongp3Ainda não há avaliações
- Manual Sus Digital - Versao Preliminar 2Documento37 páginasManual Sus Digital - Versao Preliminar 2fernandaborges198Ainda não há avaliações
- Relatorio Ia 2faseDocumento266 páginasRelatorio Ia 2faseSara HarrisAinda não há avaliações
- UntitledDocumento153 páginasUntitledamelia borbaAinda não há avaliações
- Propota para Inserção Da Energia FotovoltaicaDocumento176 páginasPropota para Inserção Da Energia FotovoltaicaJosé Evaristo Silvério100% (1)
- Roteiro de Metricas de Software Do SISP - V2.2Documento87 páginasRoteiro de Metricas de Software Do SISP - V2.2kybenjaminAinda não há avaliações
- Comércio Eletrônico e Proteção Digital do Consumidor: O PL 3.514/2015 e os desafios na atualização do CDCNo EverandComércio Eletrônico e Proteção Digital do Consumidor: O PL 3.514/2015 e os desafios na atualização do CDCAinda não há avaliações
- Universidade e Inovação: análise das funções e das contribuições das universidades da Região do Grande ABC na geração de inovaçõesNo EverandUniversidade e Inovação: análise das funções e das contribuições das universidades da Região do Grande ABC na geração de inovaçõesAinda não há avaliações
- Coletânea Interdisciplinar em Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - vol. 3: Engenharias, Saúde e GestãoNo EverandColetânea Interdisciplinar em Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - vol. 3: Engenharias, Saúde e GestãoAinda não há avaliações
- P01-Empresa Conectada RockweelDocumento28 páginasP01-Empresa Conectada RockweelMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Fatura de Energia Grupo A FinalDocumento44 páginasFatura de Energia Grupo A FinalMarcelo C. Oliveira100% (1)
- Manual de Utilizacao xp3xx (Controlador Compacto Com e S)Documento252 páginasManual de Utilizacao xp3xx (Controlador Compacto Com e S)Marcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Energes - Treinamento Grupo ADocumento57 páginasEnerges - Treinamento Grupo AMarcelo C. Oliveira100% (2)
- Teleproteção ABBDocumento22 páginasTeleproteção ABBMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- 1663605008261guia de Dimensionamento MT 2 2022Documento70 páginas1663605008261guia de Dimensionamento MT 2 2022Marcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Norma IEC 61131-3 para Programação de ControladoresDocumento153 páginasNorma IEC 61131-3 para Programação de ControladoresMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Redes - Levantamento Sobre Interface CAN Na Industria AutomobilísticaDocumento12 páginasRedes - Levantamento Sobre Interface CAN Na Industria AutomobilísticaMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Conceitos Instalação Murr PDFDocumento28 páginasConceitos Instalação Murr PDFMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Fluxograma Usina de AlcoolDocumento1 páginaFluxograma Usina de AlcoolMarcelo C. Oliveira100% (2)
- Calibração Da Maquina de Raio XDocumento10 páginasCalibração Da Maquina de Raio XMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- BoletoDocumento1 páginaBoletoMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- TCC Calculo Da Malha de Aterramento Da Subestacao de Uma Usina Termoeletrica PDFDocumento44 páginasTCC Calculo Da Malha de Aterramento Da Subestacao de Uma Usina Termoeletrica PDFMarcelo C. Oliveira100% (1)
- SFC DosadoraDocumento6 páginasSFC DosadoraMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Travessia Segura de Dados - CPWEDocumento6 páginasTravessia Segura de Dados - CPWEMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Perfil Do Novo Profissional de Proteção e Automação...Documento6 páginasPerfil Do Novo Profissional de Proteção e Automação...Marcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- P12 - Gestao de Ativos e ModernizacaoDocumento43 páginasP12 - Gestao de Ativos e ModernizacaoMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Configurando o PF40 Na Rede DeviceNetDocumento40 páginasConfigurando o PF40 Na Rede DeviceNetMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações
- Flex PackDocumento52 páginasFlex PackMarcelo C. OliveiraAinda não há avaliações