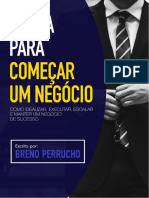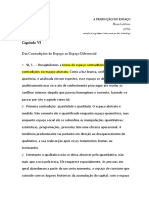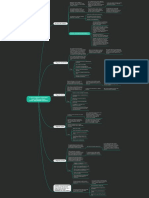Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
279 1025 1 PB
279 1025 1 PB
Enviado por
Urlan Salgado de BarrosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
279 1025 1 PB
279 1025 1 PB
Enviado por
Urlan Salgado de BarrosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Linguagem & Ensino, Vol. 3, No.
2, 2000 (109-133)
Da redao escolar ao discurso
um caminho a (re)construir
Rute Izabel Simes Conceio
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
ABSTRACT: This study investigated the results of a methodological
proposal based on the rewriting of texts produced by beginning univer-
sity students. An exploratory study of the first compositions written by
these students at the beginning of the semester showed that they could
not be characterized as dialogue, in the sense proposed by Bakhtin
(1995) and had all the characteristics of school discourse. After the
rewriting sessions, the results showed that the compositions started
differing from the school model. Our conclusion is that the teaching of
textual production centered on the discursive performance of the stu-
dent, rather than on formal and structural aspects of the text, can bring
considerable benefits to the writing of students.
RESUMO: Este estudo investigou os resultados de uma proposta did-
tica de reconstruo da discursividade na escrita manifesta em textos
produzidos e reformulados por alunos iniciantes num curso de terceiro
grau. Um estudo exploratrio nas primeiras redaes indicou que elas
no se caracterizavam como uma proposta de dilogo conforme postu-
la Bakhtin (1995). O corpus foi, ento, submetido a duas fases de an-
lise comparativa: na primeira verificou-se em que medida apresenta-
vam as caractersticas de redao escolar e na segunda fase foi verifi-
cado se houve a desconstruo das formalidades caractersticas da
redao escolar e se, em contrapartida, houve a reconstruo da dis-
cursividade conforme postulada em Guedes (1994), medida que os
textos foram sendo reescritos. Os resultados mostraram que um ensino
de produo textual mais centrado no desempenho discursivo do aluno
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
110
do que em aspectos formais e/ou estruturais do texto pode trazer consi-
derveis benefcios produo verbal escrita dos alunos.
KEYWORDS: textual production, rewriting, discourse
PALAVRAS-CHAVE: produo textual, reescrita, discursividade
INTRODUO
Neste artigo demonstraremos os resultados de uma pesquisa que
investigou o trabalho de reconstruo da discursividade na escrita em
textos de alunos de terceiro grau. Veremos qual o caminho percorrido
ao longo de um semestre na escrita e reescrita de textos de maneira que
redaes escolares passassem a se constituir numa proposta de dilogo
e no somente no cumprimento de tarefa escolar.
ASPECTOS TERICOS
A produo verbal escrita constitui-se numa das grandes preocu-
paes dos professores de Portugus. So inmeros os diagnsticos
detectando os mais variados problemas. Um desses, que salta aos olhos
ao lermos as redaes escolares, o que se refere baixa qualidade
discursiva dessas produes textuais, j que, em sua maioria, so pobres
de significados, repetitivas e repletas de esteretipos o que as torna
cansativas e chatas de serem lidas.
Segundo apontam diagnsticos elaborados por Pcora (1992),
por Costa Val (1993) e por Guedes (1994) que investigaram textos de
alunos com elevado grau de escolaridade (vestibulandos e/ou iniciantes
em cursos de 3 grau), essas redaes apresentaram problemas generali-
zados, especialmente no aspecto discursivo, manifesto atravs do ele-
vado ndice de reproduo de um discurso pautado no lugar-comum,
principalmente por no conceberem a produo textual como uma
proposta de dilogo assim como postula Bakhtin (1995). Corroborando
o que as pesquisas tm descoberto temos, tambm, empiricamente no
contato com as produes dos alunos no dia-a-dia, chegado s mesmas
constataes.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
111
Para Bakhtin (1995), toda enunciao um dilogo; ela faz parte
de um processo ininterrupto de comunicao. Isto quer dizer que no h
enunciado isolado, todo enunciado pressupe aqueles que o antecede-
ram e todos os que o sucedero. Dois enunciados distantes um do outro
no tempo e no espao, quando confrontados em relao ao sentido,
podem revelar uma relao dialgica, pois as relaes dialgicas so
relaes de sentido seja entre os enunciados de um dilogo especfico,
seja no mbito mais amplo do discurso, das idias criadas por vrios
autores ao longo do tempo e em diferentes espaos. Dilogo, portanto,
na acepo bakhtiniana, no significa apenas alternncia de vozes, mas
implica o encontro e a incorporao de vozes em um espao e um tem-
po scio-histrico.
O texto escrito tambm uma forma de dilogo na medida em
que se constitui em um elemento da comunicao verbal. Sobre o texto
escrito, Bakthin afirma: O livro, isto , o ato de fala impresso , constitui
um elemento da comunicao verbal. Ele objeto de discusses ativas
sob forma de dilogo e, alm disso, feito para ser apreendido de ma-
neira ativa, para ser estudado a fundo, comentado e criticado (Bakhtin,
1995, p.123). Essa afirmao nos ajuda a pensar nossa realidade mais
prxima, a sala de aula, em que o ato de fala impresso so, especial-
mente, as redaes dos alunos que tm sido objeto de investigao por
parte de vrios pesquisadores.
No diagnstico elaborado por Pcora (1992), a concluso a que o
autor chegou sobre as redaes analisadas (num corpus de 1500 reda-
es) foi que a maioria absoluta delas sustentava sua reflexo por uma
colagem mal ajambrada de frases feitas e acabadas, retiradas de fontes
no muito diversificadas. (Pcora, 1992, p. 14). Nesse estudo, o autor
desenvolve a noo de falsificao das condies de produo da lin-
guagem escrita, vendo a origem dessa falsificao na imagem de lngua
escrita veiculada pela escola.
Costa Val (1993) diagnosticou, a partir da anlise dos fatores de
textualidade de redaes de candidatos ao Curso de Letras da UFMG,
que embora as redaes fossem do tipo certinhas e arrumadinhas, ates-
tassem que o produtor dominava a lngua padro formal escrita e que
sabia organizar as idias conforme o modelo cannico de dissertao,
as redaes se tratavam, em sua maioria (90% do corpus analisado) de
maus textos, pobres, simplistas, inspidos, quase todos iguais, muitos
deles eivados de impropriedades (Costa Val, 1993, p.118).
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
112
Esse diagnstico, embora a autora no afirme explicitamente, a-
caba, indiretamente, por corroborar a hiptese levantada por Guedes
(1994), de que o ensino de produo textual via estrutura do texto pode
no ser a melhor opo para o ensino da produo de textos escritos na
escola.
Em sua tese de doutorado, particularmente no terceiro captulo,
onde se encontra o Manual de Redao, Guedes (1994) discute a ques-
to da destruio do discurso do aluno. Ao mesmo tempo em que deba-
te a questo, prope uma didtica especfica de reconstruo dessa
discursividade a partir da escrita
1
, e reescrita de textos com base em
quatro qualidades discursivas denominadas de unidade temtica, obje-
tividade, concretude e questionamento.
A DIDTICA DA (RE)CONSTRUO DA DISCURSIVIDADE NA
ESCRITA
Resumidamente, poderamos dizer que a proposta de
(re)construo da discursividade na escrita no mbito pedaggico, sig-
nifica, para Guedes (1994), encaminhar a desconstruo da atitude
diante da lngua escrita consolidada pela histria escolar desses alunos
visando a transformar suas redaes escolares em discursos, isto , em
instncias de uso da lngua escrita para produzir deliberados efeitos de
sentido sobre bem determinados leitores.
AS QUALIDADES DISCURSIVAS: UM CAMINHO VIVEL PARA
(RE)CONSTRUO DA DISCURSIVIDADE
Qualidades discursivas
2
correspondem a um conjunto de caracte-
rsticas que determinam a relao que o texto vai estabelecer com seus
leitores por meio do dilogo que trava no s diretamente com eles mas
1
Os temas propostos para redao, em um semestre, foram organizados em blocos
segundo trs procedimentos didticos: so voltados para a experincia pessoal; partem
do gnero narrativo, passam pelo descritivo para chegar ao dissertativo e tambm esta-
belecem uma relao entre os temas e as qualidades discursivas que os textos devem
apresentar.
2
Cf. Guedes, 1994, p.27.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
113
tambm com os demais textos que os antecederam na histria dessa
relao.
a) Qualidade discursiva unidade temtica
A Unidade temtica refere-se ao fato de que no h texto, por
maior que seja, que possa dar conta de tudo. preciso, por isso, ao se
produzir um texto, tratar de apenas uma questo: seja ela uma dificul-
dade, uma paixo, um desejo, um conceito, uma opinio, etc.
b) qualidade discursiva objetividade
A objetividade diz respeito capacidade que o autor deve ter de
mostrar mais do que apenas dizer. Para isso, dever o autor fornecer
todos os dados necessrios daquilo que quer contar ao seu interlocutor
distante. A qualidade discursiva objetividade tem a inteno de restau-
rar a antecipao como condio de produo do texto, ou seja, a partir
de uma adequada avaliao do texto como interlocuo distncia e,
mais do que isso, como interlocuo in absentia dispe-se a, colocando-
se no lugar do interlocutor, prever as possveis dvidas e as objees e
fornecer todas as informaes que julga necessrias para sanar tais d-
vidas e todos os argumentos que refutem tais objees.
c) Qualidade discursiva concretude
A concretude a qualidade que pressupe que o que se diz no
texto deve ser de uma forma bem especfica, tal que o leitor fique sa-
bendo o que mesmo que o autor pensa, qual a opinio dele a respeito
do assunto, pois em toda produo textual h um sentido particular que
se quer atribuir (inclusive a ambigidade proposital) s afirmaes e, a
clareza desses sentidos, possibilita que o leitor confronte o que o texto
diz com o particular sentido que j tem construdo para si, e, no dilogo
com o texto, experimente sentimentos, emoes, questionamentos pro-
duzidos, e dessa relao interlocutiva novos conhecimentos so cons-
trudos.
d) Qualidade discursiva questionamento
O questionamento outra qualidade que foi postulada por Gue-
des (1994) como necessria para que um texto fuja aos padres da tpi-
ca redao escolar. Para que o texto apresente essa qualidade discursi-
va, qualquer que seja o tema, deve ser considerado como um problema
para o leitor, e esse problema precisa afet-lo, incomod-lo ou agrad-
lo. A respeito disso deve o locutor propor uma soluo, ou equacion-lo
apenas.
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
114
A REESCRITA DE TEXTOS COM BASE NAS QUALIDADES
DISCURSIVAS
Acreditamos que, em grande parte, seja no exerccio da reescrita
exigida muito seriamente e orientada a partir de critrios muito clara-
mente explicitados que os alunos podero compreender que a lingua-
gem e, conseqentemente, a produo textual so fruto de um trabalho
duro de reflexo que vale a pena j que somente talento e inspirao
no garantem a produo de obras-primas nem mesmo aos consagrados
escritores.
A seguir faremos algumas sugestes sobre o encaminhamento da
reescrita em sala de aula que esta pesquisa constatou ter sido eficaz no
contexto em que foi aplicada. Partindo do princpio que s faz sentido
ensinar a escrever se for para aprimorar a qualidade do produto resul-
tante, entendemos que a reescrita constitui-se num dos pressupostos
bsicos do ensino de produo textual que vise a levar textos produzi-
dos em sala de aula a atingir as qualidades discursivas esperadas. Para
isso, fundamental que os alunos sintam necessidade de reescrever
seus textos e saibam o que reescrever e para qu. A orientao sobre
reescrita aqui sugerida
3
leva em considerao os seguintes aspectos:
todo texto, antes de ser avaliado, deve ser reescrito pelo menos
uma vez;
escrever sempre uma imperfeita tentativa de produzir efeitos
sobre o leitor, ou seja, escrever sempre reescrever;
reescrever poder exercer a segunda e a terceira e a quarta e
quantas chances o autor julgar necessrias para oferecer ao lei-
tor a explicao o mais clara possvel daquilo que o convidou a
ler;
a reescrita deve ser pensada como parte integrante de um pro-
cesso de produo de qualquer texto e no como uma atividade
que sirva apenas para ocupar o aluno.
3
Esta orientao de reescrita tomou por base o processo efetivo realizado na sala de
aula de onde os textos foram coletados para esta pesquisa. Maiores detalhes sobre a
metodologia de reescrita podem ser verificados no captulo 3, p. 44 da Dissertao de
mestrado de CONCEIO (1999).
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
115
METODOLOGIA DO PROCESSO DE REESCRITA
Para o elenco dos doze temas trabalhados na sala de aula de onde
coletamos os textos analisados nesta pesquisa, descreveremos o proces-
so de reescrita:
1) metodologia geral de reescrita: a reescrita sempre foi solicita-
da aps a produo de um conjunto de textos pelos alunos; da discus-
so pblica na sala de aula com base nas qualidades discursivas unida-
de temtica, concretude, objetividade e questionamento; do exame de
outros textos tirados da bibliografia indicada e/ou elaborados pelo pro-
fessor para fomentar as discusses.
2) Metodologia especfica de reescrita: para se reescrever os tex-
tos se fez necessrio serem levadas em considerao algumas caracte-
rsticas importantes dos mesmos que foram agrupados em quatro blocos
de temas conforme a seguir so especificados:
Reescrita do primeiro bloco de temas: neste bloco, os temas pro-
postos foram apresentao pessoal e aspecto do cotidiano. Aps a pro-
duo de um texto para cada tema, das observaes escritas pelo pro-
fessor; da leitura pblica e da discusso dos mesmos luz das qualida-
des discursivas, os alunos escolheram um texto para reescrever.
Reescrita do segundo bloco de temas: neste bloco, os dois temas
propostos so narrativa de uma emoo forte e narrativa de um apren-
dizado. Nesta fase so trabalhadas algumas caractersticas da narrao.
H a sugesto de reescrita de um desses dois textos nos mesmos moldes
do bloco anterior.
Reescrita do terceiro bloco de temas: neste bloco, os quatro te-
mas propostos, descrio de uma pessoa, de um objeto, de um proces-
so, de um tipo de pessoa, compem o bloco descritivo (que visto co-
mo um gnero auxiliar tanto da narrao como da dissertao). Nesta
fase so trabalhadas algumas caractersticas da descrio e so discuti-
dos alguns equvocos que tm se perpetuado no seu ensino. H a suges-
to de reescrita de um desses quatro textos nos mesmos moldes dos
anteriores.
Reescrita do quarto bloco de temas: neste bloco, o dos textos
dissertativos, os temas propostos foram quatro: comparao entre dois
tipos de pessoa; apresentao dos atributos de uma pessoa ou coisa;
apresentao dos grupos que compem um conjunto; definio de uma
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
116
palavra significativa. Houve, novamente, a sugesto de reescrita de um
dos textos produzidos, nos moldes dos anteriores.
A PESQUISA
Os objetivos da pesquisa
Essa proposta de reconstruo da discursividade na escrita des-
crita no Manual de Redao
4
foi aplicada em vrias turmas de terceiro
grau por vrios professores e, atravs do ministrante de uma dessas
turmas, mantivemos contato com os textos que passaram a integrar o
corpus de anlise desta pesquisa. Investigamos, portanto, os resultados
da reconstruo da discursividade, via didtica especfica, manifesta em
textos produzidos e reformulados por alunos iniciantes num curso de
terceiro grau.
importante registrar que no esperamos, nem pretendemos,
com esta pesquisa, ter encontrado uma frmula mgica, e, muito me-
nos, estar oferecendo mais uma receita ou lista de macetes, qual as
redaes escolares devam se conformar.
A coleta do material
Coletamos 77 textos escritos e reescritos por treze alunos
5
. O cri-
trio de seleo do corpus foi a necessria presena da primeira verso
e das correspondentes reescritas de um mesmo texto produzido a partir
de cada tema proposto no programa desenvolvido. Estabelecemos com-
paraes entre a primeira verso e suas reescritas de modo a averi-
guarmos as mudanas ocorridas e qual o efeito dessas mudanas no que
diz respeito ao aspecto discursivo dos textos analisados.
4
Cf. Cap. III de GUEDES (1994) ou, sua resenha, em CONCEO (1999).
5
Coletamos, tambm, informaes complementares em relatos escritos pelo professor
sobre suas aulas; no programa elaborado com base no Manual de Redao; nos textos
elaborados pelos alunos para avaliar o trabalho; em entrevistas informais com o profes-
sor e nas observaes escritas pelo professor nos textos d ao longo do primeiro semes-
tre nos textos dos alunos.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
117
A disciplina em que foi aplicada a proposta funcionava com qua-
tro horas aulas semanais nas quais eram discutidos o material terico e
os textos produzidos pelos alunos em casa.
No houve um nmero mximo de reescritas predeterminado pa-
ra cada tema, variando o nmero delas de acordo com a deciso de cada
aluno, desde que levados em considerao o fato de que o aluno deveria
reescrever um texto de cada grupo de tema
6
.
O processo de anlise
Dividimos a anlise do corpus em duas fases:
Na 1 etapa investigamos se os textos, em algum momento, apre-
sentaram as formalidades caractersticas da redao escolar expressas:
na obrigatria disposio cannica (introduo, desenvolvi-
mento e concluso) das partes do texto, ainda que inadequa-
da ao contedo expresso;
no conjunto de idias expostas, denominado de lugar-
comum, porque oriundas da reproduo de segmentos conge-
lados de linguagem manifesto atravs de linguagem estereo-
tipada, de expresses vagas e genricas, de clichs, de no-
es confusas e de provas morais que denunciam estratgias
de argumentao que substituem o esforo da construo de
uma reflexo pessoalizada.
Na 2 etapa investigamos se houve, medida que os textos foram
sendo reescritos, a construo de um discurso fundamentado na inten-
o de propor uma relao dialgica com algum eventual leitor mani-
festa atravs da presena, nos textos, das qualidades discursivas:
unidade temtica, concretude, objetividade, questionamento.
As modificaes ocorridas foram investigadas atravs da anlise
comparativa entre as primeiras verses e as reescritas a partir das mu-
danas ocorridas no mbito do pargrafo, do perodo, de segmentos e
de itens lexicais, atravs das operaes lingsticas de: adio, elimina-
o, substituio, e deslocamento de unidades lingsticas.
6
Em entrevista informal, esclareceu o professor que, na verdade, nenhum texto disser-
tativo foi reescrito no primeiro semestre por falta de tempo; explicou que deu priorida-
de escrita de todos os doze temas, o que inviabilizou, no fim do semestre, a retomada
de um dos quatro do ltimo grupo.
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
118
A pergunta principal que norteou as anlises foi a seguinte: Qual
a relao estabelecida entre as operaes de reescrita e as qualidades
discursivas postuladas?
Os resultados
Os exemplares a seguir mostram como se deu a crescente des-
construo das formalidades da redao escolar e a conseqente re-
construo do discurso.
As primeiras redaes
Transcrevemos a primeira verso de uma das redaes que fize-
ram parte do corpus de anlise deste trabalho. Tal redao pode ser
considerada exemplar do que se est denominando de redao escolar.
APRESENTAO PESSOAL
7
1 Falar sobre si mesmo no nada fcil. Reconhecer as nossas
virtudes e defeitos exige bastante
2 honestidade e um auto-conhecimento que muitas vezes no
temos. Mesmo assim, tentarei fazer com que
3 vocs conheam um pouco respeito da minha pessoa.Meu
nome [...].
4 Nasci em [...], cidade onde ainda vivo, e tenho dezessete a-
nos.
5 Estudei desde o primrio no colgio [...], de onde s sa para
ingressar na faculdade
6 este ano.
7 Aquilo que mais gosto de fazer est relacionado msica.
Adoro passar horas tocando guitarra ou
8 ouvindo s bandas que mais admiro (Blak Sabbath, Pink
Floyd, Led Zeppelin, ...) Dentre meus dolos,
9 destaco principalmente alguns msicos que viveram nos anos
60/70, ligados ao movimento Hippie.
10 Afinal, eles promoveram uma verdadeira revoluo nos cos-
tumes da poca, desafiando todo o sistema
11 atravs do lema Sexo , Drogas e Rock nroll .
7
Os nmeros correspondem s linhas conforme esto no texto original do aluno.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
119
12 No poderia deixar de destacar tambm nomes Brasileiros,
como Chico Buarque e Caetano
13 Veloso. Suas atitudes numa poca em que a ordem era no
pensar (e muito menos falar aquilo que se
14 pensava) contribuiu muito para conscientizar as pessoas so-
bre o horror que era a Ditadura Militar .
15 Alm disso, pratico esportes (sou colorado) e gosto muito de
ir ao cinema. Adoro sair noite, tanto em
16 [...] como na praia onde veraneio, [...]. Me preocupo com
assuntos ligados ao futuro do
17 nosso pas, como a sua situao poltica, tendo um
posicionamento bem esquerda em relao isso .
18 Para o meu futuro, espero que esta faculdade contribua para
que eu me realizar profissionalmente.
19 At l, pretendo continuar aproveitando a vida como estou,
sem deixar de lado as responsabilidades
20 que crescero cada vez mais a partir de agora.
O maior problema dessa redao que ela apresenta uma lista de
caractersticas sem unidade, formam um amontoado de frases que, em-
bora sejam dispostas em forma de texto, no chegam a constituir-se em
um texto. O que este aluno escreveu, pode-se dizer, foi uma espcie de
modelo de texto que parece ter aprendido, a partir dos modelos de reda-
o que a escola, em pelo menos onze anos de estudo forneceu-lhe para
fazer, neste caso, a apresentao pessoal. No geral, as redaes no
bloco de apresentao pessoal em sua primeira verso, resumiram-se a
lista de informaes na qual, invariavelmente, apareceram: nome, ida-
de, escolaridade, preferncias, etc.
Apesar disso, em alguns trechos foi possvel perceber uma esp-
cie de conflito entre o uso do lugar-comum e a elaborao de um dis-
curso que fugisse ao formulrio de apresentao pessoal que caracteri-
zou as primeiras redaes. Destacamos alguns trechos que evidenciam
esse conflito do aluno.
Analisando o texto apresentado quanto s possibilidades de esta-
belecer uma possvel questo sobre a qual pudesse encaminhar sua
apresentao, verificamos essa possibilidade no 3 pargrafo, linhas
(doravante L) 7 a 11 e em parte do 4 pargrafo, L12 a 14, quando o
autor se coloca como admirador de um perodo de nossa histria em
que no viveu, mas entende ter marcado uma poca.
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
120
Como podemos observar, at a L14 ele esboa uma questo, po-
rm, nas L 15 e 16, abandona a idia que estava desenvolvendo e re-
toma novamente lista interrompida na L6.
Na metade da L 16, abandona a lista e retoma a idia inicial do
pargrafo que continua at a L 17. No pargrafo seguinte, L 18 em
diante, retoma a lista.
Acreditamos que, se tivesse discutido a questo proposta, teria
uma rica oportunidade de poder compartilhar com os leitores a produ-
o de um conhecimento singular e seus leitores teriam a possibilidade
de discordar, concordar, confrontar outras posies, aprofundar o co-
nhecimento estabelecendo-se, ento, o que estamos considerando dilo-
go com o texto.
Verificamos, tambm, no decorrer da anlise, que a preocupao
com a estrutura formal era uma estratgia determinante na produo,
isto , o texto se organizava em torno da introduo, do desenvolvimen-
to e da concluso e no em funo da possibilidade de se estabelecer
um dilogo com algum eventual interlocutor.
Os pargrafos finais da maioria dos textos de apresentao pes-
soal em primeira verso seguiram a mesma frmula dos pargrafos
iniciais. Na introduo formal reclamaram da dificuldade de realizar a
tarefa e, na concluso formal, todos ficaram na esperana de que o lei-
tor os tenha conhecido satisfatoriamente.
Os fragmentos abaixo so de vrios textos de apresentao pes-
soal e so exemplares do que denominamos de concluso formal. A
concluso formal aquela que, em vez de concluir uma discusso feita
no todo do texto, serve para avisar ao leitor que o texto terminou:
Espero que com essa breve apresentao d para saber um pouco a
respeito de mim, lgico que no tudo, mas ao menos algumas caracte-
rsticas para me conhecer melhor.
Esperando ter conseguido dar uma boa amostra de quem sou, de
quem aparento ser ou de quem desejo aparentar ser.
Depois desse breve relato sobre mim, espero que o leitor tenha uma
vaga idia do tipo humano a que perteno.
O trecho seguinte corresponde ao primeiro pargrafo de um dos
textos de apresentao pessoal, cuja introduo s cumpriu o papel de
introduo formal. A introduo formal corresponde ao uso de par-
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
121
grafos iniciais que ao invs de colocarem o leitor diante de uma questo
em torno da qual o texto v ser desenvolvido, apenas cumprem o papel
de primeiro pargrafo de introduo. Observemos com em vez de inici-
ar sua apresentao, o autor ficou reclamando da dificuldade de realizar
atividade:
Falar sobre si mesmo no nada fcil. Reconhecer as nossas virtudes
e defeitos exige bastante honestidade e um auto-conhecimento que
muitas vezes no temos. Mesmo assim, tentarei fazer com que vocs
conheam um pouco a respeito da minha pessoa.
Vejamos como este discurso vazio, que serviu apenas para cum-
prir o ritual introdutrio, consistiu-se numa expresso do lugar-comum,
dada a freqncia com que foi reproduzido nas diferentes redaes de
apresentao pessoal:
Escrever sobre ns mesmos uma tarefa um tanto complicada.
Aps alguns instantes de reflexo frente ao papel, percebo estar dian-
te de um problema: preciso escrever sobre minha pessoa.
Confesso que o tema proposto me suscitou questionamentos que no
momento no circulavam no meu pensamento consciente ...
Observemos no Quadro 1 quatro exemplos de ttulos de textos,
na primeira verso e na reescrita, referentes aos primeiros textos produ-
zidos por quatro diferentes alunos a propsito de fazerem a Apresenta-
o pessoal.
Quadro 1 Ttulo de alguns dos textos produzidos para o tema apre-
sentao pessoal.
Aluno Ttulo primeira verso Ttulo texto reescrito
11M Apresentao pessoal Nostlgico
7F Apresentao pessoal Diferena de idade
9G Apresentao pessoal Andarilha
2A Minha apresentao Indecisa
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
122
Como se pode perceber, at mesmo os ttulos dos primeiros tex-
tos foram uniformes, padronizados, tornando-se lugar-comum, como se
todos fossem obrigados a dar o mesmo ttulo ao seu texto de apresenta-
o pessoal. Nas reescritas, porm, j comearam a aparecer os primei-
ros indcios de uma desconstruo desses esteretipos.
Esse comportamento padronizado que se evidenciou no somente
nos ttulos dos textos, mas tambm no contedo, especialmente nas
primeiras verses dos primeiros textos, parece distanciar-se muito do
que Bakhtin (1995, p.123) caracteriza como discurso escrito: Assim, o
discurso escrito de certa maneira parte integrante de uma discusso
ideolgica em grande escala: ele responde a alguma coisa, refuta,
confirma, antecipa as respostas e objees potenciais, procura apoio,
etc. E, em contrapartida, esse discurso produzido na escola parece refle-
tir-se na definio de redao escolar proposta por Guedes (1997).
Redao escolar :
Conjunto de palavras organizadas em frases dispostas em forma de
texto com o desgnio de 1) reproduzir um padro de linguagem, um
modelo consagrado de disposio das partes em que se deve dividir a
exposio e um conjunto de idias, considerados esse padro, esse
modelo e esse conjunto por quem produziu tal redao como os -
nicos aceitveis pela escola ou de 2) expressar, de forma vaga, gen-
rica e monolgica, sentimentos, sensaes, opinies sem a inteno
de propor um dilogo a qualquer leitor e sem a ateno a alguma e-
ventual leitura. (Guedes, 1997, In Conceio, 1999, p. 24)
A redao escolar e o lugar-comum
Nas 34 redaes em primeira verso, 25 delas apresentaram a re-
produo do lugar-comum. Nos 34 textos reescritos, constatamos uma
sensvel diminuio dessas ocorrncias, j que apenas dez textos apre-
sentaram o problema. Como o efeito do lugar-comum que os alunos
se tornam incapazes de utilizar a linguagem de uma forma em que ela j
no tenha sido utilizada, o que os impede de produzir discursos, enten-
demos que a diminuio dessas ocorrncias evidenciam que, medida
que os textos foram sendo reescritos, foi se promovendo a reconstruo
da discursividade.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
123
A redao escolar e a inadequada disposio das partes do texto
Nas 34 redaes em primeira verso, 23 delas apresentaram pro-
blemas de uso inadequado da estrutura formal, seja na introduo e/ou
no desenvolvimento e/ou na concluso. Nas 34 reescritas, apenas quatro
delas apresentaram o problema. Esses dados do evidncia de que essas
caractersticas de redao escolar foram sendo superadas medida que
os textos foram sendo reescritos.
A escrita como trabalho: a reescrita e o trabalho de (re)construo do
texto
Transcreveremos as reescritas (as segunda e terceira verses) do
texto j apresentado para que possamos constatar o trabalho de recons-
truo realizado.
As operaes de eliminao, deslocamento e substituio e a busca da
unidade temtica
J analisamos as caractersticas de redao escolar que o texto
transcrito apresentou em sua primeira verso. E o maior problema que
nele se pode constatar foi a estrutura inadequada, o discurso pautado no
lugar-comum e a falta de unidade temtica.
As operaes de reescrita realizadas da segunda para terceira
verso ilustram as movimentaes feitas, principalmente de desloca-
mento e substituio em busca de dar unidade temtica segunda. Para
facilitar a comparao foram marcados em negrito, em ambas as ver-
ses, alguns trechos que tornam mais visveis as operaes que ocorre-
ram e que sero exemplificadas. Vejamos, primeiro, o texto reescrito na
segunda verso para a apresentao pessoal:
QUEM SOU EU?
(1) Um vizinho, chamado Rogrio, entrava no edifcio onde moro
quando viu uma pasta em cima do sof do hall de entrada. No havia
ningum por perto, logo, ele concluiu que ela fora esquecida por al-
gum. Dentro dela, havia apenas um caderno, no qual no estava o
nome da pessoa a quem ele pertencia. Comeou a olhar as pginas,
em busca de algo para ajudar na identificao. Poucas pginas esta-
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
124
vam escritas (era o comeo do ano letivo), mas algo se destacou para
ele.
(2) Era uma espcie de um rascunho que falava a respeito de um ra-
paz (que obviamente era o dono da pasta, pois estava escrito na pri-
meira pessoa). Comeou ento a l-lo, pois com isso provavelmente
descobriria de quem era a tal pasta .
(3) O garoto havia nascido no dia 8 de Setembro de 1977 em [...],
tendo, portanto, 17 anos hoje em dia. Era filho-nico, mas isso no o
fez em nada ser solitrio. Pelo contrrio, durante a sua infncia, esti-
vera rodeado de amigos com quem passava as tardes brincando ou
jogando futebol na praa localizada na frente de sua casa (futebol, a-
lis, que era sua grande paixo, sendo levado pelo pai desde pequeno
aos jogos do Internacional). Nunca dera maiores problemas de preo-
cupao aos seus pais, j que atendia a quase todas as suas determi-
naes.
(4) No jardim de infncia, fora matriculado no Colgio [...], de onde
s saiu para prestar o vestibular. Fora, desde pequeno, aquilo que
chamam de bom aluno, tirando sempre notas satisfatrias e no
ficando em recuperao. Isso foi muito bom para a sua formao co-
mo aluno e como pessoa, pois fez com que seus pais nunca se preo-
cupassem nem interferissem no seus estudos. Nunca fora obrigado a
estudar em casa por eles, o fazia por conta prpria, fugindo dos habi-
tuais castigos a que os filhos rebeldes so submetidos. Mas no con-
funda-se isso com o que chamam de CDF, pois isso ele nunca foi.
(5) Foi no colgio tambm em que ele encontrou seus melhores ami-
gos, a quem chamava de galera. Foi junto deles (um grupo de apai-
xonadamente treze ou quatorze, entre garotos e garotas) que comeou
a viver aquilo que chama de melhor fase da vida, a juventude. Com
eles, descobriu as coisas habituais pelo que um adolescente passa, as
novidades, os problemas, enfim, aquilo que normal idade. Come-
aram a sair pr noite l pelo primeiro ano do segundo grau, al-
go que continuam fazendo at hoje, tanto em [...] como em [...], onde
ele veraneia
(6) Tambm foi na adolescncia que ele descobriu a m-
sica (sua principal paixo, depois das mulheres, claro). No comeo,
l pelos quatorze anos, adorava heavy-metal, representado por
bandas como Iron Maiden e Metallica, a quem idolatrava. Come-
ou a tocar violo influenciado por eles, assim como deixar o cabelo
crescer. Era naquele tipo de msica que ele via representada a fase
difcil mas muito legal por que estava passando.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
125
(7) Hoje em dia, gosta dum som mais anos 70, representado por
bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Pink Floyd, etc ... Nota-
se a uma grande admirao pelo movimento hippie. Afinal, numa
poca em que imperavam preconceitos estpidos e de plena guerra-
fria, houve jovens que conseguiram, atravs da msica e de atitudes
no-convencionais, alcanar uma verdadeira revoluo nos padres
comportamentais da poca, clamando por paz e amor e desafiando
todo o sistema capitalista atravs do to divulgado sexo, droga e
rock nroll .
(8) No Brasil, admira nomes como Chico Buarque e Caetano Veloso.
Suas atitudes numa poca em que a ordem era no, pensar (e muito
menos falar aquilo que se pensava). Contribuiram em muito para a-
brir a mente das pessoas sobre o que realmente era ditadura militar.
Faziam isso de uma forma muito inteligente, onde msicas represen-
tavam tudo aquilo que o nosso povo estava vivendo.
(9) Alm da msica, interessou-se tambm por comunicao. ver-
dade que, no comeo, ainda quando decidia para que faria o temido
vestibular, teve vontade de escolher Sociologia. Vontade moment-
nea, motivada pelo seu grande interesse poltico (sempre gostou mu i-
to mais das matria humanas) e sua indignao com a atual situao
do pas, presidida por quem est (no esconde sua admirao por par-
tidos da esquerda, embora no seja nem um pouco um profundo co-
nhecedor do marxismo). Mas a vontade logo passou, pois as perspec-
tivas profissionais no eram nada boas. Com isso, decidiu-se por [...]
, que cursa atualmente, buscando uma profisso dinmica e que en-
volva bastante criatividade.
(10) A partir de tudo isto, foi fcil para o Rogrio descobrir a quem
pertencia a tal pasta. Dirigiu-se para o apartamento xxx, e apertou a
campainha. Vendo que s estava a empregada domstica em casa,
disse: Entrega essa pasta para o [...], que ele esqueceu l embaixo.
Convm esclarecer que as operaes de deslocamento ocorreram
conjugadas s operaes de substituio e que no sero demonstrados
todos os casos efetuados para que esta exposio no se torne demasia-
do cansativa ao leitor.
Ao reescrever da primeira para a segunda verso, a operao
mais significativa foi a de acrscimo, tanto de novos pargrafos como
de unidades menores. A constatao a que se pode chegar que esses
acrscimos ocorreram em funo de que o aluno tentou criar uma estra-
tgia que provavelmente tenha pensado que poderia proporcionar a
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
126
unidade ausente na primeira verso. Porm, o personagem Rogrio,
alm de no proporcionar unidade temtica ao texto, acabou se tornan-
do uma informao a mais na lista que j era extensa. Ou seja, o pro-
blema no est em acrescentar mais informaes dispersas, est no fato
de que o texto no se organiza em torno de uma questo.
Verifiquemos, nesta nova verso, como as operaes realizadas
ocorreram em funo de providenciar unidade temtica. Os trechos
marcados em negrito servem para facilitar a comparao entre os tex-
tos. Vejamos a terceira verso da apresentao pessoal do autor:
NOSTLGICO ...
(1) A primeira palavra que me veio a cabea
para me apresentar pela terceira vez foi nostlgico. No
aquele tipo de cara que enche a cara, fica se lamentan-
do e dizendo como j foi feliz antes, mas que agora nada
mais tem graa na vida. Mas sim, algum que quer, um
dia (quando for bem mais velho) sentar numa mesa de
bar com os meus amigos e ter histria que viveu para
contar, que vai poder olhar para trs e ver como real-
mente aproveitou a vida e continua a aproveita-la, en-
fim, que pode chegar a concluso que tudo que viveu va-
leu a pena.
(2) Pode parecer estranho, mas primeiramente,
me considero nostlgico por algo que no vivi. Ah, que
poca foram os Anos Rebeldes.!!! No que eu seja a
favor da ditadura militar, muito pelo contrrio. Mas me
seduz a possibilidade de, se eu tivesse vivido na poca,
ter participado de reunies secretas de estudantes para
organizar manifestaes, ter pichado muros com dizeres
contra a ditadura (no podendo ser visto pela polcia de
maneira alguma), ter um poster do Che Guevara no meu
quarto (sabendo que meus pais iriam encher o saco pa-
ra eu tir-lo, achando que aquilo poderia ser perigoso)
ou ter carregado livros como o capital com a consci-
ncia de que isso no era permitido. Se eu realmente te-
ria coragem de fazer tudo isso? No sei. Mas, quem sa-
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
127
be, aquele esprito meio inconseqente que temos quan-
do jovens de se rebelar contra aquilo que no gostamos
sem medir muito as conseqncia poderia me ajudar.
(3) Mas o que eu sei que, embora no a tenha
vivido, foi essa poca que despertou o interesse pela po-
ltica, pelas questes sociais. Foi de ver as coisas, a seu
respeito na televiso, crescer ouvindo comentrios dos
meus pais, ler livros e jornais que falavam sobre isso,
que me veio a vontade de cursar algo como Histria ou
Sociologia, cursos que quase optei por fazer, s no o
fazendo por causa do salrio de fome que eu provavel-
mente ganharia no futuro. Mas no por acaso que hoje
voto no Lula.
(4) Ah! Mas que vontade de tambm ter no meu
quarto posters do Jimi Heendrix do Led Zeppelin, do
Pink Floyd, do Black Sabbath no auge de suas carrei-
ras. De poder ter chorado com o fim dos Beatles, de po-
der ir comprar no dia do lanamento o Araa Azul,
do Caetano, ou de poder ter tomado um trago e ter ido
num Show do Chico para ver ele cantar Apesar de vo-
c, quando ela mais tinha importncia. De poder ter
vivido, o sexo, drogas e rock nroll quando ele real-
mente significa algo, de poder ter sido um dentre tantos
jovens (aqueles hippies) que conseguiram quebrar
uma srie de preconceitos e tabus, sem vivncia alguma,
apenas atravs da msica e de atitudes no-
convencionais at ento. Enfim de ter participado da
verdadeira revoluo que aquela poca foi em relao
aos padres comportamentais, cultura.
(5) Mas pelo simples motivo de ter nascido de-
pois de tudo isso, j em 1977, eu posso apenas admirar
aquela poca. Mas no ser por isso que eu tambm no
gostarei dos dias de hoje. Muito pelo contrrio, pois
tambm sou um pouco nostlgico em relao a tudo que
j vivi. Adoro ficar escutando msica e olhando o gran-
de painel de fotos que montei e pendurei na parede do
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
128
meu quarto. Ali, posso ver, principalmente, a fase que
mais estou curtindo na minha vida, a minha juventude.
Naquelas fotos, posso ver por algumas mudanas que
passei. Ou o pi com fama de crente e que sempre tira-
va notas boas no Colgio, e que tinha um cabelo que
mais parecia um capacete. Ou o adolescente metaleiro
deixando o cabelo crescer e que adorava I ron Maiden
e Metallica e que recm estava comeando ir para
noite. Ou ainda o taem de hoje em dia, que curte um
som mais cabea (anos 70) e que recm entrou na
Faculdade.
(6) Enfim, como diriam os mais filsofos. re-
cordar tambm viver. Se hoje eu gosto de ficar pen-
sando sobre como seria viver em uma outra poca (em-
bora isto no seja recordar, e sim, imaginar) ou sobre o
meu primeiro beijo, meu primeiro nome, meu primeiro
(e nico !) violo, espero que, no futuro, eu possa fazer
isso com a mesma satisfao em relao ao que eu ain-
da tenho a viver.
Nesta verso, finalmente o narrador-personagem se apresenta a
partir de uma questo unificadora sua nostalgia o que d indicativos
de que o texto ganhou a unidade temtica buscada. Vejamos como se
deu o trabalho de reescrita.
Comparando as segunda e terceira verses possvel observar
que, na segunda, os dois primeiros pargrafos que introduziram o per-
sonagem Rogrio, e o ltimo pargrafo, que trouxe lembrana o Ro-
grio que ficou esquecido em todo o texto, foram eliminados na terceira
verso. A eliminao foi uma boa estratgia para dar unidade ao texto.
Alm da eliminao desses trs pargrafos, constatamos que ou-
tras unidades lingsticas que estavam prejudicando a unidade do texto
foram eliminadas, como por exemplo: detalhes sobre a infncia no 3
pargrafo, detalhes sobre a vida escolar no 4 pargrafo e assim por
diante.
Examinemos, a seguir, as operaes de deslocamento e substitui-
o que foram utilizadas como estratgia para dar unidade ao texto.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
129
Na segunda verso h trechos em negrito nos 3, 4, 5, 6, 7 e
9 pargrafos. E, na terceira verso, somente o 5 pargrafo est com
trechos em negrito. Isto merece uma explicao.
No 5 pargrafo reescrito na terceira verso podemos constatar
que aquelas informaes que na verso anterior estavam espalhadas
pelo texto inteiro (3, 4, 5, 6, 7, 9 pargrafos) foram todas desloca-
das e reunidas ali. Foram deslocadas informaes sobre: o ano do nas-
cimento (3 pargrafo), a escola primria e o rendimento escolar (4
pargrafo), a juventude quando comeou a sair noite (5 pargrafo), a
paixo pela msica na adolescncia (6 pargrafo), os estudos atuais (9
pargrafo).
Constatamos, ainda, que, alm das informaes que foram deslo-
cadas para o 5 pargrafo da terceira verso, foram feitos alguns acrs-
cimos de informaes no incio desse pargrafo.
Esses acrscimos parecem cumprir a funo de providenciar o
gancho necessrio para introduzir as informaes sobre a vida pessoal
do personagem-narrador que foram deslocadas de vrios outros par-
grafos na verso anterior para o 5 pargrafo da terceira verso, sem
que este se tornasse um pargrafo solto, capenga no meio do texto.
Embora o texto se organiza em torno de um perodo anterior ao nasci-
mento do personagem-narrador, nesse ponto foi feita a sutil passagem
entre o relato do perodo em que est afirmando ser seu admirador e
que serve de argumento para convencer o leitor de que sua principal
caracterstica ser nostlgico, e o perodo mais atual vivido pelo perso-
nagem, cujas informaes permitem ao leitor identificar quem esse
narrador e qual o valor que atribui aos fatos narrados, sem que o texto
perca a unidade.
O texto, mesmo em sua terceira verso, ainda apresenta falhas na
textualidade, porm os ganhos discursivos so inegveis. Acreditamos
que a melhora na discursividade tenha sido em decorrncia da ateno
que os alunos passaram a prestar nas qualidades discursivas de seus
textos.
CONSIDERAES FINAIS
Os resultados obtidos nos levaram constatao de que o proces-
so de superao do modelo vigente de redao escolar concretizado
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
130
pela incorporao das qualidades discursivas ao texto dos alunos surtiu
efeitos positivos no que se refere reconstruo da discursividade. Na
tabela 1 mostramos um resumo geral das operaes realizadas no cor-
pus como um todo.
Tabela 1 operaes realizadas por unidade lingstica
OPERAES LIN-
GSTICAS
UNIDADES LINGSTICAS
Pargrafo Perodo segmento item lexical
Acrscimo 232 193 92 48
Eliminao 186 64 56 53
Deslocamento 38 60 46 36
Substituio 19 68 65 84
Total geral 475 385 259 221
Foram examinados 77 textos (sendo 34 em 1 verso, 34 em 2
verso e 9 em 3 verso).
Os dados quantitativos a apresentados do evidncia de que os
alunos realizaram um significativo nmero de operaes lingsticas,
reescrevendo, especialmente, grandes partes dos seus textos. Pesquisas
tm demonstrado que esse comportamento dos alunos diante da reescri-
ta no comum. Isto nos permite afirmar que os encaminhamentos
didticos realizados podem t-los levado a realizarem essas modifica-
es em seus textos. E, o mais significativo, que essa movimentao
produziu mudanas no somente no tamanho dos textos mas, sobretudo,
melhorou-lhes a qualidade discursiva.
Considerando que dos 34 textos em primeira verso somente
6, isto , 18% dos textos apresentaram todas as qualidades discur-
sivas
8
e, na segunda verso, dos 34 textos apresentados 21 deles, ou
seja, 62%, passaram a apresentar todas as qualidades discursivas previs-
tas, esse fato d evidncias de que o resgate da discursividade estava se
processando na prtica da produo escrita daqueles alunos. No geral,
os textos melhoraram sensivelmente em termos de aquisio das quali-
dades discursivas entre a 1 verso e a correspondente reescrita.
8
Convm esclarecer que esse fato s comeou a ocorrer a partir do segundo tema em
diante. No primeiro texto produzido, 100% dos textos examinados apresentaram ausn-
cia das 4 qualidade discursivas.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
131
Atravs da anlise comparativa, do ponto de vista qualitativo, is-
to , uma anlise com o objetivo de descobrir se as mudanas ocorridas
representaram avanos significativos no aspecto discursivo dos textos,
entre as primeiras verses e suas reescritas, constatamos que o processo
de superao do modelo vigente de redao escolar concretizado pela
incorporao das qualidades discursivas ao texto, surtiu efeitos positi-
vos na produo textual dos alunos.
Constatamos, tambm, nesta pesquisa, que em um semestre ape-
nas no possvel se completar um processo de desconstruo de um
modelo criado ao longo da escolarizao e reconstruir no mais um ou
alguns modelos, mas a competncia discursiva, entendida, aqui, como
capacidade de produzir discursos, principalmente escritos (mas no
somente), adequados s situaes enunciativas em questo, consideran-
do todos os aspectos e decises envolvidos nesse processo.
No geral, podemos dizer que ao mesmo tempo em que a descons-
truo das formalidades ia se processando, a cada reescrita, a cada novo
tema que era trabalhado, instaurava-se um processo de reconstruo
discursiva
9
de maneira tal que os textos iam pouco a pouco deixando de
ser: pobres, simplistas, inspidos, quase todos iguais ... (assim como
observou Costa Val, 1993, p.118 sobre os textos de vestibular que ana-
lisou).
Nesse processo de reconstruo da discursividade, em que as
qualidades discursivas foram sendo incorporadas aos textos, as opera-
es lingsticas realizadas durante as reescritas desempenharam dife-
rentes funes. A eliminao e a substituio foram as mais determi-
nantes no processo de desconstruo das formalidades da redao esco-
lar. E as operaes de acrscimos e deslocamentos mostraram-se mais
eficazes no processo de reconstruo da discursividade.
A operao de eliminao, sobretudo de pargrafos, foi muito u-
tilizada quando o texto apresentava-se predominantemente com caracte-
rsticas de redao escolar. Esse comportamento, que ocorreu mais
intensamente em 53% dos textos parece ter sido utilizado para recons-
truir o discurso antes pautado em regras determinadas muito mais pelo
9
No estamos com isso querendo dizer que o processo seja linear, homogneo, isto , havendo a
desconstruo haver, automaticamente, a reconstruo da discursividade. O processo complexo
e diferentes fatores influenciam tanto na desconstruo quanto na reconstruo. Afirmamos que,
com estes alunos cujos textos analisamos, houve um observvel progresso em ambas as direes.
DA REDAO ESCOLAR AO DISCURSO
132
modelo escolar e muito menos pelo provvel interlocutor com quem se
deve travar um dilogo.
A operao de acrscimo foi a mais utilizada. A literatura sobre
reescrita mostra que, mesmo em textos de crianas em incio da escola-
rizao, a adio a operao predominante.
No caso destes textos, a explicao para o uso predominante dos
acrscimos a de que, em se tratando, por exemplo, de providenciar ao
texto objetividade e concretude, duas qualidades especialmente ausen-
tes na maior parte deles, faz-se necessrio muitos acrscimos, pois o
que denuncia a ausncia dessas qualidades no texto so a falta de in-
formaes e a falta de uma especificidade tal no uso das expresses que
permitam ao leitor compreender o texto sem que sinta necessidade de
consultar o seu autor ou de atribuir por si prprio os sentidos s expres-
ses que o texto no especifica
10
. A providncia dessas duas qualidades
pode ser, portanto, a explicao para o elevado nmero de acrscimo
de dados. Em outros casos, porm com menor intensidade que os acrs-
cimos, os deslocamentos foram providenciais, principalmente no que se
refere qualidade unidade temtica. Essa operao propiciou, a exem-
plo do texto aqui analisado, a juno de informaes que se apresenta-
vam espalhadas pelo texto prejudicando sua unidade.
Provavelmente, o fato de os alunos serem levados a dirigirem o
foco da ateno muito mais para o plano do contedo e para a maneira
mais interessante de contar sua histria ao leitor do que para aspectos
formais ou estruturais pode ter sido uma boa estratgia para recupera-
o da qualidade discursiva dos textos.
Por fim, este trabalho serviu, especialmente, para nos mostrar
que os alunos envolvidos passaram a lidar com a lngua no mais como
algo pronto e acabado que est disposio dos usurios para utiliz-la
tambm de uma forma fixa e padronizada segundo modelos preestabe-
lecidos. Comearam a conceber a linguagem como fruto de um trabalho
de reflexo medida que passaram a selecionar os recursos expressivos
da lngua com o objetivo de provocar deliberados efeitos de sentido nos
interlocutores, fato que ficou evidente nas intensas reescritas decorren-
10
Isto tem relao com o fato de que se espera que o aluno-autor, ao produzir seu texto,
faa um honesto esforo no sentido de lanar mo de todos os recursos expressivos
necessrios para dar pistas sobre o sentido que quer que seu interlocutor construa, ainda
que se reconhea que nem sempre possvel obtermos sucesso nessa empreitada.
RUTE IZABEL SIMES CONCEIO
133
tes da busca da incorporao das qualidades discursivas ao texto. Essa
nova postura frente linguagem parece ter contribudo eficazmente no
sentido de promover a reconstruo da discursividade na escrita, isto ,
de iniciar um processo de transformao de redaes escolares em dis-
curso como resultante de ao didtica especfica, objeto de investiga-
o nesta pesquisa.
REFERNCIA BIBLIOGRAFICA
BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e filosofia da linguagem. 7 ed. So
Paulo: Hucitec, 1985.
CONCEIO, Rute Izabel Simes Conceio. A reconstruo da dis-
cursividade na escrita: da redao escolar ao discurso. Porto Ale-
gre, Dissertao de Mestrado em Letras, Instituto de letras, Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Sul, 1999.
COSTA VAL, Maria da Graa. Redao e textualidade. So Paulo:
Martins Fontes, 1993.
GUEDES, Paulo Coimbra. Ensinar Portugus Ensinar a Escrever
Literatura Brasileira. Porto Alegre, Tese Doutorado em Letras, Ins-
tituto de Letras, Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do
Sul, 1994.
PCORA, Alcir. Problemas de redao. 4 ed. So Paulo: Martins
Fontes, 1992.
Você também pode gostar
- E Book Guia para Comec Ar Um Nego Cio Por Breno PerruchoDocumento46 páginasE Book Guia para Comec Ar Um Nego Cio Por Breno PerruchoVitor Silva78% (18)
- 4 Publicacoes Editoracao Concurso JornalistaDocumento94 páginas4 Publicacoes Editoracao Concurso JornalistaDavi G. Matias100% (1)
- Livro Completo Manual Citopatologia PDFDocumento163 páginasLivro Completo Manual Citopatologia PDFlulystar15100% (4)
- 315 - Qualidade em ServicosDocumento9 páginas315 - Qualidade em ServicosJr E Camilinha NunesAinda não há avaliações
- Controle Volume Efetivo de Latas de 350MLDocumento26 páginasControle Volume Efetivo de Latas de 350MLLeonardo dos santos reisAinda não há avaliações
- Produção Fundamentos e Processos (2) - UnlockedDocumento150 páginasProdução Fundamentos e Processos (2) - UnlockedVitor Pena50% (2)
- Plano de Negocio MJL Bordados ImpreededorismoDocumento13 páginasPlano de Negocio MJL Bordados ImpreededorismoFernandoPinheiroAinda não há avaliações
- PIM IV McDonald's TAYNARA PAULA PDFDocumento18 páginasPIM IV McDonald's TAYNARA PAULA PDFTaynara PaulaAinda não há avaliações
- LEFEBVRE, Henri. A Produção Do Espaço - Cap.6Documento69 páginasLEFEBVRE, Henri. A Produção Do Espaço - Cap.6paulaismaelAinda não há avaliações
- Ppadrão Documentação - Enfermagem Saúde Mental e Psiquiátrica - Auscultação - VFDocumento48 páginasPpadrão Documentação - Enfermagem Saúde Mental e Psiquiátrica - Auscultação - VFSabrina Ferreira100% (3)
- Qualidade Pós-ColheitaDocumento26 páginasQualidade Pós-ColheitaScaryvanAinda não há avaliações
- Estrategias e Composto de MarketingDocumento42 páginasEstrategias e Composto de MarketingDisparos GigacredAinda não há avaliações
- Processo Especial: Avaliação Do Sistema de Revestimento: CQI-12 Special Process: Coating System AssessmentDocumento40 páginasProcesso Especial: Avaliação Do Sistema de Revestimento: CQI-12 Special Process: Coating System AssessmentElias ConceiçãoAinda não há avaliações
- Permeabilidade Do Concreto - MicrossílicaDocumento2 páginasPermeabilidade Do Concreto - MicrossílicaAndressaPaschoalAinda não há avaliações
- Avaliação Económica Da Prevenção Dos Acidentes de Trabalho ADocumento4 páginasAvaliação Económica Da Prevenção Dos Acidentes de Trabalho ARuiMãodeFerroAinda não há avaliações
- Aspectos Econômicos Da Gestão Ambiental e Responsabilidade SocialDocumento2 páginasAspectos Econômicos Da Gestão Ambiental e Responsabilidade Socialdidi_lopsAinda não há avaliações
- Controle e Garantia de Qualidade 2Documento8 páginasControle e Garantia de Qualidade 2Carlos DioneAinda não há avaliações
- Revista Concreto 43 PDFDocumento116 páginasRevista Concreto 43 PDFDábilla Adriana BehrendAinda não há avaliações
- Aula 3Documento10 páginasAula 3Alessandra RibeiroAinda não há avaliações
- Conceito de Gestao e Concepção de ValorDocumento18 páginasConceito de Gestao e Concepção de ValorMartins Castro100% (1)
- Artigo 2Documento20 páginasArtigo 2AlanAinda não há avaliações
- SEG Automotive BRDocumento91 páginasSEG Automotive BRPéricles Auto PeçasAinda não há avaliações
- Nicole Pelaez PDFDocumento130 páginasNicole Pelaez PDFAndre Luiz Saback CohinAinda não há avaliações
- Cabos Ficap (Tabela de Secção Nominal)Documento30 páginasCabos Ficap (Tabela de Secção Nominal)Lazaro SouzaAinda não há avaliações
- Cartilha Imobiliária - SINDUSCONDocumento44 páginasCartilha Imobiliária - SINDUSCONIsac KaronAinda não há avaliações
- (Mapa Mental) O Que Podemos Aprender Com A DisneyDocumento7 páginas(Mapa Mental) O Que Podemos Aprender Com A DisneyHenrique BoechatAinda não há avaliações
- Caso AnvisaDocumento47 páginasCaso Anvisair.neponucenoAinda não há avaliações
- Bistrô BrasilDocumento14 páginasBistrô BrasilRosana Oliveira FestsAinda não há avaliações
- Mansys PDFDocumento22 páginasMansys PDFDenis FreireAinda não há avaliações