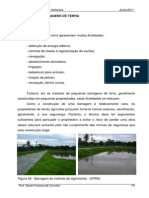Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ensaios de Geografia Crítica-Livro PG 158
Ensaios de Geografia Crítica-Livro PG 158
Enviado por
Pietro de QueirozTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ensaios de Geografia Crítica-Livro PG 158
Ensaios de Geografia Crítica-Livro PG 158
Enviado por
Pietro de QueirozDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ensaios de
Geografia Crtica
Jos William Vesentini
Histria, epistemologia e (geo)poltica
EP
Editora Pliade
So Paulo
2009
Copyright 2009, Jos William Vesentini
Direitos Reservados. Proibida a reproduo, mesmo parcial, por qualquer processo, sem
autorizao expressa do autor e do editor.
Capa: Dbora Gomes Dscio.
Revisado pelo autor.
Ficha de Catalogao
Vesentini, Jos William
V575e Ensaios de geografia crtica: histria, epistemologia e
(geo)poltica / Jos William Vesentini. - So Paulo: Pliade, 2009.
220 p.
ISBN: 978-85-7651-111-3
1. Geografia Histria 2. Geografia - Filosofia I. Ttulo
CDU 91
(Bibliotecria responsvel: Elenice Yamaguishi Madeira CRB 8/5033)
Conselho Editorial Pliade
Profa. Dra. Beatriz Lage - USP
Profa. Dra. Ldia Almeida Barros - UNESP
Prof. Dr. Erasmo de Almeida Nuzzi - Fund. Csper Lbero
Prof. Dr. Flvio Calazans - UNESP
Prof. Dr. Gustavo Afonso Schmidt de Melo - USP
Prof. Dr. Jos Henrique Guimares - USP
Prof. Dr. Lus Barco - USP
Prof. Dr. Maurizio Babini - UNESP
Prof. Dr. Nelson Papavero - USP
Prof. Dr. Ricardo Baptista Madeira - UniFMU
Prof. Dr. Roberto Bazanini - IMES-SC
Editora Pliade
Rua Apac, 45 - Jabaquara - CEP: 04347-110 - So Paulo/SP
info@editorapleiade.com.br - www.editorapleiade.com.br
Fones: (11) 2579-9863 (11) 2579-9865
2009
Impresso no Brasil
SUMRIO
Apresentao ...........................................................................................7
Uma cincia perifrica? Reflexes sobre a histria e a
epistemologia da geografia ...................................................................11
Controvrsias geogrficas: epistemologia e poltica .............................53
O que crtica? Ou qual a crtica da geografia crtica? ..................101
Geografia crtica no Brasil: uma interpretao depoente ....................127
A questo da natureza na geografia e no seu ensino ...........................158
A atualidade de Kropotkin, gegrafo e anarquista ..............................173
A crise da geopoltica brasileira tradicional:
existe hoje uma nova geopoltica brasileira? ...................................197
Golbery do Couto e Silva, o papel das foras armadas
e a defesa do Brasil .............................................................................211
7
APRESENTAO
Os escritos aqui reunidos foram elaborados em distintas ocasies
alguns em 2001 e outros mais recentemente e abordam, sob diversos
prismas, a histria, a epistemologia e a poltica da/na geografia, alm
da geopoltica brasileira. Alguns so inditos e outros foram publicados
anteriormente em revistas acadmicas e/ou eletrnicas, mas, em geral,
foram lidos por poucos em funo da fraca tiragem e da escassa
penetrao desse tipo de peridico. A ordem em que se encontram foi
uma escolha subjetiva. De fato, cada um deles autnomo e pode ser
lido independentemente dos demais.
Os dois primeiros textos desta coletnea tratam da histria e da
epistemologia da geografia. O primeiro discute o que cientificidade,
qual a natureza epistemolgica da geografia e em que sentido se pode
afirmar que as cincias humanas, como tambm a geografia, so
cincias perifricas. Esse ensaio na verdade procura evidenciar como o
projeto epistemolgico da geografia, no sculo XIX em especial com
Humboldt , ficou margem tanto da crescente especializao nas
cincias naturais, que abandonaram o ideal grego de um estudo
integrado da natureza, como tambm da noo historicista o homem
como um produto do tempo histrico, e no mais das condies
naturais, que atravs de revolues atinge a sua maioridade que
estruturou as cincias humanas nesse perodo.
O segundo ensaio versa sobre aqueles que provavelmente foram os trs
mais importantes debates ocorridos na histria da geografia: a polmica
sobre o determinismo, deflagrada por autores franceses a partir da
leitura de uma obra de Ratzel; a discusso a respeito do
Jos William Vesentini
8
excepcionalismo da geografia ou sobre que tipo de cincia ela ,
ocorrido nos Estados Unidos nos anos 1950; por fim, o embate entre
Kropotkin e Mackinder, na Inglaterra vitoriana, sobre o que ou o que
deveria ser a geografia. Procuramos demonstrar que essas trs
polmicas se entrecruzam e continuam atuais, ou seja, prosseguem
sendo questes epistemolgicas e polticas cruciais da cincia
geogrfica.
Os escritos quarto e cinco encetam uma discusso sobre o que crtica,
como esta vem sendo entendida na geografia crtica e quando e como
esta se instalou no Brasil. Isso significa que tambm eles tm um
carter histrico e epistemolgico, alm de sua evidente expresso
poltica. O quinto ensaio enfoca a questo da natureza na geografia e no
seu ensino. Tambm uma contribuio para o que deve ser afinal uma
geografia crtica, ou melhor, sobre como ela deve incorporar a questo
da natureza, embora neste caso circunscrita atividade educativa.
O sexto texto um longo comentrio sobre a obra do gegrafo e
anarquista Kropotkin, o grande marginalizado nos estudos relativos
histria do pensamento geogrfico. Procuramos demonstrar a inegvel
atualidade das ideias desse pensador avant-garde do final do sculo
XIX e incios do XX. Apesar de a primeira verso desse artigo ter sido
redigida em 1986, como introduo a uma antologia de textos do
intelectual russo, reescrevemos e ampliamos o escrito para inclu-lo
nesta obra, o que significa que em grande parte ele original.
Finalmente, os dois ltimos ensaios desta antologia tratam da
geopoltica brasileira. Um deles discute o significado da escola
geopoltica brasileira e porque ela ingressou numa crise a partir dos
anos 1980. O outro aborda determinadas ideias de Golbery do Couto e
Silva, o mais clebre dessa pliade de pensadores geopolticos que
desde a dcada de 1920 procurou (re)pensar os rumos do Brasil.
Qual seria a unidade deste conjunto de ensaios? Eles representam
tentativas, em diversos assuntos embora no to afastados , de
construir uma geografia crtica a partir do significado moderno e
kantiano desse adjetivo. Crtica que no se confunde meramente com
falar mal dos objetos enfocados, entendimento amide encontrvel
entre alguns gegrafos autoproclamados radicais ou crticos. Por sinal,
Ensaios de geografia crtica
9
procuramos tambm mostrar as diferenas, mesmo que relativas, entre
uma atitude crtica e uma radical. Objetivamos construir uma geografia
crtica, antes de mais nada, democrtica e pluralista no sentido
epistemolgico apontado, por exemplo, por Habermas
1
. Pluralismo
epistemolgico que dialoga com vrias correntes do pensamento, que
aproveita elementos de cada uma, embora sempre procurando manter
uma coerncia terica e uma correspondncia com os fatos. Pode-se,
ainda, recordar da leitura de Edgar Morin da complexidade
epistemolgica
2
, na qual no se trata mais de ser positivista (embora
tenha algo aqui a ser resgatado), nem dialtico (idem), tampouco
apenas fenomenolgico, estruturalista ou historicista, mas aceitar a
complexidade do real e a validade, pelo menos parcial, de cada uma
dessas perspectivas em determinados itens ou aspectos.
Incoerncia? Pontos de vista contraditrios e irreconciliveis, como
diriam os dogmticos? De maneira nenhuma. At poderia ser um
discurso incoerente se no houvesse uma coeso terica interna e,
principalmente, uma preocupao em se adequar aos fatos. Sem a
menor inteno de nos igualarmos e estes, cabe lembrar que, conforme
esclareceu Hannah Arendt
3
, todo grande pensador utiliza ideias
aparentemente contraditrias, fazendo uso, sua maneira, de autores
clssicos variados e que construram teorias por vezes tidas como
antinmicas.
Se esta obra suscitar a crtica e o debate estaremos plenamente
satisfeitos. Este precisamente o seu objetivo: apresentar outros
olhares, outras falas sobre determinados temas onde vem imperando, no
Brasil, nos ltimos anos, uma viso unilateral e hegemnica.
Acreditamos no esprito acadmico e cientfico, isto , de livre debate,
de crtica fundamentada, de crescimento a partir do dilogo com os
outros. A construo do conhecimento, inclusive nas cincias, uma
atividade social alicerada numa racionalidade comunicativa. Dessa
forma, quod scripsi, scripsi; e urbi et orbi. Que venham agora as
crticas, exceto como ironizaram dois intelectuais alemes que viviam
1
HABERMAS, J. A tica da discusso e a questo da verdade. So Paulo, Martins Fontes, 2007.
2
MORIN, E. Introduction La pense complexe. Paris, Seuil, 2005.
3
ARENDT, H. Entre o passado e o futuro. So Paulo, Perspectiva, 1979.
Jos William Vesentini
10
na Inglaterra vitoriana aquelas roedoras dos ratos. Que venham enfim
os reclames, as correes, as discordncias, os adendos, os acrscimos,
a complementao... No existe um destino melhor para qualquer obra
intelectual do que ter sido til para o avano de algum tipo de
conhecimento.
So Paulo, abril de 2009.
11
Uma cincia perifrica?
Reflexes sobre a histria e a epistemologia da geografia
A cincia, as cincias. Se dizemos a cincia, acabamos
fazendo um discurso completamente abstrato que esquece
a diversidade entre as cincias [...] ingnua a ideia que o
conhecimento cientfico reflexo do real; ele uma
atividade construda com todos os ingredientes da
atividade humana [...] A ideia de certeza terica, enquanto
certeza absoluta, deve ser abandonada. Outra concluso: a
cincia impura. A ideia de encontrar uma demarcao
ntida e clara da cincia pura, de fazer uma demarcao
entre o cientfico e o no cientfico, errnea. Tambm
dizemos que no existe uma fronteira ntida entre cincia e
filosofia [...] A cincia deve ser considerada como um
processo recursivo autoecoprodutor. Nada ilustra melhor
essa ideia que a ideia de objetividade: o produto ltimo
da atividade cientfica e esse produto se torna a causa
primeira e o fundamento de onde ela vai partir novamente
[...] O desenvolvimento das cincias da terra e da ecologia
revitalizam a geografia, cincia complexa por princpio,
uma vez que abrange a fsica terrestre, a biosfera e as
implantaes humanas. Marginalizada pelas disciplinas
vitoriosas, privada do pensamento organizador [...] a
geografia reencontra suas perspectivas multidimensionais,
complexas e globalizantes. Desenvolve seus pseudpodes
geopolticos e reassume sua vocao originria. (EDGAR
MORIN).
Jos William Vesentini
12
No fcil definir o que cincia ou cincias, no plural. Ela possui
certa unidade e, outrossim, uma grande diversidade. diferente e, ao
mesmo tempo, tem similaridades e inmeros pontos de contato com
outras modalidades do conhecimento humano: o senso comum, as
doutrinas religiosas, a filosofia, as expresses artsticas, os mitos, o
folclore e as tradies etc. Existe, praticamente, um consenso entre os
epistemlogos, os historiadores e os filsofos da cincia, sobre haver
uma diferena perceptvel uma ruptura e tambm, num certo sentido,
uma continuidade entre a cincia moderna e os saberes clssicos, na
verdade filosficos, que so vistos como a cincia tradicional. A
cincia moderna nasceu ou comeou a ser construda no sculo XVII.
certo, ela fez e continua a fazer uso de muitos elementos herdados
daqueles saberes clssicos, tais como certo rigor e esprito sistemtico
(encontrveis, por exemplo, num Aristteles), alm da lgica e da
matemtica existentes desde a antiguidade. Alguns chegam at mesmo
a afirmar que a cincia nada mais que o senso comum refinado e
disciplinado
1
.
Provavelmente sim, especialmente nos seus albores, com a cincia
tradicional, e tambm nas inmeras teorias e classificaes cientficas
mais simples existentes at os dias de hoje. Em todo o caso, a cincia
moderna vista como algo diverso da tradicional, apesar de essa
diversidade ser objeto de polmicas. A cincia moderna mais
emprica, dizem alguns; ou tem como base a induo, afirmam outros;
ou plena de experimentaes, de testes que confirmam ou desmentem
hipteses, com um permanente confronto das teorias com os fatos ou
com a realidade. Estabelecer essa diferena entre a cincia moderna e a
tradicional passa pelo entendimento do que cientfico, do que
cientificidade, enfim pela definio de cincia moderna.
Alguns poderamos dizer, os positivistas lato sensu (categoria na qual
se pode incluir boa parte dos marxistas) argumentam que o que
caracteriza a cincia moderna o mtodo cientfico
2
. Sabemos que essa
1
G. Myrdal apud ALVES, R. Filosofia da Cincia. So Paulo, Loyola, 2000.
2
Dentre as ideias maiores da filosofia positivista [encontra-se] a f na unidade fundamental
do mtodo da cincia. Na sua forma mais geral, trata-se da certeza de que os modos de
aquisio de um saber vlido so fundamentalmente os mesmos em todos os campos da
Ensaios de geografia crtica
13
nfase no mtodo, o mtodo da cincia, comeou com Ren Descartes.
Esse filsofo e matemtico do sculo XVII procurou teorizar, sua
maneira, os procedimentos de Galileu Galilei, tido como o primeiro
cientista na acepo moderna do termo e, provavelmente, o introdutor
do empirismo e da experimentao na pesquisa cientfica
3
. Para
Descartes, o mtodo consistia numa srie de regras simples a dvida,
a decomposio em partes menores (anlise), a hierarquia do simples
at o complexo e a sistematizao
4
. Simples e ao mesmo tempo
inovadoras para a sua poca porque tinham como pressuposto a razo
humana amplamente escorada na lgica e na matemtica e no a
escolstica, a interpretao dos textos sagrados e inquestionveis.
evidente que esse mtodo preconizado por Descartes nunca cobriu
plenamente hoje menos ainda os requisitos mnimos para se definir
a cientificidade de algum saber. Sequer entre aqueles que continuam
apregoando o mtodo cientfico como a essncia da cincia moderna
existe um mnimo consenso sobre o que exatamente seria esse suposto
mtodo unitrio. Um desses adeptos desse soi-disant mtodo cientfico
como definidor da cientificidade afirma o seguinte:
Nem todos concordam com o que seja mtodo cientfico. E
nem todos acreditam que ele possa estender seu brao
alm do seu bero, a cincia da natureza. Seu pai, Galileu,
no se conforma com a observao pura e tampouco com a
conjectura arbitrria. Galileu prope hipteses e as
submete prova experimental. Galileu engendra o mtodo
cientfico moderno, mas no enuncia seus passos e nem
faz sua propaganda [...] A partir de Galileu introduziram-
se vrias modificaes no mtodo cientfico. Uma delas
o controle estatstico dos dados [...] Uma investigao
procede de acordo com o mtodo cientfico se cumpre as
seguintes etapas: (1) Descobrimento do problema ou
experincia, como so igualmente idnticas as principais etapas da elaborao da experincia
atravs da reflexo terica. (KOLAKOWSKI, L. La filosofia positivista. Madrid, Catedra, 1966).
3
Cf. DESANTI, J. T. Galileu e a nova concepo de natureza, in CHTELET, F. Histria da
Filosofia, volume 3. Rio de Janeiro, Zahar, 1974, pp. 61-112; e BEYSSADE, J. M. Descartes, in
Idem, p. 81-114.
4
Cf. DESCARTES. Discurso do mtodo. In: Os Pensadores Descartes. So Paulo, Abril
Cultural, 1979, p. 29-71.
Jos William Vesentini
14
lacuna num conjunto de conhecimentos. (2) Colocao
precisa do problema. (3) Procura de conhecimentos ou
instrumentos relevantes ao problema. (4) Tentativa de
soluo do problema com auxlio dos meios identificados.
(5) Inveno de novas ideias. (6) Obteno de uma
soluo. (7) Investigao das consequncias da soluo
obtida. (8) Prova (comprovao) da soluo. (9) Correo
das hipteses
5
.
Percebe-se nessa fala de um epistemlogo reconhecido
internacionalmente que no existe, entre os especialistas, uma
concordncia sobre no que exatamente consiste esse mtodo e
tampouco se ele pode ser aplicado s cincias que no estudam a
natureza, isto , as cincias sociais e as formais. Na verdade essas nove
etapas do mtodo cientfico mencionadas pelo autor so de sua lavra,
como ele faz questo de afirmar inclusive como contraponto a uma
srie de tericos da cincia
6
. Por sinal, algumas pginas aps ter
explicitado suas etapas do mtodo cientfico, Bunge ameniza um pouco
a sua crena num mtodo unitrio e afirma: O nome ambguo [...] a
expresso mtodo cientfico enganosa, pois pode induzir a crer que
consiste num conjunto de receitas exaustivas e infalveis que qualquer
um pode manejar para inventar ideias e p-las prova [...] O que existe
uma estratgia de investigao cientfica. H tambm um sem
nmero de tticas ou mtodos especiais caractersticos das diversas
cincias e tecnologias particulares. Nenhuma dessas tticas infalvel
[...] A pessoa de talento cria novos mtodos e no o contrrio
7
.
Como se v, um quiproqu. O recurso ao vocabulrio militar (estratgia
e tticas) para tentar superar ou aperfeioar a ideia de um mtodo
cientfico mais cria confuso do que esclarece e fica a impresso de
que o autor oscila entre a crena num mtodo unificado e a aceitao da
pluralidade de mtodos, inclusive com a valorizao das
individualidades (do insight ou intuio deste ou daquele cientista etc.).
5
BUNGE, M. Epistemologia. So Paulo, Edusp, 1987.
6
Idem, p. 32-5.
7
Idem, p. 34, grifos do autor.
Ensaios de geografia crtica
15
Lendo outros especialistas na temtica fica ainda mais evidente o
desentendimento sobre esse hipottico mtodo unitrio. Um
epistemlogo egrgio prope que na verdade esse mtodo seja o de
conjecturas e refutaes. Em suas palavras:
Quando deve ser considerada cientfica uma teoria? A
resposta comumente aceita que a cincia se distingue da
pseudocincia pelo seu mtodo emprico, que
essencialmente indutivo, ou seja, parte da observao ou
da experimentao [...] Na realidade, a crena de que
podemos comear com observaes puras, sem nada que
se parea com uma teoria, absurda. A observao sempre
seletiva. Necessita um objeto elegido, uma tarefa
definida, um interesse, um ponto de vista ou um problema
[...] O problema O que vem primeiro, a hiptese ou a
observao?, solvel como o problema Quem vem
primeiro, o ovo ou a galinha?. A resposta ltima
interrogao Um tipo primitivo de ovo, e a resposta ao
primeiro Um tipo primitivo de hiptese [...] A cincia,
assim, deve comear com mitos e com a crtica de mitos;
no com o resultado de observaes nem com a inveno
de experimentos, mas, sim, com a discusso crtica de
mitos e de tcnicas e prticas mgicas [...] possvel
resumir tudo o que foi dito afirmando que o critrio para
estabelecer o status cientfico de uma teoria a sua
refutabilidade ou sua testabilidade. O que temos proposto,
ento, que no existe um procedimento mais racional do
que o mtodo do ensaio e erro, de conjecturas e refutaes:
de propor teorias intrepidamente; de fazer todo o possvel
para provar que esto erradas; e de aceit-las
provisoriamente, se nossos esforos crticos fracassam
8
.
Temos a uma concepo de mtodo cientfico bem diferente do
entendimento comum, que enxerga principalmente o empirismo, com a
induo e a experimentao. Esse entendimento comum, por sinal,
coerente com o nascimento da cincia moderna com Galileu e, por
8
POPPER, K. El desarrollo del conocimiento cientfico. Buenos Aires, Paidos, 1967, p. 59-65.
Jos William Vesentini
16
outro lado, a induo e a experimentao continuam procedimentos
vlidos e utilizveis em vrios tipos de pesquisa cientfica. Mas a
epistemologia de Popper tem como principal alicerce as teorias da
relatividade de Einstein, na qual, ao invs da experimentao e da
induo, como em Galileu, existe uma sofisticada deduo. (Einstein
falava numa experimentao imaginria, na qual ele literalmente
fantasiava eventos tais como o de uma pessoa dentro de um elevador
quebrado em acelerao para o cho, que no sentia o peso do seu
corpo, procurando com isso evidenciar uma insuficincia na explicao
newtoniana da fora da gravidade puxando o elevador e a pessoa para
baixo). Uma deduo pura no sentido de encontrar falhas ou lacunas
nas explicaes anteriores neste caso, na fsica newtoniana e
procurar, com o uso da razo, estabelecer outras, que necessariamente
teriam de ser testadas pela observao posterior. Se no fossem
submetidas a testes, a experimentos para verificar a validade de suas
proposies, pouca diferena teriam da cincia tradicional e
especulativa. Como se sabe, os astrnomos aps a Primeira Guerra
Mundial procuraram fotografar eclipses do Sol para verificarem se
existiria um efeito previsto por Einstein, uma curvatura no espao ao
redor desse astro que faria a luz das estrelas se afastarem ou sofrerem
certo dobramento. lgico que nem toda teoria cientfica vai atender a
esse requisito isto , hipteses ou teorias construdas para sanar
lacunas nas ideias cientficas dominantes, que devem ser testveis ou
verificveis pela observao ou experimentao posterior , inclusive
porque os objetos so completamente diferentes. Em todo o caso, trata-
se de uma concepo de cincia (de Popper, inspirada em Einstein) que
valoriza mais a deduo e notadamente processo de uma crtica
permanente, com as conjecturas (ensaios) e as refutaes (erros).
Continuando com a nossa seleo de opinies sobre o mtodo
cientfico, por meio da qual se procura evidenciar que na verdade ele
um mito no no sentido de no haver qualquer mtodo cientfico
(existem vrios) e, sim, pela inexistncia de um mtodo nico ,
apresentamos, agora, o posicionamento de um assumido anarquista
metodolgico, um influente fsico que dialoga com os tericos da
cincia. Segundo o seu ponto de vista:
Ensaios de geografia crtica
17
A ideia de que a cincia pode e deve ser elaborada com
obedincia a regras fixas e universais quimrica e
perniciosa [...] Torna a cincia menos plstica e mais
dogmtica [...] Os cientistas no resolvem problemas por
possurem uma varinha de condo a metodologia ou uma
teoria da racionalidade mas porque estudaram o
problema por longo tempo e conhecem bem a situao,
porque no so tolos (embora caiba duvidar disso hoje em
dia, quando quase qualquer pessoa pode tornar-se um
cientista) e porque os excessos de uma escola cientfica
so quase sempre contrabalanados pelos excessos de
alguma outra escola. Alm disso, os cientistas s
raramente resolvem os problemas; eles cometem erros
numerosos e oferecem, frequentemente, solues
impraticveis [...] Se desejamos compreender a natureza,
devemos recorrer a todas as ideias, todos os mtodos e
no apenas a um nmero reduzido deles. A assero de
que no h conhecimento fora da cincia moderna nada
mais que outro conto de fadas. As tribos primitivas
faziam classificaes de animais e plantas mais minuciosas
que as da zoologia e da botnica de nosso tempo;
conheciam remdios cuja eficcia espanta os mdicos (e a
indstria farmacutica j aqui fareja uma nova fonte de
lucros); dispunham de meios de influir sobre os membros
do grupo que a cincia por longo tempo considerou
inexistentes; resolviam difceis problemas por meios ainda
no perfeitamente entendidos (construo de pirmides,
viagem dos polinsios)
9
.
Enfim, uma posio pluralista ou ps-moderna, na qual no existe
um mtodo unitrio e, sim, um grande nmero deles, que s vezes
podem at ser opostos ou alternativos, mas que funcionam (ou no)
neste ou naquele caso, na resoluo (sempre provisria) deste ou
daquele problema, na constituio de teorias que parecem se ajustar aos
fatos ou pelo menos a uma srie deles. Mtodos nos quais pode-se
9
FEYRABEND, P. Contra o mtodo. Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1977. Os grifos so do
autor.
Jos William Vesentini
18
incluir a aceitao (total ou parcial, dependendo do caso) de saberes
tradicionais, do senso comum, da induo e contra-induo, da deduo
e de experimentos imaginrios, do ensaio e erro, de regras
provisrias e de sua violao como condio para um novo avano, da
filosofia e das artes (por exemplo, literatura, poesia, msica), da
intuio e da criatividade. Como diz o autor, A cincia um
empreendimento essencialmente anrquico [...] O nico princpio que
no inibe o progresso : vale tudo
10
. Um ponto de vista que, mesmo
sem negar a importncia da cincia moderna, relativiza o seu status
como o conhecimento mais nobre ou racional, ou como o nico
saber que deve ser ensinado nas escolas.
No , portanto, o mtodo que define a cincia moderna. Sequer existe
um mtodo cientfico unitrio, como tambm, conforme reafirmou mais
um especialista na filosofia da cincia
11
, no fundo no existe a
cincia no singular a no ser enquanto um conjunto de conhecimentos
objetivos e racionais diferenciados que buscam compreender o mundo
ou a realidade. De fato, existem cincias, no plural, com mtodos
variados, que estudam objetos (que, por sinal, no so fixos e
invariveis; eles variam no tempo, so entendidos de diversas maneiras
e muitas vezes deixam de existir ou se transformam completamente)
relativamente distintos, embora frequentemente sobrepostos, ou
ocupam-se de regies do saber tidas como diferentes.
O que define, ento, a cincia e a cientificidade?
O conhecimento cientfico objetivo e racional. Esta uma afirmao
axiomtica, embora as ideias de racionalidade e de objetividade como
quaisquer outras sejam passveis de discusses
12
. Como afirma com
pertinncia Popper, a tarefa das cincias encontrar explicaes
causais e satisfatrias para qualquer coisa que tenha algum interesse
13
.
evidente que causalidade no deve ser entendida como algo mecnico
10
Idem, grifos do autor.
11
Cf. GRANGER, G.G. A cincia e as cincias. So Paulo, Editora da Unesp, 1994.
12
Cf. CASTORIADIS, C. Reflexes sobre desenvolvimento e racionalidade. In: As
encruzilhadas do labirinto/2. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987; e POPPER, K. Conhecimento
objetivo. Belo Horizonte, Itatiaia, 1999.
13
POPPER, K. Conhecimento objetivo. Op. Cit., p. 182, grifo do autor.
Ensaios de geografia crtica
19
e unilateral, na forma de um raciocnio simplista do tipo causa causa
e consequncia consequncia. Na verdade, a causa, ou na maioria
das vezes as causas que consistem amide num nmero
indeterminado de fatores , pode ser algo probabilstico e no um
fenmeno especfico e totalmente delimitado; e a(s) consequncia(s)
pode(m) virar causa(s) e vice-versa
14
.
Ipso facto, pura fantasia desprovida de qualquer contedo a crena na
existncia de uma lgica dialtica que teria superado o pensamento
racional alicerado na lgica formal e na causalidade. Como afirmou
Edgar Morin, a palavra dialtica tornou-se apenas uma panacia
utilizada para no enfrentar ou obnubilar as dificuldades tericas e
prticas
15
. Outrossim, o mais famoso antroplogo do sculo XX j
tinha arrasado a pretenso de um filsofo (Sartre) de teorizar uma
razo dialtica apartada e superior razo analtica, ao demonstrar
com inmeros exemplos que esse mesmo filsofo como tambm
Marx e Hegel (pelo menos nos trechos onde este no propositalmente
obscuro e especulativo) , para explicar suas ideias, tinha
constantemente feito uso da classificao, da distino, da oposio e
da definio, considerados dentre outros atributos da superada
lgica formal
16
.
Mas explicaes causais e satisfatrias, objetivas e racionais, no
significam definitivas. No existem e provavelmente nunca vo
existir explicaes finais, isto , definitivas. As explicaes
cientficas sempre so aproximaes que explicam melhor, mas nunca
integralmente ou exatamente, um aspecto da realidade. O essencialismo
isto , a crena numa essncia dos fenmenos, que seria captada
por alguma teoria uma doutrina filosfica (de Plato, Hegel, Marx e
outros) e no cientfica
17
. S que no possvel separar com exatido,
demarcando fronteiras rgidas, os conhecimentos cientficos dos
filosficos, daqueles do senso comum, dos saberes de povos
14
Cf. MORIN, E. Introduction La pense complexe. Paris, Seuil, 2005.
15
MORIN, E. Cincia com conscincia. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2003, p. 190.
16
Cf. LEVI-STRAUSS, C. O pensamento selvagem. So Paulo, Cia Editora Nacional, 1976,
captulo 9.
17
POPPER, K. Conhecimento Objetivo, Op.Cit.
Jos William Vesentini
20
tradicionais e de alguns aspectos das artes. Mesmo sendo relativamente
diferentes, todos esses conhecimentos ou saberes se imiscuem, se
influenciam mutuamente, so enfim parcialmente imbricados. Contudo,
isso no significa que a tarefa de definir o que e o que no
cientfico seja intil
18
. Como tambm no significa que procurar
entender algo sem nunca encontrar uma explicao definitiva seja
estril. Se o fosse, seria perda de tempo fazer cincia ou mesmo dar
qualquer explicao racional, pois esta sempre contextualizada e
provisria, ao contrrio dos dogmas que se apresentam como absolutos
e eternos. As explicaes racionais e, em particular, as cientficas so
extremamente teis e amide eficazes, gerando resultados prticos, seja
pela sua aplicao (tecnologia ou ao mais eficiente sobre algo), seja
pelo convencimento, pela sua aceitao como verdade provisria, o que
importante para as regras da sociedade.
Como sistematizou um filsofo da cincia, esta , em primeiro lugar,
uma viso de uma realidade; a busca de uma verdade (relativa), ou
seja, um empreendimento que procura descrever e explicar algo que
supostamente existe, que faz parte de um meta-conceito chamado
realidade; e tambm, assinala, um conhecimento que constantemente
busca uma validao, isto , um confronto permanente da teoria com os
fatos
19
.
Outro autor, num manual onde procura explicitar os cnones de uma
pesquisa cientfica, assinala que a cincia tem quatro requisitos: (1)
um estudo sobre um objeto reconhecvel e definido como tal pelos
outros; (2) um estudo que diz algo novo sobre o objeto, algo que
ainda no foi dito ou uma nova perspectiva para o seu entendimento;
(3) o trabalho deve ser til aos demais pesquisadores ou cientistas da
rea; (4) deve fornecer elementos para a verificao ou comprovao
das hipteses apresentadas, o que significa que ele pode ser continuado
18
Neste ponto discordamos de MORIN, E. Cincia com conscincia, op.cit., que sugere ser
danosa a tentativa de separar, mesmo de forma relativa, a cincia da no cincia. Essa a
principal crtica que ele faz a Popper, autor constantemente mencionado em seus trabalhos.
Se isso fosse verdade, nem teria sentido Morin escrever como de fato escreveu centenas
de pginas explicando o que cincia, em que perodos ela atravessou revolues, quais so
suas relaes com a democracia, com a tecnologia etc.
19
GASTON-GRANGER, G. Op.Cit.
Ensaios de geografia crtica
21
de alguma maneira refutado total ou parcialmente, prosseguido com
novas contribuies etc.
20
.
Em resumo, as cincias consistem num conjunto extremamente
heterogneo. Elas no so iguais, sequer semelhantes em que pese o
fato de que, por princpio, todas buscam compreender racionalmente
algum aspecto do real, do mundo, de tudo o que existe afinal. Mas a
prpria realidade diversificada, heterognea, multifacetada, passvel
de ser perscrutada neste ou naquele aspecto com princpios ou lgicas
distintos. Basta atentarmos para a coexistncia do determinismo com o
indeterminismo, do acaso com a necessidade, da ordem com o caos.
Podemos at especular se a unidade que conferimos ao real no
apenas uma crena, um produto de nossas mentes. lgico que no se
est advogando algum tipo de idealismo que denega a existncia de
uma realidade exterior. Mas nada garante que esse real ou realidades
seja algo unvoco. Acreditamos que o construtivismo
epistemolgico
21
representa uma ultrapassagem da antiga querela entre
os realistas ou materialistas e os idealistas. Nem o mundo produto de
nossas mentes e nem uma realidade externa que se impe a ns, como
se fosse algo que apenas observssemos de fora, num sobrevo. Num
certo sentido, so as duas coisas concomitantemente, ou melhor, uma
sntese das duas. Na verdade, o mundo ou o real que s apreendemos
pelas nossas teorias, nossas imagens, nosso conhecimento enfim
construdo pelo intelecto humano, embora no no sentido de ser uma
fantasia, de no existir fora deste, mas, sim, pelo fato de s dispormos
de aproximaes e nunca verdades exatas ou uma correspondncia
perfeita entre as coisas e as nossas representaes. Sei que muitos
argumentam que os cometas ou o relevo de uma rea, ou os gases na
atmosfera, ou outro fenmeno qualquer existem objetivamente. Mas
so as nossas teorias que constituem a cincia, o conhecimento
cientfico, e no os pretensos fatos ou coisas que povoam o mundo
externo. Ademais, inmeros aspectos da realidade ou do mundo so
objetos inventados por ns, pela sociedade, pelos pesquisadores, pelos
20
ECO. U. Como se faz uma tese. So Paulo, Perspectiva, 2000, 15 reimpresso.
21
Cf. HABERMAS, J. A tica da discusso e questo da verdade. So Paulo, Martins Fontes,
2007.
Jos William Vesentini
22
vencedores de determinados embates (polticos ou intelectuais) etc. Por
exemplo: os juzos de justo ou de verdadeiro, de certo ou de errado; as
leis e as normas sociais; os fatos histricos (que na verdade so
selecionados e reinterpretados pelos investigadores e nunca algo cuja
objetividade e importncia est alm de qualquer discusso); as regies
geogrficas (idem); as instituies sociais; os nmeros e os teoremas
matemticos; as regras lgicas e por a afora. Avaliando pelas teorias
cientficas, que afinal de contas constituem em mdia a melhor
perscrutao que a humanidade dispe para a explicao desse mundo
objetivo, dessa realidade, foroso constatar que muitas vezes elas so
contraditrias, no formando uma totalidade coerente e articulada.
Mesmo assim elas so operacionais ou eficazes, e do conta, cada uma
sua maneira, pelo menos durante algum tempo, do entendimento e at
da ao sobre os fenmenos aos quais se referem.
As cincias no vivem apenas no mundo das teorias. Elas se enrazam
na sociedade, da qual dependem e so parte integrante. De forma mais
especfica, elas se materializam nas universidades e nos institutos de
pesquisas e de fomento atividade cientfica e, eventualmente, nos
setores governamentais ligados defesa e ao militarismo.
Indubitavelmente, existe nesse mundo social e acadmico uma clara
hierarquia com cincias mais nobres, ou supervalorizadas, ocupando
o topo de uma pirmide, e as plebias ou depreciadas, que ficam na
base dessa figura geomtrica. Fazendo uma analogia com os Estados
nacionais, existem cincias centrais e perifricas, desenvolvidas e
subdesenvolvidas. Poucas delas servem de modelo para o que se
denomina cientificidade a fsica, em primeiro lugar, seguida pela
astronomia, qumica e biologia; a matemtica tida como uma
linguagem da cincia. So as cincias desenvolvidas ou as
verdadeiras cincias no entendimento da parcela majoritria dos
epistemlogos. Em contrapartida, um nmero bem maior de disciplinas
psicanlise, pedagogia, histria, cincia do direito, cincias da
comunicao, criminologia, entre outras, alm da geografia e mais
ainda da geopoltica so taxadas de subdesenvolvidas ou perifricas
(isso na melhor das hipteses), de embries de cincia ou at, algumas
vezes, catalogadas como no cincias ou pseudocincias.
Ensaios de geografia crtica
23
Exemplos dessa atitude so incontveis. Aquele que provavelmente foi
o mais clebre epistemlogo do sculo XX, aps definir cientificidade,
proclamou de forma taxativa que tanto a psicanlise como todas as
formas de saber das cincias humanas (sociologia, economia,
histria...) que utilizam o materialismo histrico carecem desse
atributo, ou seja, no so cientficas
22
. Um especialista em filosofia da
cincia assinalou que bastante claro, realmente, que os saberes
sociolgicos ou psicolgicos, econmicos ou lingusticos, no podem
pretender, em seu estado presente e passado, ter a solidez e a
fecundidade dos saberes fsico-qumicos, ou at biolgicos. Logo em
seguida ele se pergunta: Em que sentido, porm, lcito atribuir-lhes o
nome de cincias?
23
. Inclusive o autor de quem extramos alguns
trechos como epgrafe deste ensaio admite que, quando fala em cincia,
se refere principalmente fsica:
Privilegiei a fsica porque evidente que ela uma cincia
cannica, a primeira das cincias; ela que se considerou
uma cincia completa, que tratou ao mesmo tempo do real
e do universo, que executou um movimento extraordinrio
porque, quando achava ter atingido a perfeio,
bruscamente perdeu seus fundamentos [...] Portanto, a
fsica interessante porque pe no estado mais puro, mais
exemplar, todos os problemas da cientificidade
24
.
At mesmo um ferrenho defensor da cientificidade nas cincias
humanas embora sempre enfatizando que elas, pela peculiaridade de
seus objetos, no podem almejar o mesmo grau de objetividade e
sistematizao das cincias da natureza acredita piamente que nada
mais so do que cincias novas
25
. Um socilogo francs de prestgio
assinalou que as disciplinas acadmicas formam uma pirmide do
ponto de vista do seu prestgio e status; segundo ele, a geografia ocupa
na hierarquia acadmica uma posio bem abaixo da ocupada pela
22
POPPER, K. El desarrollo del conocimiento cientfico. Op. Cit.
23
GASTON-GRANGER, G. Op. Cit.
24
MORIN, E. Cincia com Conscincia, p. 71.
25
JUPIASSU, H. Introduo s cincias humanas. So Paulo, CNPq/Letras & Letras, 1994.
Jos William Vesentini
24
economia
26
. E aquela que de longe a mais conceituada premiao do
avano cientfico no mundo, o prmio Nobel, seleciona somente as
conquistas realizadas pela fsica, qumica e fisiologia ou medicina;
esses que so os prmios cobiados e de maiores prestgios o hall
da fama, como se diz. Os demais prmios chamados de Nobel da
paz, de literatura e de economia so considerados secundrios, com
menor prestgio e, no caso da economia, surgiram depois e margem
da Fundao Nobel da Sucia.
No a premiao o que nos interessa. Tampouco o status social das
cincias ou mesmo das disciplinas acadmicas. (Duas coisas distintas:
nem toda disciplina acadmica uma cincia; mas este no um
assunto que valha a pena abordar aqui e agora). Afinal, qualquer
concesso de prmios ou lureas, por melhor que seja o processo de
escolha, sempre subjetiva e discriminante. E o status social de uma
cincia, de uma tecnologia ou mesmo de uma profisso depende
fundamentalmente do seu maior ou menor sucesso financeiro e
tambm, de forma complementar, do seu poder no sentido de mando ou
tomada de decises sobre a vida das pessoas ou sobre os recursos
econmicos , o que pouco tem a ver com reais conquistas cientficas.
O que importa aqui discorrer sobre a periferizao da geografia, uma
cincia que, nos albores da revoluo cientfica, foi um saber de
vanguarda, ocupando junto com a astronomia e a fsica (bem mais que
a qumica, bem mais que a biologia) uma posio central no conjunto
das cincias. Prosseguindo com o nosso paralelo com o
desenvolvimento desigual das naes, no absurdo afirmar que a
geografia, neste aspecto, tem semelhanas, digamos, com Portugal
27
.
Esse pequeno pas ibrico estava na vanguarda da expanso martimo-
comercial europia do sculo XV poderamos mesmo dizer,
respaldados no historiador Paul Kennedy, que era uma grande potncia
26
BORDIEU, P. O poder simblico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1998.
27
Esta comparao aleatria e to somente metafrica. Ela no deve ser levada a srio em
demasia. Poderamos tomar outros exemplos de pases que conheceram um declnio relativo
no sistema internacional, mas o caso de Portugal nos parece interessante pelo seu intenso
brilho no incio da expanso martimo-comercial europia que resultou na criao de um
mundo unificado. Tambm a geografia conheceu o seu maior brilho, pelo menos at o
momento, no perodo de nascimento da cincia moderna.
Ensaios de geografia crtica
25
mundial
28
e que, nos sculos seguintes acabou se transformando num
Estado perifrico ou atrasado. A geografia tambm esteve na vanguarda
das cincias. Nos sculos XVI e XVII perodo da revoluo
cientfica, moderna com Coprnico, Bruno, Kepler, Bacon e
principalmente Galileu , a geografia integrava as matemticas e
desempenhou um importante papel na constituio de um novo mundo
(com os descobrimentos, uma nova viso da superfcie terrestre e uma
nova cartografia) e na formao da chamada Scienza Nuova
29
. Dois
estudiosos da histria do pensamento geogrfico assinalaram que:
A geografia teve um papel destacado na revoluo
cientfica do sculo XVII, que assentou as bases da cincia
moderna. Alguns dos problemas importantes da poca
tinham que ver com a estrutura, forma e magnitude da
Terra. Os tratados sobre a esfera terrestre se viram
afetados pela discusso e triunfo da concepo
copernicana, que exigiu a elaborao de uma nova
geografia que levasse em conta os movimentos da Terra e
seus efeitos nos diversos lugares do globo. As travessias
por grandes oceanos haviam colocado novos problemas
para a navegao [...]
30
.
O que ocorreu? Primeiro, temos que lembrar que equivocada aquela
imagem de um Estado (ou um saber) como eternamente desenvolvido
ou, ento, perifrico isto , ele sempre o foi e sempre o ser. A
histria, de uma forma geral tanto a poltica, a econmica, a militar
ou mesmo a cultural e a da tecnologia (nas quais se inclui, como um
captulo especial, a histria das cincias) , plena de reviravoltas e
surpresas. Tudo sofre mudanas, tudo se transforma, mesmo que, s
vezes, uma determinada situao perdure por sculos. Os Estados, por
exemplo, podem deixar de existir; ou novos deles, inclusive com traos
completamente diferentes, podem surgir. No incomum que eles
ganhem ou percam terras, parcelas do seu territrio. Isso tambm
ocorre com as cincias ou os saberes no sentido amplo do termo. A
28
KENNEDY, P. Ascenso e queda das grandes potncias. Rio de Janeiro, Campus, 1989.
29
KOYR, A. Do mundo fechado ao universo infinito. So Paulo, Edusp, 1979.
30
CAPEL, H. e URTEAGA, L. Las nuovas geografias. Barcelona, Salvat, 1988.
Jos William Vesentini
26
geografia perdeu grande parte do seu antigo territrio, ou melhor, do
seu campo de estudos. Boa parcela dos contedos ou objetos atuais
da astronomia, da geologia, da geofsica, da antropologia, da economia
e at da botnica, faziam parte das cincias geogrficas durante sculos,
mais de dois mil anos, desde a Grcia antiga (quando surgiu a palavra
geografia, que sistematizou um ramo do saber, com Eraststenes no
sculo III a.C.) at por volta do sculo XVIII. Esse processo, na
verdade, continua a ocorrer: como mostrou Bordieu
31
, a partir do
momento iniciado nos anos 1930 em que o planejamento regional
se tornou importante, gerando um enorme volume de recursos
financeiros, alm de prestgio poltico e social, os economistas
passaram a se apropriar do objeto regio, que antes era exclusivo da
geografia. (A tradio geogrfica no estudo das regies vem no mnimo
desde Estrabo, que viveu provavelmente no sculo I a.C. e criou a
expresso geografia regional). Mais recentemente, a nova e
promissora rea das cincias geogrficas, os Sistemas de Informaes
Geogrficas (os SIGs ou GIS, Geographic Information System), passou
a ser quase que totalmente controlada por engenheiros e fsicos. Se
servir de consolo, pode-se lembrar que tal fato no ocorreu nem ocorre
apenas com a geografia. algo relativamente comum com o avanar do
conhecimento, o qual, afinal de contas, no um processo evolutivo e
linear, tal como a (falsa) imagem popular de uma escada com os
degraus que vo subindo por etapas, mas, sim, processos, no plural,
onde h rearranjos, recomposies, parecendo mais um caleidoscpio
do que um filme
32
.
As cincias no constituem, como pretendia Comte com o seu
positivismo clssico, estudos separveis por fronteiras tangveis, tendo
cada uma o seu objeto de estudos bem delimitado
33
. Mesmo com a
ocorrncia de uma crescente especializao a partir do sculo XVII e
mais ainda no sculo XIX , as cincias continuam a ser imbricadas,
31
BORDIEU, P. Op. cit.
32
Cf. as brilhantes anlises de FOUCAULT, M. Arqueologia do saber. Rio de Janeiro,
Forense/universitria, 1986; e tambm a interpretao do historiador Paul VAYNE. Foucault
revoluciona a Histria. Braslia, Editora da UNB, 1982.
33
Cf. VERDENAL, R. A filosofia positivista de Augusto Comte. In: CHTELET, Histria da
Filosofia, volume 5, p. 212-46.
Ensaios de geografia crtica
27
continuam pelo menos em parte a estudar os mesmos objetos sob
diversas perspectivas, com frequentes invases do terreno da outra (o
que gera inegveis avanos, para horror dos positivistas) e, muitas
vezes, at roubando parcelas deste. A filosofia, por exemplo, apesar
de hoje no se considerar nem ser considerada pela comunidade
acadmica como uma cincia
34
, j foi tida como a grande cincia, a
cincia mais nobre de todas nas palavras de Plato. Isso antes do
advento da cincia moderna, que afirmou a necessidade de confrontar
as teorias com os fatos e engendrou uma crescente diviso no trabalho
intelectual e de pesquisas. A prpria fsica, na poca de Aristteles, era
vista como um ramo da filosofia. Por sinal, durante muito tempo a
fsica physik, em grego, que significa natureza era o estudo de toda
a natureza, orgnica ou inorgnica, abrangendo temas que hoje so
objetos da qumica e at da biologia. A lgica, que durante sculos foi
parte da filosofia, no transcorrer do sculo XX tornou-se cada vez mais
uma especializao da matemtica. Tambm a pedagogia vem
enfrentando uma crescente apropriao de parte do seu campo de
estudos (e, principalmente, de atuao nos setores mais lucrativos ou de
maior prestgio, em especial a poltica educacional), com a recente
valorizao do ensino como alicerce indispensvel para o
desenvolvimento econmico e social. Cada vez mais, economistas e
outros profissionais que, como diria Bordieu, ocupam posies
hierrquicas na academia e na sociedade superiores s da pedagogia,
vem se apossando das decises e dos cargos mais importantes na rea
educacional. Isso ocorre em praticamente todos os pases do mundo
(pelo menos naqueles que efetivamente possuem uma poltica
educacional) e at mesmo nas organizaes internacionais como a
ONU, o Banco Mundial ou a UNESCO. Exemplos como esses
poderiam ser multiplicados. Mas o que interessa agora refletir sobre o
caso da geografia. Essa reflexo, contudo, malgrado suas
especificidades, perpassa a questo da cientificidade nas cincias
humanas.
Longe de serem cincias novas uma ideia baseada na descoberta de
Foucault de que o homem ou a populao um objeto de estudos
34
Cf. DELEUZE, G. e GUATTARI, F. O que filosofia? So Paulo, Editora 34, 2000.
Jos William Vesentini
28
relativamente recente na histria do Ocidente, pois foi construdo nos
sculos XVIII e XIX , as cincias humanas (ou pelo menos uma parte
delas: a histria, a politicologia, a geografia
35
) tm uma longa e rica
tradio que remonta Grcia antiga. Basta pegarmos algumas anlises
ou escritos de Estrabo
35b
, que, sem dvida, continuam relativamente
atuais. evidente que os lugares ou os povos analisados mudaram
radicalmente, ou deixaram de existir. Mas boa parte da metodologia
de conhecimento in loco, observaes sistemticas, entrevistas e
inquritos com pessoas da regio etc. prossegue vlida, assim como a
perspiccia nas observaes. No caso da histria, basta dar uma espiada
na Histria da guerra do Peloponeso, escrita no sculo V a.C, para
comprovarmos que muitas interrogaes que perpassam a obra (sobre a
distino entre fatos e interpretaes, por exemplo) ainda so
pertinentes
36
. No tocante anlise da vida poltica, quando relemos o
livro Poltica, de Aristteles, que viveu no sculo IV a.C., logo
percebemos que a distncia at ns no to grande. Sentimos certa
estranheza com os conceitos aristotlicos de monarquia, aristocracia (e
seu contrrio, oligarquia) e democracia, mas perfeitamente possvel
apreender o seu raciocnio arguto e at aceitar (mesmo que
parcialmente) o seu ponto de vista. Mais ainda quando ele se refere
necessidade de uma boa distribuio da terra, principal riqueza da
poca, para existir uma forma de governo equilibrada e justa, sem
grandes conflitos sociais
37b
.
Inclusive, perfeitamente possvel utilizar esses textos clssicos nos
cursos atuais de graduao ou ps-graduao em diversas reas das
35
Estou colocando neste conjunto a geografia consciente dos problemas e polmicas a esse
respeito. Sem dvida que durante sculos a geografia era mais ligada s matemticas (e
astronomia) do que histria, apesar do fato de que alguns autores de obras ou reflexes
geogrficas (Herdoto, Estrabo) foram ao mesmo tempo historiadores e at antroplogos.
Mas certo que, no transcorrer do sculo XX, principalmente na sua segunda metade, a
geografia acabou se firmando cada vez mais como uma cincia humana e social (apesar dos
protestos de alguns poucos na rea da geografia fsica).
35b
STRABO. The Geography of Strabo. Loeb Classical Library edition, 1917, disponvel in
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/ (capturado em maro de
2009).
36
. TUCDIDES. Histria da guerra do Peloponeso. Braslia, Editora da UNB, 2001.
37
ARISTTELES. Poltica. Braslia, UNB, 1985.
Ensaios de geografia crtica
29
cincias humanas. No que eles sejam manuais no sentido de terem
os conceitos ou as teorias corretos. Isso no existe, pelo menos no
nas cincias humanas e na filosofia, sequer no livro mais recente do
mais conceituado especialista; sempre polemizamos qualquer obra e
relativizamos qualquer compndio. Mas eles continuam a suscitar
reflexes e debates, apresentam problemas ainda relevantes. Em
contrapartida, praticamente ningum vai utilizar um texto de Aristteles
ou de qualquer outro clssico da antiguidade num curso de fsica,
qumica ou biologia. (A no ser que seja um curso de histria da
cincia, mas este tipo de estudo no uma cincia natural). Na
matemtica isso seria possvel, mas no nas cincias naturais. Nestas
seria extemporneo ou mesmo burlesco. O prprio campo de estudos da
fsica, por exemplo os seus objetos, o que inclui os conceitos e as
teorias , daquela poca praticamente nada tem em comum com o que
hoje estudado. Os saberes so completamente diferentes: a fsica, a
qumica e a biologia foram, de fato, reinventadas ou reconstrudas a
partir dos sculos XVII e XVIII com a prtica da experimentao (que
os antigos e os medievais desconheciam ou no aceitavam), com o
heliocentrismo e a teoria da gravitao universal e, posteriormente, nos
sculos XIX e XX, com a teoria da evoluo e a gentica, com a
relatividade especial e a geral, com a mecnica quntica etc. Da se
falar em cincia moderna a partir do sculo XVII, em contraposio
cincia (ou saberes) clssica ou tradicional.
Essa revoluo cientfica no ocorreu embora tenha exercido um forte
impacto nas cincias humanas. Por esse motivo, at hoje
extremamente difcil embora no impossvel, ao menos em termos
ideais, isto , o que deveria ser um estudo filosfico em
contraposio a um cientfico sobre tal ou qual tema (democracia,
modernidade, globalizao, crise ambiental etc.) separar com preciso
a filosofia das cincias humanas. Em contrapartida, bem menos
problemtico diferenciar a filosofia das cincias naturais. Aqui, as
diferenas de abordagem em praticamente qualquer tema (por exemplo,
no que o universo, a Terra, o espao e o tempo, os quanta etc.) so
colossais, so perceptveis primeira vista at mesmo para um leigo.
Na verdade, foram principalmente as cincias naturais que se apartaram
de forma crescente e visvel dos saberes tradicionais, da filosofia, a
Jos William Vesentini
30
partir do sculo XVII. Nas cincias humanas, em grande parte, isso
ainda no ocorreu, pelo menos no de forma inequvoca. E talvez
quem sabe? nunca v ocorrer. Afinal, os objetos que estudam no
comportam a experimentao, a rgida formalizao e tampouco
explicaes causais unvocas
38
.
certo que muitas cincias novas surgiram no sculo XIX, em sua
quase totalidade procurando se espelhar na metodologia, na
sistematizao e em alguns conceitos e teorias das cincias da natureza.
Pode-se mencionar, entre outras, a sociologia (que, no incio, com o seu
fundador, Auguste Comte, pretendia ser uma fsica do social), a
antropologia, a lingustica, a cincia do direito, a criminologia, a
cincia poltica (que, na viso de muitos, foi fundada por Maquiavel no
sculo XVI
39
) e at a economia (a qual, na verdade, teria sido forjada,
na sua forma moderna, no sculo XVIII , seja com os fisiocratas, seja
com Adam Smith). Mas, devido aos seus objetos no fundo, o homem,
a humanidade em algum de seus atributos, em geral as suas obras e
atividades mais abstratas: economia, idiomas, regras e leis, cultura,
instituies , elas nunca alcanaram o grau de formalizao
(matematicidade, leis ou teorias que podem ser expressas em frmulas
e, principalmente, que so testveis) das cincias naturais. Ao contrrio
do que imaginam alguns, os preconceituosos ou de viso estreita, isso
no decorre de uma incapacidade dos investigadores nas cincias
38
Foi exatamente por esse motivo que, h mais de cem anos, Wilhelm Dilthey e outros
propuseram diferenciar as cincias da natureza e as do esprito. Naquelas existiriam
explicaes e nestas compreenso. As explicaes estariam ligadas experimentao, ideia
de certezas (mesmo que relativas), a uma causalidade menos problemtica. E a compreenso,
por sua vez, seria composta por leituras ou interpretaes da a valorizao da hermenutica
que nunca vo esgotar o objeto estudado.
39
FOUCAULT, M., nas suas aulas ministradas em 1978 no Collge de France (Segurana,
Territrio, Populao, So Paulo, Martins Fontes, 2008), questiona essa ideia mesmo sem
negar a importncia da obra de Maquiavel e, principalmente, a sua enorme popularidade. A
tradio na qual se inscreve O Prncipe (ela no foi a primeira nem a ltima obra do perodo
com essa preocupao de ensinar ao governante como conquistar ou manter seu principado),
segundo Foucault, caracteriza uma relao de exterioridade entre o prncipe e a sociedade. A
anlise poltica moderna e ainda atual, por outro lado, s teria sido iniciada a partir do final do
sculo XVIII com as novas ideias de populao (que passa a ser o objetivo ltimo do governo
no lugar do principado, que era mais identificado com o territrio) e de economia poltica,
com seus objetivos de bem-estar, crescimento da riqueza nacional etc.
Ensaios de geografia crtica
31
humanas, isto , da falta de um gnio (um Einstein, um Newton ou
um Darwin) que as revolucionasse. Nada disso. Mesmo com a noo de
QI sendo questionada hoje, em especial a partir da descoberta das
mltiplas inteligncias, no temos dvidas de que existiram e existem
inmeros cientistas sociais com elevadssimo nvel de inteligncia
(tanto lgico-matemtica como lingustica, passando pela musical,
espacial, interpessoal, emocional etc., alm de um grau de criatividade
e criticidade provavelmente superior ao encontrvel entre os cientistas
da natureza
40
), que, mesmo assim, no conseguiram ou no puderam
engendrar novas e revolucionrias teorias tais como as dos genes, dos
quanta ou da relatividade. Principalmente teorias testveis, que tm
aplicao prtica e geram uma tecnologia avanada, como so essas
mencionadas teorias das cincias naturais. Inclusive, h o exemplo de
vrias eminncias indiscutveis at alguns prmios Nobel em suas
reas (fsica, medicina, qumica ou matemtica) que migraram para a
filosofia ou para as cincias humanas e, de forma aparentemente
inexplicvel, nunca conseguiram reproduzir as suas descobertas ou
teorias indiscutivelmente inovadoras nestas ltimas reas do
conhecimento.
Albert Einstein mencionou em algumas entrevistas que, quando era
jovem, tinha o sonho de tornar-se gegrafo. Quando escolheu um curso
superior, com relutncia optou pela fsica e no pela geografia
segundo ele, porque esta seria mais difcil e exigiria muitas viagens
para conhecer os lugares, algo que demandaria tempo livre e recursos
financeiros
41
. Ao tomarem conhecimento deste fato, muitos estudantes
40
Digo isso no por algum tipo de preconceito ou de bazfia e, sim, pelo bom senso. Assim
como provvel que boa parcela das pessoas que possuem uma inteligncia fsico-cinestsica
mais desenvolvida procure se dedicar aos esportes (desde que as condies sociais e pessoais
o permitam, evidentemente), tambm os que tm uma maior inteligncia musical tendem a
se dedicar s artes, e aqueles com maior esprito crtico, de uma forma geral (sempre h
excees), se identificam mais com a filosofia e/ou com as cincias humanas.
41
No se pode esquecer que, no final do sculo XIX, a imagem do gegrafo identificava-se
bastante com Alexander von Humboldt, tido como o grande nome da cincia na primeira
metade desse sculo na segunda metade, Darwin, que na juventude havia sido um
admirador de Humboldt, ocupou o lugar de modelo exemplar de cientista, ou melhor, de
naturalista. Humboldt, oriundo de uma famlia prussiana aristocrtica e abastada, foi um
incansvel viajante e nunca trabalhou no sentido moderno do termo, ou seja, nunca exerceu
Jos William Vesentini
32
ingnuos lamentam ter sido a geografia privada de um gnio que iria
produzir neste campo do saber algo semelhante s duas teorias da
relatividade. Um juzo no fundo popular, todavia singelo, que no
atenta para o fato de que as inovaes no dependem tanto das pessoas
como do contexto ou das oportunidades. No que pairem dvidas sobre
a genialidade desse cientista, isto , a sua imensa criatividade e o seu
altssimo grau de inteligncia lgico-matemtica. De mais a mais, ele
se dedicava quase integralmente aos estudos, e gostava disso, fatos que
so importantssimos s vezes mais at que os nveis de inteligncias
ou de criatividade. Talvez, como gegrafo, ele contribusse bastante
para este ramo do conhecimento, mas, sem dvida, que aqui ele no
poderia dar origem a uma revoluo semelhante que operou na fsica.
Sabemos serem, em grande parte, as circunstncias que fazem o
personagem, inclusive os gnios
42
. A fsica estava amadurecida, isto ,
pronta para ser revolucionada no final do sculo XIX e incios do XX.
Mas a geografia no. Uma poca da profunda reformulao na
geografia j tinha ocorrido dos sculos XV ao XVII, outra menos
espetacular no sculo XIX esta ltima, na verdade, foi mais uma
reduo e redefinio do campo de estudos com uma nova
sistematizao. Felizmente para ele e talvez para toda a humanidade,
Einstein optou pela fsica, pois quase certamente na geografia (como
tambm na histria, na sociologia etc.) no poderia gerar tamanho
impacto como o que produziu na concepo e metodologia da cincia
fsica, na descoberta da energia contida na massa, no entendimento do
sistema espao-tempo e do universo; muito menos algo como abrir
caminho para a energia nuclear e para os armamentos atmicos.
Convm recordar que o espao geogrfico no o espao-tempo da
qualquer atividade remunerada. Ele viajava e pesquisava, escrevia livros e, eventualmente,
dava alguma palestra somente pelo prazer de expor suas ideias. Quando seu irmo mais
velho, Wilhelm, fundou a Universidade de Berlim e, depois de algum tempo, o convidou para
formar um departamento de geografia, o primeiro no mundo, Humboldt declinou da tarefa e
indicou o nome de Karl Ritter.
42
HEIDEGGER, M. (Ser e Tempo. Petrpolis, Vozes, 1989, Parte II) afirmou que um gnio
surge quando uma sociedade necessita, em tempos de grande perigo. Em geral, isso vlido
para toda a histria do conhecimento, pois quando as circunstncias esto favorecendo (o que
inclui as demandas sociais, o impasse das velhas teorias, que j no explicam aspectos da
realidade, as condies materiais e institucionais favorveis para o avano do saber etc.) que
surgem ou pelo menos so aceitas e incorporadas as ideias novas e revolucionrias.
Ensaios de geografia crtica
33
fsica relativstica. Estamos falando, aqui, do espao de uma cidade ou
meio rural, do territrio de um Estado, do lugar de vivncia de uma
comunidade. evidente que existem certas relaes ou possveis
similaridades entre esses espaos. Por exemplo, a tridimensionalidade
da localizao absoluta no espao geogrfico, algo banal e conhecido
h sculos, pode ser enriquecida pela proposio do tempo como uma
quarta dimenso. Mas isso, no fundo, no nenhuma novidade, pois
os estudos clssicos j mostravam as mudanas na paisagem ou num
determinado lugar com o transcorrer do tempo, assim como as marcas
desta ou daquela poca nos aspectos material e cultural dessa paisagem.
Tempo que na fsica uma coisa Einstein gostava de afirmar que, no
fundo, o tempo uma iluso
43
; e na histria, na geografia ou na
psicologia, ou mesmo na medicina, outra coisa diferente. Na fsica
relativstica, o tempo uma mera dimenso um aspecto ou uma
medida do espao. (Por exemplo: a idade o universo depende da
sua extenso; e viajando no espao, que curvo, a uma velocidade
superior da luz possvel retornar ou avanar no tempo). Mas nas
cincias humanas, em geral, o tempo existncia (individual ou
coletiva), a nossa vida com seus acontecimentos e obras; , no fundo,
irreversvel, nico e irrepetvel.
A fortiori, relaes ou possveis similaridades no significam uma
identificao total, ou seja, uma subsuno do espao geogrfico no
espao-tempo da fsica; tampouco a subsuno do tempo histrico ao
tempo reversvel da fsica relativstica
44
. Apesar de os gegrafos, em
geral, terem uma clara e injustificada ojeriza pela concepo de
dualidade (como se isso fosse apenas um mal-entendido ou uma
incapacidade de integrar duas coisas), na fsica mais avanada se
admite a existncia de uma dualidade na mecnica quntica entre onda
43
Frase repetida com concordncia por HAWKING, S. Uma nova histria do tempo. Rio de
Janeiro, Ediouro, 2005. Tambm lembrada por PRIGOGINE, I. O fim das certezas. So Paulo,
Editora da Unesp, 1996, embora neste caso o autor procure relativiz-la (no denegar
totalmente e, sim, limitar o seu alcance) com a afirmao de que tambm existem eventos
irreversveis.
44
Desde pelo menos Heiddeger, os fenomenolgicos e existencialistas em geral, alm de
outros filsofos e cientistas sociais, afirmam que o tempo humano no o tempo da fsica
inaugurada por Einstein. No que um esteja certo e o outro errado. Nada disso: cada um deles
adequado ao entendimento da realidade qual se refere.
Jos William Vesentini
34
e partcula. Nas noes sobre o espao, ou espaos, existe no apenas
dicotomia, mas no mnimo tricotomia: o espao na fsica diferente do
da geografia, que diferente do da psicologia etc. A bem da verdade, a
palavra espao ambgua e possui significados variados, algo que
muitas vezes gera confuso tal como na escrita de alguns autores, que
apregoam estarem levando em conta um espao relativstico
45
quando, na verdade, esto praticando um mero jogo de palavras que
acarreta pouco ou nenhum avano no conhecimento da realidade.
Esse tipo de retrica vazia, onde pretensamente se utiliza no
conhecimento do social os conceitos ou proposies da fsica
relativstica, da mecnica quntica, do teorema de Gdel ou da teoria
do caos, frequente em alguns poucos, embora normalmente
famosssimos autores da filosofia e das cincias humanas em geral,
conforme demonstraram com inmeros exemplos dois fsicos de
renome
46
. No se trata de denegar o valor das anlises desses autores,
algumas vezes ricas e originais. (Embora, em geral, predominem os
discursos prolixos e sofsticos). O importante no confundir o leitor,
sugerindo que se est aplicando conceitos avanados da fsica ou da
matemtica quando, na verdade, se escreve a respeito de uma realidade
completamente diferente. Seria possvel fazer analogias entre as
diversas realidades, isso sim, mas no sugerir que o mesmo conceito ou
teoria utilizvel no mundo social e histrico. Como assinalaram os
dois mencionados fsicos, esses conceitos ou teorias da matemtica e da
fsica no se referem de forma alguma sociedade e, quando eles so
empregados na sua anlise, inevitavelmente incorre-se numa distoro,
num uso errneo e inadequado
47
.
Na geografia mesmo tornou-se comum, pelo menos no Brasil, tanto em
artigos e livros como em teses acadmicas, repetir a definio segundo
a qual espao uma acumulao desigual de tempos como se fosse
alguma novidade e um grande avano frente ao espao
45
Cf. HARVEY, D. Explanation in Geography. Londres, Edward Arnold, 1969.
46
SOKAL, A. e BRICMONT, J. Imposturas intelectuais. Rio de Janeiro, Record, 2006.
47
SOKAL, A. e BRICMONT, J. Op. cit.
Ensaios de geografia crtica
35
(tridimensional) newtoniano
48
. Ora, em primeiro lugar essa definio
to somente reproduz, com outras palavras, uma das concepes de
Kant a respeito do espao: para esse filsofo, adepto manifesto da fsica
newtoniana, o espao mostraria, em suas marcas, em seus objetos, a
ao do tempo nos seus diversos momentos
49
. Em segundo lugar, a
referncia a Einstein e sua concepo de espao-tempo encontra-se
completamente deslocada ou fora de lugar nessa caracterizao do
espao geogrfico com os seus lugares e paisagens enquanto vivncia
e/ou como trabalho e relao interpessoal e com a natureza. Isso fica
mais patente ainda quando recordamos que, para Einstein, o tempo se
define a partir do espao (e no o inverso, tal como nas grandes
filosofias do sculo XIX: hegelianismo, marxismo e positivismo
clssico), ao passo que, nessa definio, o espao subordina-se ao
tempo, passa a ser uma expresso material uma instncia deste.
Enfim, no estamos preocupados se o espao-tempo relativstico foi ou
no bem entendido e aplicado; isso seria praticamente um novo tipo de
escolstica. Queremos apenas realar que so realidades variadas e
nada se ganha a no ser em prolixidade e, para os tolos, uma sensao
de estar acompanhando uma teoria avanada da fsica com essa
identificao do espao geogrfico (ou o tempo histrico) com o
espao-tempo de Einstein.
De fato, o mundo histrico e social diferente do fsico, e mesmo na
fsica existem alteridades nos objetos estudados pela microfsica as
partculas subatmicas e a realidade maior do universo. A crena
metafsica numa s realidade, com uma nica lgica para todos os seus
aspectos ou todo o universo, infelizmente fortssima nas cincias
humanas (e mais ainda na geografia), muitas vezes gera uma espcie de
mimetismo, uma pattica tentativa de imitar conceitos da fsica
avanada que mais atrapalha do que ajuda no entendimento da
48
Cf. SANTOS, M. Por uma geografia nova. So Paulo, Hucitec, 1979. O autor introduz essa
definio aps a seguinte afirmao: A concepo de um espao relativo [...] em oposio
de espao continente (container) supe, em primeiro lugar, que se abandone a ideia de um
espao tridimensional, herdeira da filosofia de Newton, e que se passe a trabalhar com a ideia
de um espao quadrimensional, tarefa possvel desde que Einstein introduziu um novo
pensamento na fsica e na filosofia.
49
Cf. KANT, I. Geografia Fisica. Bergamo, Leading Edizione, 2004.
Jos William Vesentini
36
realidade. Nesse sentido, concordamos com a seguinte observao de
um importante filsofo greco-francs:
Como escreveu Norbert Wiener, o sucesso da fsica
matemtica tornou o homem das cincias sociais ciumento
da sua potncia, sem que ele compreenda verdadeiramente
as atitudes intelectuais que contriburam para isso.
Exatamente como tribos primitivas adotam modas
ocidentais de roupa cosmopolita e de parlamentarismo a
partir de um vago sentimento de que essas vestimentas
ridculas e esses ritos mgicos os levaro diretamente ao
nvel da cultura e da tcnica modernas, assim tambm os
cientistas sociais forjaram-se o hbito de vestir de modo
ridculo as suas ideias, a bem dizer imprecisas, da
linguagem do clculo infinitesimal. A razo desse
fracasso clara: so escassos os aspectos dos fenmenos
sociais que satisfazem s condies da teoria matemtica
50
.
Ipso facto, o carter irreversvel, original e nico dos fenmenos
histrico e sociais e tambm dos lugares na geografia talvez seja o
elemento essencial para entendermos a especificidade das cincias
humanas, suas diferenas qualitativas frente s cincias da natureza e as
dificuldades que elas possuem para formalizar, para tratar tudo ou
quase tudo como nmeros e frmulas. Por isso, a economia, entre todas
as cincias do homem, a que mais se aproxima, embora com enormes
diferenas, do modelo da fsica. Os fenmenos econmicos produo
de bens e servios, que podem ser medidos em termos monetrios,
dinheiro, mercadoria, trocas comerciais etc. se prestam mais ao
agrupamento, generalizao e quantificao do que os
acontecimentos histricos ou os lugares geogrficos. Mas falamos em
diferenas qualitativas, que, sem dvida, decorrem dos objetos
estudados, e no atraso ou mesmo em juventude, como apregoam
alguns.
Convm recordar que tambm existe algo importantssimo a
originalidade do ser humano, em especial o seu livre arbtrio e sua
50
CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do labirinto/1. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.
Ensaios de geografia crtica
37
racionalidade. Racionalidade definida, de forma simplificada, como
capacidade de avaliar e julgar as coisas, de ponderar suas causas e
consequncias. E o livre arbtrio, de forma complementar e inseparvel
da racionalidade, enquanto autonomia ou capacidade de decidir
livremente. ( bvio que as condies sempre exercem a sua
influncia, s vezes decisiva. Portanto, livremente deve ser entendido
no como liberdade total e absoluta, que no existe para nada ou para
ningum, e, sim, como no condicionamento puro e simples pelo meio
e/ou pela natureza biolgica, na medida em que existe algo chamado de
conscincia racional junto com certa margem de opes). A
racionalidade e o livre-arbtrio do ser humano produzem esta
capacidade de reelaborar as coisas, inclusive a prpria sociedade e o
prprio comportamento, o que implica em transformar radical e
constantemente o seu meio (cultural ou ambiental), algo que, lato
sensu, conhecido como histria. Isso resulta numa diferena
qualitativa fundamental das cincias do homem frente s cincias
naturais, pois naquelas o sujeito ao mesmo tempo objeto e nunca uma
coisa que pode ser vista como externa, que pode ser manipulada em
laboratrio ou testada com certa margem de exatido em experimentos
controlados.
Dessa forma, outra distino fundamental entre as cincias da natureza
e as da humanidade a possibilidade da experimentao, sem dvida o
fator essencial na ecloso da revoluo cientfica moderna. A
experimentao reproduz fenmenos na fsica, na qumica e na
biologia, fazendo com que eles possam ser conhecidos e medidos com
preciso, algo que possibilita uma formalizao e at mesmo certa
previsibilidade. Sem dvida que h diversidades entre, por exemplo, a
fsica do universo, na qual se faz previses praticamente exatas sobre a
trajetria dos cometas, em comparao com a biologia, que
normalmente convive com o acaso. Contudo, deixando de lado suas
inmeras variedades, podemos dizer que essas cincias formam um
conjunto no qual, bem ou mal, existe uma grande margem de
formalizao e previsibilidade. Nas cincias humanas em geral salvo
excees como determinados objetos na demografia ou na psicologia,
cincias do homem que so em parte biolgicas , isso no possvel.
Como reproduzir em laboratrio, num experimento com as condies
Jos William Vesentini
38
controladas, uma revoluo, uma crise mundial ou um lugar geogrfico
especfico? No possvel porque eles so nicos, originais e em parte
imprevisveis, alm de possurem uma abrangncia gigantesca com
milhares ou milhes de atores envolvidos, cujas aes se entrecruzam.
Isso sem contar com as questes ticas e jurdicas contidas nos
experimentos que envolvem seres humanos. Mesmo fatos
aparentemente semelhantes tais como as revolues denominadas
socialistas: a russa de 1917, a chinesa de 1949 ou a cubana de 1959;
ou ento a crise econmica mundial de 1929, que segundo alguns teria
se repetido no final de 2008 , na verdade, possuem diferenas
significativas. Cada situao especfica e at mesmo as generalizaes
que fazemos por exemplo, falar em revolues burguesas e
socialistas, ou em crises econmicas, ou mesmo em regio no sentido
geogrfico do termo sempre so questionveis: em qualquer caso ser
possvel demonstrar que a situao X alter, completamente
diferente das situaes Y ou Z, tambm classificadas no mesmo grupo
ou conceito. Via de regra, nem mesmo possvel examinar com
mincias os fenmenos estudados pelas cincias humanas num
microscpio ou num telescpio, pois, alm de sua abrangncia, eles so
singulares e no repetveis, com comportamentos que variam muito no
tempo e no espao, bem diferentes daqueles dos cometas, dos ventos,
das bactrias e de outros objetos materiais no humanos.
Evidentemente que as generalizaes so possveis, assim como os
conceitos que abrangem um nmero indefinido de casos ou situaes.
Sem isso, seria at mesmo duvidoso falar em cincias humanas ou
sociais. Mas cada situao social e histrica, ou lugar geogrfico,
especfico e estudar as suas peculiaridades algo que faz parte das
cincias do homem.
As cincias sociais, de uma forma geral, so tidas como perifricas
frente s da natureza. lgico que, assim como no mundo
subdesenvolvido existem Estados mais perifricos e outros nem tanto,
alm daqueles casos difceis de serem classificados, tambm existe um
amplo espectro de situaes variadas na hierarquia das cincias. A
economia, por exemplo, est mais bem posicionada do que a
pedagogia, a sociologia ou a geografia. No que ela seja vista como
uma cincia indiscutvel e modelar, tal como a fsica, e, sim, que
Ensaios de geografia crtica
39
desfruta um maior conceito na sociedade e na academia por vrios
motivos. Primeiro, a importncia do seu campo de estudos, a riqueza
material, na sociedade capitalista. Segundo, a prosperidade de seus
membros: os economistas, em mdia, ganham mais dinheiro, logo
possuem maior status social do que os historiadores, gegrafos,
socilogos ou pedagogos. Por fim, em funo do fato de que os
temas/conceitos da cincia econmica se prestam mais formalizao
do que a quase totalidade dos objetos das demais cincias humanas. Em
contrapartida, a geografia quase sempre vista com reticncias, seja
principalmente nas cincias naturais (onde alguns, ligados geografia
fsica, pretendem que seja o seu lugar) ou at mesmo nas cincias
humanas. Entramos, aqui, no terreno da especificidade epistemolgica
da geografia.
As anlises epistemolgicas sobre a geografia, de uma forma geral, so
incipientes e dbeis. Os grandes nomes da teoria do conhecimento, a
partir do final do sculo XIX, praticamente nunca mencionam esta
cincia. como se ela no existisse enquanto disciplina cientfica.
Algumas vezes, eles isto , autores como Popper, Carnap, Ayer,
Bunge, Whitehead, Reichenbach, Lakatos ou Feyrabend mencionam
a sociologia ou a economia, raras vezes a histria como disciplina
cientfica (embora frequentemente faam referncias s mudanas
histricas), mas nunca a geografia. Tambm os filsofos importantes
que refletem sobre as cincias, vistas de regra ignoram a geografia. Um
recente e volumoso manual universitrio norte-americano de filosofia,
por exemplo, dedica dezenas de pginas para a filosofia da histria, o
mesmo tanto para a filosofia da matemtica, para a do direito, da
linguagem e at das cincias sociais, mas no se refere geografia
sequer neste ltimo tpico
51
. Salvo engano, somente uma nica obra
relevante em termos internacionais editada nas ltimas dcadas sobre a
filosofia das cincias destinou um captulo geografia. Trata-se da
coletnea Histria da Filosofia, organizada por Franois Chtelet que,
no seu volume 7, inclui um artigo sobre essa temtica
52
. Fica patente,
51
BUNNIN, N. e TSUI-JAMES, E. P. (Org.). Compndio de Filosofia. So Paulo, Loyola, 2003.
52
LACOSTE, Yves. A Geografia, in CHTELET, F. (Org.). A filosofia das cincias sociais.
Volume 7 da coleo Histria da filosofia. Rio de Janeiro, Zahar, 1974, p. 221-74.
Jos William Vesentini
40
todavia, que foi uma exceo motivada por amizade de dois professores
universitrios franceses, o filsofo organizador da coleo e o gegrafo
convidado para escrever o artigo. Como se trata praticamente de um
resumo ou uma espcie de rascunho do livro que o gegrafo editaria
logo em seguida
53
, no descabido supor que ele tenha comentado
sobre essa obra em andamento advindo da o convite para compor essa
coletnea. Uma exceo que praticamente confirma a regra: a quase
total omisso da geografia nas reflexes epistemolgicas e filosficas
sobre as cincias desde, pelo menos, o final do sculo XIX.
Entretanto, at meados do sculo XIX isso no ocorria. Basta recordar
dos escritos de Montesquieu, no sculo XVIII, que, na verdade,
construiu uma filosofia (poltica) a partir da geografia. Ou do maior
filsofo do conhecimento desde a revoluo cientfica moderna at pelo
menos os primrdios do sculo XX, Kant, que lecionou uma disciplina
chamada geografia fsica durante 48 semestres na universidade de
Knigsberg, entre 1756 a 1796, e incluiu a geografia na sua teoria das
cincias. Inclusive, pode-se afirmar que o principal alicerce terico-
epistemolgico desta disciplina prossegue sendo a filosofia kantiana
com a assero de que o campo de estudos da geografia o espao dos
seres humanos. Essa ideia mais aceita hoje do que a concepo de
Humboldt e Ritter, os quais, influenciados pelo romantismo
54
, insistiam
na harmonia entre a humanidade e a natureza. (So duas coisas
relativamente diferentes que, por vezes, os gegrafos confundem.
Estudar a harmonia ou mesmo as relaes entre a humanidade e
natureza no o mesmo que estudar o espao da sociedade humana.
Boa parte dos gegrafos que adota esta ltima postura nos dias de hoje
ignora completamente a natureza em si e considera to somente o
espao social). Inclusive, esses dois gegrafos germnicos do sculo
XIX leram e absorveram, em parte reproduziram, inmeras ideias de
Kant, embora no entendimento do campo de estudos da geografia eles
53
LACOSTE, Y. La gographie, a sert, dabord, faire la guerre. Paris, Franois Maspero,
1976. Neste livro, o autor praticamente reproduz, com ligeiras alteraes e acrscimos, o
contedo daquele ensaio citado na nota anterior.
54
Sobre a influncia do romantismo em Ritter e particularmente em Humboldt, veja-se os
dois primeiros captulos de CAPEL, H. Filosofa y cincia en la geografa contempornea.
Barcelona, Barcanova, 1981.
Ensaios de geografia crtica
41
tenham sofrido uma forte influncia do esprito cientfico moderno
isto , da necessidade de confrontar a teoria com os fatos, de perscrutar
o mundo emprico e do romantismo alemo da sua poca. Essa
sensvel presena de Kant at os dias atuais no nenhum demrito
para a geografia. Inmeros grandes nomes da teoria do conhecimento
no sculo XX foram ou so neokantianos: Cassirer, Gadamer, Dawkins,
Piaget e vrios outros. As ideias de Kant influenciaram enormemente a
sociologia de Max Weber, a antropologia de Franz Boas, a
fenomenologia de Husserl e de Heidegger e at mesmo a epistemologia
de Karl Popper. Para Kant, a histria seria o estudo da humanidade no
tempo, e a geografia seria esse estudo no espao. Seriam duas cincias
especiais e complementares, ambas sinpticas ou sintticas (ao
fazerem uso de elementos de vrias outras cincias) e, em grande parte,
idiogrficas, embora a histria sob um ponto de vista cronolgico ou
temporal e a geografia numa perspectiva corolgica ou espacial. Elas
seriam diferentes das cincias sistemticas, as quais, em tese, estudam
algum fenmeno especfico sem grandes preocupaes com o tempo e
o espao, tal como a fsica, a qumica, a biologia, a pedagogia etc.
Essa interpretao foi reproduzida pelos dois grandes nomes da
epistemologia geogrfica no sculo XX: Alfred Hettner e Richard
Hartshorne. E continua atual, sendo implicitamente admitida at pelos
que dizem ter superado o espao newtoniano atravs da incorporao
do espao quadrimensional (alguns falam at numa quinta dimenso,
que seria o cotidiano!) da fsica relativstica. Tanto os neopositivistas
como os marxistas, os fenomenolgicos e os ps-modernos, todos eles
pensam o tempo e o espao de forma newtoniana e kantiana, isto ,
separadamente, a partir do que a geografia estudaria a humanidade sob
um prisma espacial. Mas h variedades. Os neopositivistas, por
exemplo, exorcizam a noo de cincia idiogrfica. Afirmando que
toda e qualquer cincia tem que ser nomottica, eles procuram construir
leis ou teorias gerais que dem conta da espacialidade de alguma
atividade humana. Um labor digno de Ssifo, pois esbarra na referida
originalidade, no carter nico e irrepetvel dos fatos histricos e
geogrficos. A teoria dos sistemas foi o instrumental metodolgico que
mais fez avanar esse tipo de abordagem na cincia geogrfica;
contudo, ela muito mais eficaz e deu seus melhores frutos na
Jos William Vesentini
42
geografia fsica e no na humana. J os marxistas enfatizam a noo de
produo do espao. Como esto utilizando uma filosofia que denega o
espao em funo do tempo, da histria, assumem a rdua e talvez
infrutfera tarefa de complementar o materialismo histrico com a
incluso do espao geogrfico, advindo da um insosso materialismo
histrico e geogrfico. Os fenomenolgicos procuram perscrutar como
os seres humanos percebem ou se identificam com o espao, ou melhor,
com os lugares. No fundo, eles no conseguem ir alm do relativismo.
Os ps-modernos so pluralistas e utilizam, em maior ou menor grau,
elementos de todas as trs correntes do pensamento anteriores, alm de
incorporarem ideias ou preocupaes do anarquismo, do feminismo, de
Nietzsche, de Foucault etc. Mas, de fato, nenhum deles logrou superar
completamente a herana kantiana. No por algum tipo de incapacidade
intelectual e, sim, porque o nosso tempo ainda no o permite.
Continuamos a vivenciar, nas cincias humanas e mesmo em nosso
cotidiano, o espao e o tempo separados, apesar de que todo momento
s tenha concretitude no espao e todo lugar seja marcado por uma
temporalidade. Tempo e espao so interligados, inclusive inseparveis
na prtica, na existncia dos fenmenos histricos ou geogrficos. Mas
so distintos e entendidos de forma separada e at oposta nos estudos,
nas pesquisas, nas cincias humanas enfim.
Um impasse dessa epistemologia kantiana, que em grande parte ainda
norteia a legitimao cientfica da geografia, certa idealizao da
realidade e, portanto, das cincias que a estudam por diferentes vieses.
S se pode admitir a existncia de cincias sistemticas no mundo
fsico e, em parte apenas, no biolgico. Sem dvida, a fsica e a
qumica, em suas teorias e conceitos fundamentais, no precisam da
referncia ao tempo e ao espao: o hidrognio ou os tomos, as reaes
qumicas ou as foras fsicas (gravitacional, eletromagntica, nuclear
fraca e forte), todos esses fenmenos so semelhantes hoje ou a 4
bilhes de anos, tanto aqui na Terra como numa galxia situada a
bilhes de anos-luz de distncia. No necessrio determinar temporal
e espacialmente esses fenmenos para explic-los. Mas, nas cincias
humanas (as cincias biolgicas ficam numa posio intermediria),
no existem, de fato, conceitos e teorias sistemticas, isto , atemporais
e independentes do lugar, de uma sociedade ou uma cultura especfica.
Ensaios de geografia crtica
43
por isso que todas as cincias sociais so, ao mesmo tempo,
histricas e geogrficas. Histricas, pelo fato de terem que levar em
conta, necessariamente, a historicidade ou temporalidade dos
fenmenos; e geogrficas, na medida em que todos os objetos que
estudam variam enormemente no espao, ou seja, so diferentes em
funo do lugar onde se situam diferenas que, no fundo, decorrem
de sociedades e culturas distintas, sem esquecer, evidentemente, que
determinados traos de uma cultura possuem ntimas relaes com o
meio fsico no qual ela se desenvolveu.
Destarte, no possvel pensar um conceito abstrato de classe social,
ou de sistema escolar, de produo econmica, de Estado ou mesmo de
poder poltico, sem estabelecer profundas diferenas entre o que
significam esses conceitos nesta e naquela sociedade, neste ou naquele
momento da histria. Diferenas por vezes incomensurveis. Tanto que
inmeros autores afirmam que, no fundo, no possvel haver um
conceito nico de Estado, ou de poltica, de status social, de educao
etc. Foucault, por exemplo, mostrou cabalmente que o que se entendia
na antiguidade grega por medicina, por sexualidade ou por educao
(poderamos acrescentar: por geografia) so coisas bem diferentes do
nosso entendimento atual. Por vezes, malgrado o nome em comum,
trata-se de objetos completamente distintos. Tais diferenas,
fatalmente, devem ser levadas em conta pelas cincias humanas.
Normalmente, elas so maiores no tempo do que no espao, ou pelo
menos so percebidas dessa forma pela filosofia e pelas humanidades.
Da uma maior valorizao da histria pelas cincias sociais, isto ,
uma nfase muito maior nas diferenas suscitadas pelo tempo histrico.
Na verdade, as cincias sociais proclamam abertamente a sua
historicidade: so disciplinas que amide e explicitamente dizem
ponderar sobre o tempo histrico com as suas transformaes. Mas,
dificilmente elas apregoam a sua geograficidade: isso parece ser visto
como algo inferior ou sem importncia.
Foucault foi provavelmente o primeiro autor a escrever sobre essa
depreciao do espao em prol de uma temporalidade supervalorizada.
Segundo ele, essa nfase na dimenso temporal, na histria,
concomitante com uma desvalorizao do espao, teria se dado no
Jos William Vesentini
44
sculo XIX a partir da ideia de revoluo social
55
. Uma noo ou um
projeto de revoluo social que se tornou dominante a partir da
Revoluo Francesa.
Creio que se pode acrescentar, de forma complementar, que tambm o
mito do progresso contribuiu para essa nfase no tempo, nas mudanas
temporais, em detrimento das diferenas espaciais. Esse mito do
progresso pressupunha um continuum infinito na histria humana
percebida como realizaes sucessivas que vo tornando superadas as
condies do passado. o mais e mais ilgico e antiecolgico a que
se refere Castoriadis num brilhante ensaio sobre o tema: o mito de um
progresso material que sempre utiliza mais recursos naturais, mais
gua, mais solos agriculturveis, maiores conquistas sobre a natureza
enfim
56
. Nesse mito, o espao algo inerte, identificado mais com o
universo infinito do que com o nosso espao geogrfico finito; o tempo,
por outro lado, o locus privilegiado das mudanas. Poderamos,
talvez, acrescentar que tambm a teoria da evoluo contribuiu, mesmo
sem pretender (pelo menos essa nunca foi uma inteno de Darwin),
para essa percepo do tempo ou melhor, da histria como o lugar
por excelncia das mudanas e das transformaes sociais e at
naturais. Todos se recordam da ideia simplista de Marx por sinal, um
obstinado adepto do progresso e com a declarada pretenso de produzir
no reino do social o mesmo impacto obtido por Darwin no reino da
natureza segundo a qual S existe uma cincia, a cincia da
histria, que poderia ser dividida em histria da sociedade e histria
da natureza
57
.
Essa percepo, reiteramos, foi tributria da Revoluo Francesa e de
uma de suas sequelas: toda uma srie de interpretaes ou teorias da
histria autodefinidas como revolucionrias anarquistas, positivista,
marxista, socialistas utpicas que se seguiram a esse evento. Como
no podia deixar de ser, tambm essa revoluo, em grande parte,
decorreu ou pelo menos contou com a inspirao de toda uma srie
55
FOUCAULT, M. Microfsica do Poder. Rio de Janeiro, Graal, 1979, p. 212.
56
CASTORIADIS, C. Reflexes sobre desenvolvimento e racionalidade. Op. Cit.
57
MARX, K. e ENGELS, F. A ideologia alem. So Paulo, Livraria e Editora Cincias Humanas,
1979.
Ensaios de geografia crtica
45
de proposies igualitrias ou comunistas (palavra que deriva das
comunas to comuns na Idade Mdia), que se multiplicavam desde o
sculo XVI a partir de autores como Thomas Morus ou Jean-Jacques
Rousseau, alm de outros
58
. No transcorrer dessa revoluo, ou depois
dela, surgiram as doutrinas anarquistas e socialistas a palavra
socialismo foi inventada por Pierre Lerroux em 1832. Na verdade,
foram continuaes, com nuanas, das ideias utpicas de Plato e
Thomas Morus, e tambm dos juzos de Rousseau e outros, segundo os
quais a propriedade privada a origem dos males sociais, os
indivduos nascem bons e a sociedade os corrompe etc. Esses ideais
so igualitrios e louvveis. Bem ou mal, eles serviram de inspirao
para grandes mudanas sociais que construram a democracia moderna.
Entretanto, eles possuem um vis autoritrio na medida em que
encerram propostas de implantao de um novo modelo, apriorstico,
de governo ou de sociedade. Neste, os indivduos tero que se ajustar a
regras que no foram por eles escolhidas, as quais no podem mudar,
pois seriam teoricamente universais, encerrando o modelo ideal de
sociedade, o qual fruto da mente de algum pensador, mesmo que
este afirme que deduziu objetivamente esse esquema da anlise do
mundo ou da histria.
Essas ideias se tornaram hegemnicas nas cincias humanas.
Inquestionavelmente, elas representaram um inegvel avano no
conhecimento do social. Contudo, via de regra, elas ignoram o espao,
as diferenas territoriais entre os povos ou lugares, os quais, no fundo,
quase sempre so diferenas culturais e sociais. Mas especificidades
culturais e sociais, repetimos, tambm forjadas a partir da interao do
social com o natural, com o seu espao ou territrio, tendo-se em vista
sua localizao relativa, seus recursos naturais e como eles foram
aproveitados etc. Imaginam apenas, ou principalmente, mudanas
derivadas basicamente do tempo, da histria. como se a humanidade
e, no fundo, tambm a natureza fosse basicamente uma s, com
uma trajetria em comum. Como se as sociedades, em todos os lugares,
com pequenas variaes, tivessem que passar por etapas ou
58
Cf. MOSCA, G. e BOUTHOUL, G. Histria das doutrinas polticas. Rio de Janeiro, Zahar,
1967.
Jos William Vesentini
46
estgios semelhantes. Como se tivessem um futuro pr-determinado e
unvoco. Com isso, o espao fica anulado, torna-se um simples palco
inerte para os acontecimentos. Em outras palavras, ele passa a ser um
mero quadro fsico, negligencivel em face de sua pouca relevncia,
sem de fato implicar em diferenas significativas tanto na natureza
quanto, principalmente, nas sociedades; as mudanas ocorreriam
essencialmente na histria, esta, sim, vista como um campo de lutas e
alternativas
59
. Como afirmam at mesmo alguns gegrafos, o espao
seria o corpo do tempo ou da histria, numa leitura organicista na
qual o que importa no indivduo a conscincia, o seu livre arbtrio e,
principalmente, as suas aes, sendo secundrios os traos corporais.
As diferenas espaciais seriam apenas um detalhe, um mero atraso
relativo de alguns lugares frente a outros, em suma, algo que a
dinmica essencialmente temporal tenderia a desmanchar ou a
homogeneizar. Como ironizou Foucault, o tempo seria dialtico, rico
e fecundo, enquanto o espao seria conservador, antirrevolucionrio e
identificado com o status quo
60
.
Um extraordinrio problema epistemolgico da geografia que as
cincias sociais foram construdas ou reconstrudas, a partir do sculo
XIX, com essa perspectiva essencialmente histrica. E o projeto
unitrio da geografia foi pensado a partir de uma filosofia kantiana e
tambm, como j mencionamos, romntica anterior e/ou
relativamente isenta dessa desvalorizao do espao. Um projeto que
consiste num conhecimento cientfico, inspirado no parmetro
empirista da cincia moderna, que se prope a unir o estudo da
59
Esse vis j se encontra em HEGEL, G. W. F. Lecciones sobre la filosofia de la historia
universal. Madrid, Alianza Editorial, 1982. Nesse ambicioso livro publicado postumamente em
meados do sculo XIX, h uma primeira parte intitulada os fundamentos geogrficos da
histria universal, na qual o autor comenta sobre a influncia do espao na histria. Mesmo
tendo sido em parte influenciado pela leitura de Montesquieu, e tambm de Kant, Humboldt
e Ritter, Hegel desvaloriza o espao, a geografia, em prol de uma dialtica essencialmente
temporal e inter-humana, sendo que as condies geogrficas representam apenas obstculos
ou possibilidades que o esprito humano pode e deve superar. Existe a uma percepo
espacial mstica: da mesma forma que o Sol nasce no Oriente e se pe no Ocidente, seria
neste lugar na Europa, mais especificamente que o esprito tomaria conscincia de si,
enfim, que a histria iria se realizar ou completar.
60
FOUCAULT, M. Op. Cit.
Ensaios de geografia crtica
47
humanidade (geografia humana) com o estudo da natureza-para-o-
Homem (geografia fsica) sob um prisma espacial ou territorial, isto ,
do meio ambiente (natural e cultural) ou das paisagens formadas pela
interao entre a humanidade e a natureza. Um projeto que logo se
chocou tanto com o desenvolvimento das cincias da natureza quanto
tambm com essa viso essencialmente histrica das cincias sociais.
Com as cincias naturais, porque estas logo abandonaram a ideia de
elaborar um estudo integrado do meio fsico (justamente este era o
principal objetivo de Humboldt, que pretendeu fundar uma geografia
fsica, na verdade, um estudo sinttico ou integrado do clima com o
relevo, com os solos, com a vegetao, com as guas etc)
61
.
Era o antigo ideal grego para a fsica, entendida como a cincia da
natureza, abandonado ou deixado de lado a partir da mecnica de
Galileu prosseguida com Newton, Einstein etc. , que passou a
estudar somente o mundo fsico visto como apartado da qumica, da
biologia, da hidrologia, da oceanografia e de outras cincias da
natureza. Humboldt pretendeu, num certo sentido, retomar esse projeto
embora pensando mais na natureza-para-o-Homem, nas paisagens
enfim, nas quais haveria uma harmonia no conjunto formado pelos
elementos naturais e com as quais as comunidades humanas viveriam
adaptadas ou em simetria. Mas retomar esse projeto foi uma ideia
utpica numa poca, em pleno sculo XIX, em que as cincias da
natureza j haviam se compartimentado e se expandiam cada vez mais
de forma autnoma, com as novas teorias na biologia, especficas e
separveis da fsica, com novas proposies na qumica, na geologia
etc. Um projeto ambicioso e holstico para uma poca analtica, na qual
61
A realizao mais importante de um estudo racional da natureza apreender a unidade e
harmonia que existe nessa imensa acumulao de foras [...] A tentativa de decompor em seus
diversos elementos a magia do mundo fsico plena de riscos porque o carter fundamental
de qualquer paisagem e de qualquer lugar imponente da natureza deriva da simultaneidade
de ideias e de sentimentos que suscita no observador. A Fsica do Mundo que procuro expor
[...] uma Geografia Fsica unida descrio dos espaos celestes [...] um ensaio sobre o
Cosmos fundado sobre um empirismo equilibrado, ou seja, sobre um conjunto de fatos
registrados pela cincia e submetidos ao de um entendimento que compara e combina.
(HUMBOLDT, A. Cosmos. Ensayo de una descripcion fsica del mundo. In: MENDOZA, J. G.,
JIMNEZ, J. M. e CANTERO, N. O. El pensamiento geogrfico. Madrid, Alianza, 1982, p. 159-
67).
Jos William Vesentini
48
separar e analisar as partes em mincias tornou-se a essncia da
pesquisa e do conhecimento em praticamente todas as cincias. Um
projeto no fundo destinado ao fracasso ou, de forma mais amena, a ser
negligenciado e at menosprezado nas cincias naturais. Um projeto
visto com desconfiana nas cincias humanas porque incorporava as
influncias do meio fsico, algo considerado reacionrio numa poca
em que predominava o ideal de revoluo social feita exclusivamente a
partir do intelecto humano (mesmo que apoiado no desenvolvimento
das foras produtivas, processo no qual a natureza s entra enquanto
recurso inerte).
Como a geografia, com esse projeto holstico e, ao mesmo tempo,
utpico e romntico, no fundo extemporneo, conseguiu sobreviver
mesmo que s duras penas? Acredito que, primeiro, porque j era um
saber clssico, de longa tradio na verdade milhares de anos e h
tempos ensinado pelos preceptores ou pelas raras escolas que existiam
at o sculo XIX (as civis e as militares, devido importncia
estratgica dos conhecimentos geogrficos). Recordemos, novamente,
que um dos maiores pensadores do sculo XVIII, Kant, durante vrias
dcadas foi professor de uma disciplina intitulada geografia fsica,
sendo que as anotaes de suas aulas foram editadas em seis livros e
serviram como material de apoio at para Humboldt, apesar da visvel
falta de trabalho de campo e de dados empricos originais ou s vezes
sequer confiveis
62
.
Depois, e principalmente, porque ela se tornou uma disciplina escolar
numa poca em que ocorreu uma enorme expanso na verdade, uma
construo ou inveno dos sistemas nacionais de ensino. A partir do
sculo XIX, os Estados nacionais europeus e, em seguida, o resto do
mundo precisavam formar um nmero cada vez maior de professores
de geografia, e, com isso, houve tambm a sobrevivncia desta cincia
62
KANT. Geografia Fisica. Bergamo, Leading Edizione, 2004. Utilizamos esta edio italiana,
a nica que encontramos aps uma demorada pesquisa em bibliotecas e em livrarias on-line,
em trs volumosos tomos (cada um com 600 pginas), mas a edio original, em alemo, de
1807-11. Humboldt cita muito esta obra de Kant, embora, como bom naturalista e algum
antenado com o esprito indutivo da cincia do seu tempo, ele buscou separar a especulao
(muito comum no filsofo germnico) dos dados empricos que coletou em suas viagens e
observaes in loco.
Ensaios de geografia crtica
49
na academia, apesar de mal tolerada pelas cincias naturais e at
mesmo pelas humanidades
63
. Mesmo que isso horrorize grande parte
dos gegrafos, notadamente os que teorizam a histria do pensamento
geogrfico (que quase sempre se inspiram no modelo idealizado da
evoluo da matemtica ou da fsica
64
), temos que reafirmar este fato
elementar: que a partir do final do sculo XIX, e durante todo o sculo
XX, a geografia sobreviveu nas universidades principalmente porque
havia se tornado uma disciplina obrigatria no sistema escolar. to
somente uma constatao e no uma depreciao. Cabe, ainda, deixar
claro que esse fato no diminui o valor da geografia para a sociedade e
tampouco invalida sua cientificidade, pois j vimos que esta no
consiste num padro unvoco e, sim, numa pluralidade de
conhecimentos racionais, obtidos a partir de mtodos variados, sobre
aspectos do real ou do mundo.
Retornando novamente nossa analogia das cincias tidas como
secundrias com os pases perifricos, temos que lembrar que, entre
outras coisas, estes sofrem uma carncia de capitais, de investimentos
produtivos. Isso tambm ocorre com as referidas cincias, que sempre
dispem de poucas verbas em comparao quelas vistas como
centrais. Alguns falam at em big sciences (as pesquisas que so vistas
como estratgicas ou potencialmente lucrativas, que recebem
investimentos milionrios) em contraponto s small sciences (as
63
Cabe recordar que a mais prestigiosa universidade do mundo, Harvard, fechou o seu
departamento de geografia aps a Segunda Guerra Mundial, perodo em que ocorreu uma
grande retrao desta disciplina acadmica, com fechamento de cursos ou reduo de vagas,
nas principais universidades do pas. S recentemente, a partir dos anos 1990, com a volta da
disciplina escolar geografia no ensino bsico, em primeiro lugar (e tambm, secundariamente,
com a crescente aceitao de um princpio holstico que busca derrubar as barreiras entre as
diversas cincias), que algumas universidades norte-americanas voltaram a abrir ou ampliar
seus cursos de geografia.
64
um modelo que, no fundo, no corresponde totalmente realidade nem na matemtica
e muito menos na fsica, embora elas sirvam de inspirao, no qual as teorias cientficas vm
primeiro e determinam a prtica, isto , a tecnologia, as aplicaes e inclusive o seu ensino.
Esse vis unilateral no v que muitas vezes no ensino, ou em qualquer outro tipo de
prtica, que as teorias so forjadas. E tambm no percebe que o ensino no se resume
transmisso dos rudimentos das cincias, mas tem outros objetivos como desenvolver no
educando a sociabilidade e a criatividade, o esprito crtico, a capacidade de pensar por conta
prpria etc.
Jos William Vesentini
50
cincias ou modalidades de pesquisas tidas como de pouca relevncia,
que recebem minguadas verbas)
65
. Nessa classificao, sem dvida que
a geografia como tambm a histria, a sociologia, a antropologia etc.
so includas entre as small sciences. Os gastos aqui, mesmo nos
pases mais ricos, so contados em no mximo milhares de dlares,
enquanto, nas big sciences, eles atingem a casa dos milhes ou at dos
bilhes de dlares. Na pesquisa fsica, por exemplo, foi construdo
recentemente, na Europa, um super-acelerador de partculas, o LHC
(Large Hadron Collider), com um custo estimado de 9 bilhes de
dlares. Essa uma quantia dezenas de vezes maior que o total de
todos os investimentos dedicados s cincias humanas desde meados do
sculo XIX at os dias de hoje! E apenas um experimento fsico
obviamente com provveis aplicaes tecnolgicas. Embora seja um
mega-projeto, quase uma exceo, existem ainda vrios outros com
gastos bastante dispendiosos: s o telescpio Hubble, j considerado
obsoleto, custou U$ 2,5 bilhes na sua construo, sem contar os
volumosos gastos com a sua manuteno; o projeto Apollo,
implementado durante 13 anos, custou cerca de U$ 23 bilhes; e vrias
outras pesquisas nas cincias naturais desde o projeto genoma at um
acelerador de partculas construdo em 1999 no Texas demandaram
oramentos na casa dos bilhes de dlares. evidente que esses
investimentos em pesquisas das big sciences sempre encerram
perspectivas de ganhos (econmicos ou militares) com aquisio de
tecnologia. Afinal de contas, so dispndios compreensveis, que bem
ou mal ampliam o conhecimento humano. No so gastos absurdos
apesar de alguns duvidarem de sua eficcia em comparao com um
nmero bem maior de investimentos na pesquisa de base
66
. No se
questiona aqui esse enorme volume de recursos em determinadas
pesquisas ou exploraes fsicas, qumicas e biolgicas, mesmo que
eventualmente elas possam resultar em armamentos mais letais. O que
se evidencia a descompassada diferena de tratamento entre as
cincias, com algumas delas a geografia, a histria, a sociologia, a
65
LINTON, J.D. Why big science has trouble finding big money and small science has
difficulties finding small money. In: Technovation, vol.28, issue 12, december 2008, p. 799-
801.
66
BROAD, W.J. Big Science: is it worth the price? In: The New York Times, 27/05/1990.
Ensaios de geografia crtica
51
antropologia e at a pedagogia recebendo somente algumas migalhas.
Nesse sentido, elas de fato so cincias perifricas. E vo continuar a
ser por um bom tempo, pois o desenvolvimento de um ramo do
conhecimento depende bastante embora no apenas, pois afinal de
contas existem inegavelmente determinadas temticas (inclusive alguns
falsos problemas) nas quais despender milhes ou bilhes de dlares
seria pura perda de tempo e de preciosos recursos do volume de
investimentos empregado nas suas pesquisas.
Como o mundo moderno continua e provavelmente vai continuar
ainda por um longo perodo a ser o mesmo, isto , o mundo dos
Estados-naes com as suas rivalidades, do desenvolvimento material
como escopo bsico, da recriao das desigualdades internacionais,
sociais, regionais e at cientficas (no sentido j apontado de disciplinas
privilegiadas, ao lado de outras menosprezadas), nada indica que a
periferizao da geografia seja algo cujo final esteja prximo. Oxal o
otimismo dos adeptos do paradigma da complexidade, como Edgar
Morin, torne-se realidade e, com isso, as cincias de pretenso
holstica, como a geografia, sejam de fato revalorizadas. Talvez isso
seja apenas um sonho, uma utopia irrealizvel. Ou talvez acabe por
ganhar concretitude com a crise da modernidade, com o esgotamento
de um modelo de desenvolvimento antiecolgico e gerador de
excluses, com a crise, enfim, de um padro de pensamento que
desvaloriza o espao em prol do tempo, que se recusa a ver as obras
humanas cultura, economia, instituies sociais como parte
indissocivel da evoluo da me-Terra.
Jos William Vesentini
52
53
Controvrsias geogrficas: epistemologia e poltica
*
O passado traz consigo um ndice misterioso, que o impele
redeno. Pois no somos tocados por um sopro do ar
que foi respirado antes? No existem, nas vozes que
escutamos, ecos de vozes que emudeceram? No tm as
mulheres que cortejamos irms que elas no chegaram a
conhecer? Se assim , existe um encontro secreto, marcado
entre as geraes precedentes e a nossa [...] Articular
historicamente o passado no significa conhec-lo como
ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma
reminiscncia, tal como ela relampeja no momento de um
perigo. A histria objeto de uma construo cujo lugar
no o tempo homogneo e vazio, mas um tempo saturado
de agoras. (WALTER BENJAMIN).
A histria das cincias plena de conflitos, polmicas, alternativas que
se contrapuseram num determinado momento. Talvez, esse seja
exatamente o mago do desenrolar de um saber: os contextos de
indeterminao, de caminhos ou alternativas plurais que se enfrentam e
suscitam um andar, menos ou mais acelerado, neste ou naquele sentido.
O avano do conhecimento, em especial o cientfico, no se faz to
somente com a descoberta de novos aspectos da realidade, de novos
fenmenos ou de encadeamentos entre os mesmos, enfim, de novos
achados sobre o(s) objeto(s) estudado(s) ou mesmo da (re)construo
dos objetos ou da inveno de novos. Ele tambm ocorre em oposio a
*
Texto elaborado em 2005 e disponibilizado na revista eletrnica Confins:
http://confins.revues.org/personne1322.html?type=auteur
Jos William Vesentini
54
modelos ou esquemas de pensamento dominantes e/ou tradicionais, no
confronto com as ideias estabelecidas e constantemente reproduzidas.
Esse processo recorrente no desenvolvimento das cincias e existe
desde os primrdios da chamada revoluo cientfica.
Basta lembrarmos que os primeiros cientistas na moderna acepo do
termo Coprnico, Leonardo da Vinci, Giordano Bruno e,
principalmente, Galileu Galilei travaram uma dura batalha contra os
procedimentos cognitivos tidos como legtimos na sua poca,
procurando afirmar a racionalidade a observao e a anlise dos
fenmenos, a induo e a deduo, as inferncias com base no
raciocnio lgico contra a autoridade das escritas consideradas
sagradas ou inquestionveis. Um eminente fsico chegou inclusive a
afirmar que: Na histria da cincia, descobertas e ideias novas sempre
suscitaram debates na comunidade cientfica, com publicaes
polmicas a criticar as novas ideias, mas tais crticas frequentemente
servem de ajuda ao desenvolvimento do novo pensamento
1
.
Em contrapartida, a histria da geografia demasiado indigente em
controvrsias, afirma-se com frequncia. Um conhecido gegrafo
francs asseverou que existe uma quase total ausncia de discusses
tericas na ou sobre a geografia, que seriam substitudas pelas intrigas
de carter pessoal:
O sistema universitrio no impediu as polmicas em
outras disciplinas. Em geografia, conflitos entre pessoas,
sim, mas nada de problemas (ou quase nada...). A
indolncia dos gegrafos com relao aos problemas
tericos, indolncia que se estabeleceu entre certas pessoas
com alergia s vezes brutal, acompanhada por uma
preocupao em evitar toda e qualquer polmica que possa
desembocar num problema terico
2
.
Apesar disso, ocorreram, sim, algumas importantes polmicas tericas
na geografia, embora em geral elas sejam reiteradamente omitidas ou
1
HEISENBERG, Werner. Fsica & Filosofia. Braslia, Editora da UNB, 1995, p.15.
2
LACOSTE, Yves. A Geografia isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas,
Papirus, 1988, p. 106.
Ensaios de geografia crtica
55
denegadas ou ento distorcidas , inclusive nas melhores obras sobre
a histria do pensamento geogrfico. Nestas, via de regra, se despende
um enorme esforo na nfase filiao terico-metodolgica de tal ou
qual autor ou escola de pensamento se positivista, historicista,
fenomenolgico, dialtico etc. , construindo, assim, uma totalidade
homognea e, com isso, os conflitos e as tenses que poderiam
implodir essa imagem de processos aparentemente unvocos so
excludos ou ignorados. Reconhecemos a importncia desse tipo de
anlise, que valoriza o contexto e as grandes correntes de
pensamento, procurando nelas encaixar a produo geogrfica deste
ou daquele autor. Mas s isso no basta, principalmente porque esse
tipo de enfoque, mesmo que eventualmente de forma no intencional,
denega o que h de mais importante no avano do conhecimento
cientfico: o pluralismo e o dilogo entre correntes de pensamento
diferenciadas. Falta o agora a que se refere Walter Benjamim, isto ,
o momento do relampejar no qual vrias alternativas eram possveis e
uma delas acabou predominando.
Iremos aqui retomar e reavaliar trs controvrsias significativas na
histria da geografia, sendo que uma delas, justamente a de maior
divulgao, foi na realidade um quiproqu, um falso debate, no qual
somente um dos dois lados divulgou a sua verso e estereotipou o
(pseudo-) opositor: a querela entre o determinismo alemo e o
possibilismo francs. As outras duas foram de fato discusses entre
oponentes que se reconheceram como tal, na qual cada um dos lados
assumiu e defendeu o seu ponto de vista: a contenda de Mackinder
versus Kropotkin a respeito do que (ou deveria ser) a geografia; e o
clebre debate entre os neopositivistas e os neokantianos sobre o
excepcionalismo ou a especificidade da geografia enquanto saber
cientfico: se ela est voltada, no essencial, para a construo de teorias
gerais ou leis nomotticas, ou, pelo contrrio, se ela se ocupa no
fundamental em realizar estudos monogrficos, numa compreenso
idiogrfica sobre cada lugar ou regio particular da superfcie terrestre.
Essas trs querelas, como procuraremos demonstrar, no so guas
passadas, isto , problemas j resolvidos ou superados. Num certo
sentido, os tpicos que elas abordam se entrecruzam e permanecem
Jos William Vesentini
56
atuais; mais ainda, so temas fundamentais e que por diversas
perspectivas continuam a fazer parte das grandes questes
epistemolgicas e polticas da geografia.
A distino entre determinismo e possibilismo, cabe recordar, foi
iniciada a partir de um reproche francs obra do iniciador ou
melhor, sistematizador da geografia poltica moderna, Friedrich
Ratzel. Essa distino ou melhor, essa construo terica avanou
a partir do advento e da expanso da geopoltica e das suas pretensas
vinculaes com a geografia poltica ratzeliana. O escrito do gegrafo
alemo que provocou essa reao francesa foi o livro Politische
Geographie, editado em 1897. Nesse trabalho, Ratzel, num certo
sentido, redefiniu ou reestruturou o estudo geogrfico da poltica.
Mesmo no tendo sido pioneiro no uso do rtulo geografia poltica,
Ratzel sistematizou uma certa leitura da poltica que muito deve ao
realismo de Maquiavel na sua dimenso espacial ou territorial e, ao
mesmo tempo, reformulou a maneira pela qual a cincia geogrfica
abordava o fenmeno poltico. Como observou com propriedade um
gegrafo suo, Ratzel props um estudo nomottico da geografia
poltica
3
, algo bem diferente dos escritos monogrficos e idiogrficos
de Vidal de La Blache e discpulos sobre as regies francesas; e nessa
empreitada ele procurou estabelecer nexos causais entre o poder
poltico e o espao, ou melhor, o territrio. Essa obra de Ratzel suscitou
uma forte reao francesa, que pouco a pouco construiu um inimigo
terico, a escola geogrfica determinista germnica, que teria em
Ratzel o seu mentor.
Tanto o socilogo mile Durkheim
4
quanto o historiador-gegrafo Paul
Vidal de la Blache
5
, entre 1898 e 1899 isto , imediatamente aps a
publicao do referido livro de Ratzel e tambm de uma traduo para
o francs de uma espcie de resumo deste
6
, teceram cidas crticas s
3
RAFFESTIN, C. Por uma geografia do poder. So Paulo, tica, 1993, p. 12.
4
DURKHEIM, mile. Morphologie sociale. I. Les migrations humaines. In: LAnne
sociologique, 1898-9, p. 550-58.
5
VIDAL DE LA BLACHE, Paul. La Gographie Politique daprs les crits de M. Fr. Ratzel. In :
Annales de gographie, ano VII, n.32, 1898, p. 97-111.
6
RATZEL, F. Le Sol, la Societ et ltat. In : LAnne Sociologique n.III, 1898, p. 1-14. Existe uma
traduo para o portugus publicada na Revista do Departamento de Geografia n. 2, FFLCH-
Ensaios de geografia crtica
57
ideias ratzelianas da vinculao necessria entre o solo (espao
fsico, ou melhor, territrio) e o Estado, em especial a dependncia
deste em relao quele e o crescimento estatal sendo identificado com
a expanso territorial. Eles assinalaram um exagero e um dogmatismo
nas vinculaes lgicas operadas por Ratzel, enxergando nelas um
determinismo estreito. Mas foi o historiador Lucien Febvre um ex-
aluno e amigo de Vidal , na sua monumental obra La Terre et
levolution humaine, editada em 1922, quem criou de forma mais
acabada e sistematizada a ideia da existncia de duas escolas
geogrficas alternativas, uma determinista e simbolizada por Ratzel,
e a outra possibilista e capitaneada por La Blache.
No ano da edio desse livro de Febvre os dois principais protagonistas
dessa trama j tinham deixado o mundo dos vivos: Ratzel viveu de
1844 a 1904 e Vidal de La Blache de 1845 a 1918. Ratzel, portanto,
nunca chegou a responder talvez nem mesmo a ler as crticas
francesas a respeito de sua obra. Febvre, bom esclarecer, tinha como
escopo principal o relanamento das bases de uma introduo
geogrfica histria (este o subttulo do seu livro, algo que lembra
muito a clebre introduo especial de Hegel
7
), numa perspectiva na
qual a geografia o espao, a terra seria uma espcie de pr-
condio, embora simples e em geral, salvo raras excees, sem grande
importncia, a partir das quais vo se desenrolar os processos
histricos, estes, sim, ricos e complexos. Taxando a geografia humana
como uma cincia nova [sic!] e auxiliar da histria, Febvre elabora
USP, 1988. Este sucinto texto de Ratzel uma espcie de resumo da sua obra Politische
Geographie, de 1897. Lgico que uma sntese empobrecida na medida em que inmeros
temas do livro fronteiras, poltica territorial, grandes potncias mundiais e outros ficaram
de fora. Como observou en passant Jean BERVEGIN (Dterminisme et Gographie. Les Presses
de l'universit Lavai, 1992, p. 4-5), parece que todas as citaes de Durkheim e de Vidal
coincidem com esta traduo, mesmo quando eles citam a edio original, em alemo,
daquela obra seminal de Ratzel.
7
HEGEL, G.W.F. Lecciones sobre la filosofia de la historia universal. Madrid, Alianza Editorial,
1982, especialmente o captulo La conexion de la natureza o los fundamentos geogrficos de
la historia universal, pp.161-99. interessante que Febvre em momento nenhum cita Hegel,
apesar dos inmeros pontos de contato entre a sua obra e a do filsofo alemo. Ser que isso
se deveu a uma certa ojeriza pela tradio germnica, em especial a que engrandece o Estado,
ou pelo fato de Hegel desprezar os historiadores e a sua histria, preferindo uma filosofia da
Histria com H maisculo, algo transcendental e teleolgico?
Jos William Vesentini
58
o seu trabalho com vistas a equacionar ou estabelecer trs desgnios:
prescrever a geografia como uma disciplina modesta (e subordinada
histria); defend-la das ento recentes crticas de vrios socilogos
franceses (especialmente Durkheim e o grupo ao seu redor, cuja grande
expresso era o peridico LAnne sociologique), que encaravam a
geografia humana como imperialista por invadir o campo de estudos
da sociologia e pretender explicar tudo pelas condies geogrficas
8
; e,
por fim, retomar a antiga discusso que pode ser encontrada em
inmeros pensadores clssicos, desde Hipcrates at Hegel, passando
por Montesquieu a respeito da influncia das condies geogrficas
(especialmente o clima) sobre a histria da humanidade. Neste ltimo
item, Febvre assume uma postura ambiciosa, semelhante de Hegel,
com a diferena que este valorizava a filosofia (s o filsofo capta a
lgica da Histria, apenas ele poderia teorizar com propriedade; o
historiador seria exclusivamente um cronista que relata os fatos);
logicamente que Febvre enaltece a histria e os historiadores (eles
que poderiam teorizar de forma cientfica sobre as relaes entre os
processos histrico-sociais e o meio ambiente; o gegrafo seria to
somente um descrevedor de paisagens, um auxiliar que realiza estudos
monogrficos sem nenhuma pretenso de teorizar ou invadir o terreno
da histria).
Frente a isso, fica evidente a preferncia de Febvre pelo tipo de
geografia humana praticada por Vidal os estudos monogrficos, nos
quais h pouca ou quase nenhuma teorizao de natureza geral , assim
como a sua clara averso pela tentativa ratzeliana de construir teorias e
leis gerais a respeito das inter-relaes entre o Estado, a sociedade e
o espao geogrfico. A propsito do primeiro, Febvre reproduziu com
concordncia a seguinte afirmativa: Vidal de La Blache disse que a
defesa contra o esprito de generalizao prematura realizar estudos
analticos, monografias nas quais as relaes entre as condies
geogrficas e os fatos sociais sejam considerados in loco, em um
8
Entre os socilogos mencionados por Febvre que criticaram veementemente a geografia
humana e no apenas a de Ratzel, o alvo principal, mas tambm obras de Jean Brunhes,
Camille Vallaux, Albert Demangeon e outros , encontram-se principalmente F. Simiand, M.
Mauss e M. Halbwachs, alm do prprio Durkheim. Cf. FEBVRE, L. La Tierra y la evolucin
humana. Introduccin geogrfica a la historia. Barcelona, Editorial Cervantes, 1925, p. 25-35.
Ensaios de geografia crtica
59
campo bem escolhido e delimitado
9
. Mas, em relao ao gegrafo
alemo, ele impiedoso: Ratzel, dominado pelo seu parti pris de
antropogegrafo e por suas preocupaes de origem mais poltica do
que cientfica, que em certos momentos fazem a sua mais recente e
menos fecunda obra, Politische Geographie, parecer uma espcie de
manual do imperialismo alemo
10
. E no ltimo captulo do livro ele
esclarece que:
Que no nos pergunte, pois, por que contraditoriamente
defendemos a geografia humana contra as crticas da
morfologia social [a sociologia de Durkheim e discpulos],
ou, mais exatamente, reivindicamos para ela o direito de
uma existncia livre e independente [...] e agora dedicamos
todo um esforo na sua crtica. Nossas crticas se dirigem
no contra a geografia humana em geral e, sim, contra uma
concepo viciada e pueril de seu papel e de seus meios.
[...] Nunca cansaremos de repetir que a geografia no tem
por objeto investigar as influncias da Natureza sobre o
Homem, como se diz, ou do Solo sobre a Histria. Essas
palavras com maisculas no tem nada a ver com um
estudo srio. E influncia no uma palavra cientfica e,
sim, astrolgica. Que ela fique, pois, de uma vez para
sempre, com os astrlogos e outros charlates
11
.
O contexto histrico da poca imprescindvel para explicamos o
surgimento, a expanso e a popularizao dessa construo terica. Em
primeiro lugar, cabe lembrar da secular rivalidade franco-alem (ou
prussiana) no crepsculo do sculo XIX, com a derrota francesa em
1871, fato ainda dolorosamente ntido na conscincia de Vidal e de
Durkheim, que o vivenciaram. Em segundo lugar, a Primeira Guerra
Mundial, que mais uma vez colocou a Frana e a Alemanha em lados
opostos. E, em seguida, a ascenso do nazismo e a criao e notvel
difuso da geopoltica alem dos anos 1920, 1930 e 1940, em
especial ao redor da Zeitschrift fur Geopolitik (Revista de Geopoltica),
9
FEBVRE, L. Op.Cit., p. 489.
10
Idem, p. 57.
11
Idem, p. 477-79.
Jos William Vesentini
60
editada pelo general Karl Haushofer, que contou com a colaborao de
inmeros gegrafos (embora tambm historiadores, cientistas polticos,
militares, juristas etc), os quais, por diversas vezes e de diferentes
maneiras, reproduziram ou se apropriaram de determinadas ideias
ratzelianas, forneceram mais lenha para a fogueira das crticas escola
determinista germnica e a sua natureza mais poltico-ideolgica do
que cientfica.
O clima de rivalidade, de disputa de poder entre Frana e Alemanha,
alm do fato de que os colaboradores daquele peridico frequentemente
repercutiam as ideias nazistas de uma raa ariana superior e do
destino manifesto da Alemanha em se tornar uma grande potncia
mundial, foram elementos determinantes no desenrolar dessa
construo segundo a qual existiria uma escola geogrfica determinista
e que ela teria gerado a geopoltica de Haushofer e seus colaboradores.
At mesmo um importante gegrafo alemo da poca, Leo Waibel, que
fugiu de seu pas devido ao regime nazista e se exilou nos Estados
Unidos (embora tenha vivido alguns anos no Brasil), no af de desancar
aquela geopoltica germnica bastante identificada com o totalitarismo,
acabou meio apressadamente rotulando-a como um produto da escola
geogrfica determinista e bastante diferente de outra abordagem
geogrfica mais aberta e liberal, que a seu ver no seria tanto
simbolizada por Vidal de La Blache e, sim, pelo seu mestre Alfred
Hettner
12
.
A partir da, e em especial com o desfecho da Segunda Guerra
Mundial, essa identificao do determinismo com a geopoltica e desta
ltima com os regimes totalitrios acabou por predominar durante
algumas dcadas, sendo repetida, embora com algumas nuanas, por
importantes gegrafos como Jean Gottman, Camille Vallaux, Pierre
George e inmeros outros autores, inclusive no gegrafos
(historiadores, cientistas polticos, socilogos), tanto na Frana como
em outros pases principalmente latinos , como o Brasil, a Espanha,
o Mxico, a Argentina etc.
12
WAIBEL, L. Determinismo geogrfico e geopoltica. In: Boletim Geogrfico. Rio de Janeiro,
IBGE, 1961, n.164, p. 613-7.
Ensaios de geografia crtica
61
Sem dvida que aquela geopoltica alem dos anos 1920, 1930 e 1940,
de uma maneira geral, foi racista e dogmtica, alm de manifestar uma
clara simpatia pelo nazi-facismo. E tambm inegvel que podemos
encontrar facilmente nas obras de Ratzel, notadamente naquele
mencionado livro de 1897 e tambm na obra anterior
Antropogeografia, uma srie de afirmaes que exageram a
importncia do tamanho do territrio para o poderio de um Estado-
nao, as quais, mesmo tendo um fundo de verdade, inflam demais o
peso do espao fsico para o advento e o desenvolvimento da
civilizao e, em particular, do Estado moderno, visto por Ratzel como
o coroamento do processo civilizatrio. Mas esse rtulo
determinismo seria de fato apropriado para Ratzel e, mais ainda, para
toda a tradio geogrfica alem do final do sculo XIX e da primeira
metade do sculo XX? Afinal de contas, o que significa determinismo
do ponto de vista epistemolgico?
Claude Raffestin reproduz e concorda com a afirmativa de Ren
Thom, que prefaciou a clebre obra de Laplace Ensaio filosfico
sobre a probabilidade , segundo a qual A cincia determinista na
medida em que busca uma ordem, uma regularidade, um encadeamento
entre os fenmenos, uma forma mesmo que complexa de causalidade,
sem a qual o conhecimento cientfico no seria possvel
13
.
Quando lemos algum fsico terico importante Einstein, Max Plank,
Hawding ou at mesmo Heisemberg logo constatamos que eles
aceitam tranquilamente o que denominam princpio do determinismo,
segundo o qual as coisas e os fenmenos so encadeados ou se
influenciam mutuamente, que existem causas mesmo que por vezes
probabilsticas e efeitos, razes e consequncias. evidente que o
determinismo absoluto de Laplace, segundo o qual seria possvel
conhecer tudo, inclusive o passado e o futuro, desde que se dispusesse
de todas as informaes pertinentes, de toda a rede das foras e das
causas que agem no universo, algo no mnimo duvidoso. Mas o
princpio do determinismo ou causalidade continua a ser aceito pelas
cincias naturais e, em grande parte, apesar de certas nuanas, at
13
RAFFESTIN, C. Prface. In: BERGEVIN, J. Dterminisme et Gographie. Les Presses de
l'universit Lavai, 1992, p. I-XII.
Jos William Vesentini
62
mesmo pelas cincias humanas. Nas cincias naturais ele foi abalado
pelas relaes de incerteza que existem na microfsica, ou o princpio
da indeterminao de Heisemberg, mas continua a ser uma espcie de
norte ou axioma bsico
14
. Nas cincias humanas e sociais esse
princpio determinista sempre foi amenizado pela questo do livre
arbtrio humano, da natureza original dos seres humanos, que podem
criar coisas novas e decidir entre alternativas possveis sem se
submeterem a leis frreas e inquebrantveis. Mas amenizado no quer
dizer anulado e, mesmo no estudo do social-histrico, existe a
preocupao com a busca das determinaes de um acontecimento ou
de um processo, ou seja, aquele conjunto de fatores que o originaram
e/ou que o explicam. Dessa forma, a discusso mais pertinente aqui no
sobre o princpio da determinao em si, pois sem ele a cincia, tal
como a conhecemos hoje e desde Galileu Galilei, no seria possvel,
mas, sim, sobre o carter ou a substncia dessas determinaes ou
relaes causais. Alguns cientistas e filsofos os chamados realistas
pensam que elas seriam inerentes ao real, ao mundo, s coisas e
fenmenos. Outros os idealistas , afirmam que, no final das
contas, elas, essas determinaes, seriam um produto da nossa lgica
ou da nossa linguagem, mas que, mesmo assim, seriam imprescindveis
para se conhecer e agir no mundo
15
.
O que se criticou muito em Ratzel e tambm, ou principalmente, em
autores que se proclamavam como seus discpulos, como a gegrafa
norte-americana Ellen Semple foi um determinismo exagerado e
estreito, que no buscava explicaes complexas e, sim, uma causa
nica e unilateral, que via apenas a importncia do meio fsico para a
sociedade e no valorizava a criao humana em si, a tecnologia e a
(re)produo da natureza. Mas a critica a esse determinismo estreito
ou viso unilateral, como preferimos considerou toda a busca de
determinaes espaciais como equivocada, algo absurdo e sem sentido
14
Cf. HAWDING, S. W. Uma breve histria do tempo. Rio de Janeiro, Rocco, 1988, p. 87. Cabe
ainda lembrar a famosa frase de Einstein: Deus no joga dados, pela qual o eminente fsico
reafirmava a validade do determinismo, mesmo com a introduo do princpio de
indeterminao na fsica quntica.
15
Cf. BERVEGIN, op. cit., p. 15, que reproduz sobre isso uma frase de Ludwig Wittgenstein:
O mundo constitudo de fatos no espao lgico.
Ensaios de geografia crtica
63
do ponto de vista cientfico. E a contraposio a isso, o chamado
possibilismo, pouco acrescentou a uma antiga discusso filosfica e
cientfica sobre a originalidade do ser humano, sobre o livre arbtrio e a
sua liberdade de criar e fazer coisas novas.
Desde no mnimo Maquiavel, o criador ou sistematizador da concepo
moderna de poltica (e da relativa autonomia do poltico em relao ao
divino, aos fenmenos fsicos, economia etc), por sinal um autor
importante para a obra de Ratzel, que essa questo a respeito do que o
ser humano cria e o que determina a sua ao j vinha avanando
bastante. Julgo feliz aquele que sabe combinar as suas aes com o
sentido [ou as determinaes] do seu tempo, afirmou Maquiavel em
O Prncipe, acrescentando ainda que, em parte, os acontecimentos
(polticos) decorrem de circunstncias externas e, em parte, do livre
arbtrio do(s) sujeito(s) que age(m)
16
.
Ora, seria justamente esta a questo que permitiria a Vidal de La
Blache ou a Lucien Febvre se contraporem ao raciocnio causalstico
unvoco que detectaram em Ratzel, complexizando as causas ou
motivos das aes ou dos processos polticos tal como a evoluo
dos Estados, um dos temas prediletos de Ratzel e incluindo a o
livre arbtrio dos seres humanos, a tenso entre a lgica (as
determinaes) e a poltica ou o acaso (as indeterminaes, a produo
do novo). Mas, ao invs de trilhar esse caminho algo que exigiria um
maior esforo intelectual, alm de uma aceitao parcial da abordagem
ratzeliana , eles preferiram a cmoda atitude de rotular o gegrafo
germnico como determinista, ignorando a importncia do princpio
do determinismo para a cincia moderna, e contrapor a isso uma
inopiosa perspectiva possibilista.
To somente repetir que as condies geogrficas oferecem
possibilidades, e que o Homem as aproveita desta ou daquela
maneira, no produz nenhum avano no conhecimento cientfico e
tampouco nessa clssica problemtica filosfica sobre o maior ou
menor peso das determinaes (que no so apenas naturais, diga-se de
passagem) frente indeterminao ou o livre arbtrio do ser humano.
16
MAQUIAVEL. O Prncipe. So Paulo, Abril Cultural, 1979, col. Os Pensadores, p. 103.
Jos William Vesentini
64
Um gegrafo ingls, numa obra recente, chegou a afirmar que: A
crtica exarcebada ao determinismo geogrfico obnubilou ou
obscureceu a anlise das influncias do ambiente sobre o social
17
. E
um professor de histria econmica na Universidade de Harvard, que
nos anos 1990 publicou um importante livro sobre as causas da riqueza
e da pobreza das naes, comentou que a geografia produziu um
escasso material sobre as possveis influncias da localizao, do meio
fsico etc, no desenvolvimento de determinados pases (Inglaterra,
Estados Unidos, Alemanha) em contraponto ao pouco desenvolvimento
de outros (as naes africanas, por exemplo), provavelmente devido
forte (auto) represso que sofreu (ou se imps) a partir dos exageros
deterministas de autores como Ellen Semple, que por sinal tambm
foi professora nessa mesma universidade norte-americana, que depois
dela ou devido a ela fechou o seu curso de geografia
18
.
Enfim, acreditamos que essa oposio entre uma geografia determinista
e outra possibilista e sempre foi algo sem sentido do ponto de vista
epistemolgico (embora, como j vimos, tenha tido um forte sentido
para os seus protagonistas sob o aspecto da ideologia nacionalista e at
mesmo da defesa de interesses corporativistas), que mais atrapalhou do
que ajudou no desenvolvimento da cincia geogrfica. Mas a
problemtica real que perpassa toda essa querela aquela do livre
arbtrio humano versus as determinaes ou o contexto (ambiental e
social) ainda continua de p; ela prossegue sem ter incorporado
grandes avanos. Num certo sentido, ela retornou ou reapareceu
naquela controvrsia ocorrida nos Estados Unidos nos anos 1950, na
qual Fred Shaefer se ops a Richard Hartshorne e a grande questo em
debate era sobre que forma de conhecimento a geografia , se
idiogrfica ou nomottica.
Esse debate entre Shaefer e outros contra Hartshorne passou para a
histria da geografia como a questo do excepcionalismo, numa clara
demonstrao de que os vencedores deixam a sua marca ou o seu rtulo
na memria coletiva. Essa qualificao, na verdade, foi uma forma de
simplificar e estereotipar o pensamento de Hartshorne, o grande nome
17
UNWIN, Tim. The place of Geography. London, Longman Group, 1992, p. 262.
18
LANDES, P. Riqueza e a pobreza das naes. Rio de janeiro, Editora Campus, 1998, p. 1-16.
Ensaios de geografia crtica
65
da geografia norte-americana desde o final dos anos 1930 at incios da
dcada de 1960, o qual nessa querela foi identificado com o status quo,
como um conservador que no admitia a renovao quantitativa e
cientificista na sua disciplina. S que a questo mais complexa e, no
fundo, ela envolve duas aporias: a natureza da geografia como cincia
(se idiogrfica ou nomottica) e a utilidade da geografia, a
possibilidade de se construir um saber geogrfico essencialmente
pragmtico e preditivo.
Fred Shaefer iniciou essa controvrsia com o seu famoso artigo no qual
cognominou de excepcionalismo a abordagem corolgica na
geografia, ento defendida entre outros por Hartshorne (mas que, num
certo sentido, tambm era a de Vidal de La Blache e, sem dvida
alguma, a de Hettner), pela qual o objetivo desta cincia seria no o de
estabelecer leis gerais e, sim, conhecer casos (regies, lugares)
particulares. Retomemos um importante trecho desse autor:
O pai do excepcionalismo Immanuel Kant. Mesmo sendo
considerado como um dos grandes filsofos do sculo
XVIII, Kant foi um gegrafo medocre quando comparado
aos seus contemporneos ou mesmo a Bernardo Varenius,
que morreu mais de um sculo e meio antes dele. Kant
produziu a sua assero excepcionalista no somente para
a geografia, mas tambm para a histria. Segundo ele, a
histria e a geografia encontram-se numa posio
excepcional, diferente das chamadas cincias sistemticas
[...] Ritter usou essas ideias, assim como Hettner e
finalmente Hartshorne. [...] O que os cientistas fazem
[...] aplicar em cada situao concreta todas as leis que
envolvem as variveis que eles consideram como
relevantes. As regras pelas quais essas leis so
combinadas, o que livremente chamado interaes das
variveis, esto elas mesmas entre as regularidades que a
cincia tenta descobrir. No h nenhum desafio, como
imagina Hartshorne, para o cientista social produzir uma
lei singular que poderia explicar a complexidade da
situao do porto de Nova Iorque. Uma descrio dessa
situao nica no bvio senso que nunca haver uma
regio ou localidade exatamente como Nova Iorque com
Jos William Vesentini
66
todos os servios que fornece para o seu entorno. Nunca
haver uma lei para um caso assim. Pois, que importncia
teria uma lei que levasse em conta somente um caso? Mas,
por outro lado, a geografia urbana atualmente conhece
alguns princpios sistemticos, os quais, aplicados ao porto
de Nova Iorque, podem explicar, no tudo mas alguma
coisa, sobre a estrutura e as funes dessa realidade. Esse
o ponto. Ou devemos desistir de explicar porque ns no
podemos explicar todas as coisas? Nesse ponto a geografia
encontra-se na mesma situao das outras cincias sociais.
Ou devemos rejeitar a sociologia porque a predio sobre
o resultado das eleies no ainda to confivel como
alguns gostariam, ou porque no podemos assegurar com
certeza se em cinco anos a Argentina ter uma ditadura ou
uma democracia? [...] Qualquer um que rejeite o mtodo
cientfico em qualquer rea da natureza, rejeita por
princpio a possibilidade de predio. Em outras palavras,
rejeita o que normalmente conhecido como
determinismo cientfico. A atitude intelectual por trs
dessa atitude na maioria dos casos alguma verso da
doutrina metafsica do livre arbtrio. [...] Se
determinismo entendido como a existncia generalizada
de leis na natureza, sem nenhuma exceo, ento essa a
base comum de toda a cincia moderna. [...] O que
podemos inferir disso tudo sobre o futuro da geografia?
Parece-me que, desde que os gegrafos cultivem os
aspectos sistemticos da sua disciplina, a geografia uma
cincia como outra qualquer. Todas as formas de leis que
distinguimos contm fatores espaciais. [...] [Mas] eu no
sou otimista no caso da geografia rejeitar a busca de leis,
exaltando os aspectos regionais e graas a isso limitar-se a
uma mera descrio. Neste caso, os gegrafos sistemticos
devero se encaminhar para e finalmente at se integrar
nas cincias sistemticas
19
.
O que salta vista nesse texto, no qual se critica uma tradio
geogrfica que vai de Kant at Hartshorne, passando por Hettner, Vidal
19
SHAEFER, F.K. Exceptionalism in geography: a methodological examination. In Annals of
the Association of American Geographers, n.43, 1953, p. 226-49. Os grifos so nossos.
Ensaios de geografia crtica
67
de La Blache, Leo Waibel e outros, a defesa absoluta do princpio do
determinismo sem nenhuma exceo, chegando-se ao absurdo de
considerar o livre arbtrio humano como uma mera doutrina
metafsica. Existe a uma influncia explcita de Karl Popper
20
, o qual,
naquele momento (Popper sofisticou o seu ponto de vista mais tarde,
aps os debates com a Escola de Frankfurt nos anos 1960
21
), encarava a
fsica como o modelo por excelncia a ser seguido por qualquer
disciplina que almejasse o status de cincia. Cabe esclarecer que
Popper pessoalmente no se envolveu nessa querela e,
provavelmente, nem tomou conhecimento dela. Acreditamos inclusive
que ele teria certa afinidade terica com o igualmente neokantiano
Hartshorne. Mas a epistemologia popperiana, na sua leitura por Shaefer
auxiliado por Bergmann, serviu como instrumento na luta contra as
ideias de Hartshorne. No existiriam diversidades no real e, portanto,
tampouco nas cincias, nas quais deveria haver um mtodo unitrio,
um paradigma nico de busca de leis ou princpios lgico-matemticos,
de preferncia construdos de forma dedutivista a induo e a nfase
no emprico em si eram menosprezados. Admitia-se que a cincia
nunca conheceria tudo ou a essncia das coisas tal como na
imagem kantiana do navegante que se orienta pela estrela Polar sem
nunca a alcanar , mas acumularia gradativamente um rol de
conhecimentos (ou melhor, de leis e teorias) que permitiriam uma
previso cada vez mais apurada dos fatos, advindo da uma forte recusa
em analisar os casos particulares ou nicos, que s teriam algum
sentido se incorporados num esquema ou numa teoria classificatrios.
As teorias ou leis nomotticas, destarte, deveriam necessariamente
desembocar numa forma de previso e qualquer conhecimento que no
atendesse a esse requisito seria no-cientfico
22
.
20
O autor submeteu o texto, antes da publicao, leitura e sugestes do filsofo (e seu
amigo) Gultav Bergmann, um discpulo (e ex-aluno) de Karl Popper.
21
Cf. ADORNO, T., POPPER, K. e Outros. La disputa del positivismo em la sociologia alemana.
Mxico, Ediciones Grijalbo, 1973.
22
H um critrio para se determinar o carter ou status cientfico de uma teoria? [...]
Afirmo que o critrio para se estabelecer o status cientfico de uma teoria a sua
refutabilidade ou a sua testabilidade. Uma teoria que no testvel no cientfica. Toda
boa teoria cientfica implica numa proibio: proibio de que ocorram certas coisas.
(POPPER, K. El desarrollo del conocimiento cientifico. Buenos Aires, Paidos, 1967, p.43-7).
Jos William Vesentini
68
Todavia, fica aqui uma dvida: e se alguma regio ou aspecto do real
no atender a essa exigncia, se em determinado campo do
conhecimento no for possvel construir leis dedutivistas ou tentar
prever que tal fato poder ou no ocorrer?
A resposta a isso simples: quanto um conhecimento, tal como a
geografia tradicional, no corresponder a esse paradigma, no puder
construir leis dedutivistas ou preditivas, ento ele no cientfico, tal
como afirmou Shaefer. Por sinal, foi exatamente esse o julgamento
que Popper fez em relao psicanlise e a todo estudo do inconsciente
humano, para mencionarmos apenas um exemplo
23
.
Tambm se encontra nesse texto uma desvirtuao dos oponentes,
comeando por Kant e terminando com Hartshorne, sendo este o
principal alvo das crticas. Ignora-se, provavelmente de forma
deliberada, que esses autores jamais advogaram um excepcionalismo
puro e simples (isto , um carter nico, completamente diferente de
todo o restante, como se esse restante isto , a cincia fosse
homogneo) para a geografia ou a histria, mas, sim, uma nfase na
complexidade e na diversidade do real e, portanto, das cincias. Basta
recordarmos aqui um texto de Hartshorne, no qual ele afirma que mais
til do que inquirir se a geografia uma cincia seria refletir sobre
que tipo de cincia a geografia, numa evidente percepo de que a
realidade no a mesma em todas as suas manifestaes e, dessa
forma, existiriam cincias (no plural) e no a cincia
24
.
23
POPPER, K. Op. Cit., p.44-6.
24
Podemos substituir a indagao A geografia uma cincia?, pela pergunta muito mais
til: Que espcie de cincia a geografia? A geografia um campo cuja matria inclui a
maior complexidade de fenmenos, e, ao mesmo tempo, preocupa-se, mais do que a maioria
das demais cincias, com o estudo de casos individuais dos inumerveis lugares do mundo e
do prprio caso mpar do [nosso] mundo. Por essa razo, a geografia menos capaz do que
muitas outras cincias de elaborar e empregar leis cientficas. Mas, no obstante isso, a
exemplo de outros domnios cientficos, ela preocupa-se em elaborar leis na medida do
possvel. (HARTSHORNE, Richard. Questes sobre a natureza da geografia. Rio de Janeiro,
IPGH, 1969, p. 228-9). Esta obra de Hartshorne, originalmente publicada em 1959, foi uma
resposta a determinadas crticas principalmente as de Shaefer e seguidores feitas ao seu
monumental trabalho de 1939, The Nature of Geography.
Ensaios de geografia crtica
69
O que na realidade Kant asseverou, por sinal de forma bastante
razovel, foi que existem diversas formas de conhecimento, do artstico
ao filosfico, do cientfico (que pode ser mais ou menos nomottico ou
idiogrfico, e nunca exclusivamente uma coisa ou outra) ao senso
comum, etc, e eles no so estanques ou sequer hierarquizados. Nem
Kant e tampouco Hartshorne afianaram que a geografia seria uma
saber totalmente idiogrfico; eles apenas admitiram que a realidade
estudada pela geografia, e principalmente pela histria, tem muito de
particular ou de irrepetvel (no recorrente) e, dessa forma, cabe
utilizar, embora no de maneira nica ou exclusiva, uma abordagem
idiogrfica. Mas existe no texto de Schaefer uma averso pela
monografia, por qualquer estudo aprofundado sobre uma realidade
especfica nas suas determinaes (e indeterminaes) particulares: isso
visto como uma mera descrio (e no uma explicao), numa total
desvalorizao no apenas da geografia regional, mas tambm da
biologia, embora de forma inconsciente na medida em que o seu
inspirador, Popper, pelo menos at aquele momento, nunca havia
estudado seriamente outras cincias naturais alm da fsica e em
particular as teorias de Einstein. De maneira at mesmo hilria, no final
do seu afamado texto, Shaefer ameaa abandonar sua prpria sorte a
geografia regional ou a perspectiva geogrfica que exalta os aspectos
regionais , caso ela no mude radicalmente, e se juntar de vez ao time
dos cientistas sistemticos (ele pensava em especial na economia, vista
pelos neopositivistas como a cincia social mais prxima do seu
arqutipo de cientificidade).
Uma questo essencial nesse debate sobre a existncia de uma cincia
no singular com um mtodo universal ou de diversas cincias no
plural. Ou, sob um outro ponto de vista complementar, sobre a
existncia de uma s realidade, com leis universais e invariveis, ou
realidades que possuem especificidades com lgicas relativamente
diferentes. Na sua resposta ao texto de Schaefer, Hartshorne colocou
muito bem o problema:
O fato de a geografia constituir um dos campos do
conhecimento em que uma soma relativamente grande de
esforos empregada no estudo de casos individuais, e
Jos William Vesentini
70
no na tentativa de elaborar leis cientficas, tem
preocupado os crticos, em nosso meio, h mais de meio
sculo [...] No h dvida que todos ns podemos
concordar com Hettner, que a cincia no h de permitir
que o conceito do livre arbtrio a impea de procurar
determinar as causas das aes humanas ao mximo de sua
capacidade como cincia [...] [Todavia] afirmar que a
cincia refutou a possibilidade de um certo grau de livre
arbtrio, ou que se pode esperar que ela venha refutar essa
possibilidade, seria pretender saber o que no podemos
conhecer. [Muitos] aferram-se ao determinismo cientfico
como um artigo de f filosfica que deve ser defendido na
qualidade de alicerce do qual depende a estrutura da
cincia. Qualquer sugesto de dvida, a menor presuno
de que existe a possibilidade do livre arbtrio, deveria, por
conseguinte, ser atacada com veemncia e escrnio como
sendo anticientfica [...] A nossa concluso a seguinte:
quer pelo fato de que um certo grau de livre arbtrio uma
realidade, quer pela circunstncia de que jamais
poderemos conhecer de maneira completa os fatores e
processos que determinam as decises humanas
individuais, sempre h de permanecer uma rea oculta em
qualquer estudo no campo das cincias sociais, que no
poder ser explicado por leis cientficas. Em resumo, como
afirma Allix, o nico determinismo verdadeiro o
estatstico. Mas em muitos aspectos da cincia importa
conhecer determinados casos individuais. As mais
fidedignas estatsticas de mortalidade no sero capazes de
dar uma resposta secular pergunta de quem indaga:
quanto tempo de vida eu ainda terei?[...] Asseverar,
como fazem alguns, que a formulao de leis cientficas
constitui o propsito final da cincia, confundir os meios
com o fim. O propsito da cincia compreender o
universo ou a realidade, com o maior grau de
fidedignidade possvel. Embora os cientistas do sculo
XIX confiantemente esperassem que todo o conhecimento
da realidade seria em breve organizado segundo leis
gerais, nenhum domnio logrou reduzir todos os seus
resultados a esses termos, e no podemos hoje prever que
isso jamais seja possvel [...] A geografia busca descrever
Ensaios de geografia crtica
71
e classificar fenmenos, estabelecer, sempre que possvel,
princpios lgicos ou leis gerais, alcanar o mximo de
compreenso sobre as inter-relaes entre esses fenmenos
e organizar esses resultados em sistemas ordenados
25
.
Apesar da viso, a nosso ver, limitada que Hartshorne tinha da
geografia como uma cincia corolgica, que estuda as diferentes
reas ou regies da superfcie terrestre (perspectiva que tambm
encerra um elemento de verdade, embora no d conta de toda a
produo geogrfica passada, presente ou em devir) , temos que
concordar com ele que a funo primordial da cincia no estabelecer
leis gerais e, sim, conhecer a realidade. Determinadas leis ou
princpios lgicos at podem ter e tm efetivamente o seu lugar,
dependendo da realidade estudada. Mas elas so instrumentos do
conhecimento, em contextos nos quais isso possvel, e no o seu
objetivo primordial. A realidade ou o mundo no sentido geral, enfim
tudo o que existe e/ou que pode ser conhecido, complexo e
multifacetado e nada nos garante que um mtodo adequado para uma
rea do conhecimento tambm o seja para outra diferente.
Um dos principais dogmas do positivismo, em todas as suas vertentes
(inclusive em determinados meios dialticos ou marxistas), a
crena de que existe um nico mtodo vlido para todos os aspectos da
realidade, para todo o conhecimento cientfico. A cincia atual caminha
numa direo oposta a essa, numa aceitao da pluralidade de
mtodos e de procedimentos, de formas de conhecimento ou de
explicaes do real, conforme atesta um importante filsofo:
Se o mtodo, no sentido profundo do termo, pudesse ser
unificado por toda a parte, a diversidade de regies [do
real, do conhecimento] se reduziria a uma diversidade
simplesmente aparente [...] Uma tal unificao mais ou
menos direta dos mtodos parece fora de questo hoje,
talvez para sempre. No nem mesmo possvel consider-
25
HARTSHORNE, op. cit., p. 222-6.
Jos William Vesentini
72
la dentro do domnio antropolgico [isto , nas cincias
humanas]
26
.
Nessa mesma perspectiva, um conhecido especialista em filosofia da
cincia argumentou que existem cincias, no plural, e no apenas uma
cincia
27
.
No entanto, a despeito da flagrante debilidade do ponto de vista de
Schaefer e demais neopositivistas, que no fundo advogavam uma
geografia pragmtica e voltada para o planejamento (no podemos
esquecer que vivamos ento na poca urea do capitalismo
keynesiano), o fato que esse vis tornou-se vencedor naquele
momento e logrou uma profunda repercusso no desenrolar da
geografia, em especial na anglo-saxnica. A partir da a abordagem
regional na geografia sofreu um enorme declnio, da mesma forma que
as tentativas de integrar o natural com o social. A geografia norte-
americana, dos anos 1960 em diante, procurou imitar o exemplo das
cincias sociais e, em especial, o da economia, tornando-se numa
espcie de prima pobre da economia espacial. O discurso sobre o
espao como categoria abstrata substituiu as anlises dos fenmenos na
sua dimenso espacial.
Mencionando um exemplo bastante significativo, David Harvey,
provavelmente o nome mais conhecido da escola geogrfica anglo-
saxnica desde os anos 1970, mesmo tendo nas suas palavras operado
um deslocamento de uma abordagem liberal at uma marxista
28
,
nunca deixou de lado uma percepo de cincia com uma forte
influncia do artigo de Schaefer. A sua concepo de pesquisa,
inclusive aps ter optado pelo marxismo, continua sendo a de aplicar
o mtodo cientfico, no singular (s que agora usando menos a
matemtica, como uma linguagem unificadora, e mais o materialismo
histrico, com a mesma funo), sem nunca aprofundar as
determinaes concretas de qualquer situao especfica isto , sem
nunca encarar um processo, um lugar ou uma obra (um edifcio, por
26
CASTORIADIS, C. As encruzilhadas do labirinto/1. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, p. 214.
27
GRANGER. G. G. A cincia e as cincias. So Paulo, Editora da Unesp, 1994.
28
HARVEY. D. A justia social e a cidade. So Paulo, Hucitec, 1980, p. 7.
Ensaios de geografia crtica
73
exemplo) em sua singularidade mesmo que contextualizada e sempre
tentando elaborar leis ou conceitos gerais que dem conta de tudo
num mesmo esquema. O seu entendimento, expresso numa obra
clssica de 1969, com ligeiras alteraes, continua a nortear a sua
produo em temas como a justia social ou a condio ps-moderna:
Os gegrafos tiveram grandes dificuldades para libertar-se
dessa forma particular de explicao [o mtodo
idiogrfico] [...] A tese kantiana supe tambm que o
espao pode ser examinado, e os conceitos espaciais
desenvolvidos, independentemente do seu contedo. O que
lamentvel que essa afirmao de um espao absoluto
no tenha sido explicitamente discutida e reconhecida
como uma das proposies bsicas da tese kantiana [...]
Podemos concluir que a geografia escassa em teorias e
muito rica em fatos. Podemos afirmar que as leis
[cientficas] podem ser estabelecidas tanto na geografia
fsica quanto na humana [...] O complicado e multivariado
sistema que os gegrafos tentam analisar (sem as
vantagens do mtodo experimental) difcil de manejar. A
teoria, em ltima instncia, requer o uso da linguagem
matemtica, pois somente se pode manejar a complexidade
de interaes de forma consistente usando semelhante
linguagem. A anlise dos dados requer um computador
rpido e mtodos estatsticos adequados, e a verificao
das hipteses tambm requer mtodos. A incapacidade dos
gegrafos em desenvolver teorias reflete em parte um
lento crescimento dos mtodos matemticos apropriados
para tratar os problemas geogrficos. Os deterministas
realizaram toscos intentos de explicao sistemtica,
porm nos anos 1920 caram em desgraa
29
.
29
HARVEY, D. Explanation in Geography. Londres, Edward Arnold, 1969, p. 64-8. Tambm
RAFFESTIN (Por uma geografia do poder. So Paulo, tica, 1993, p.23-4) vai por um caminho
semelhante, afirmando que o grande problema de Ratzel na sua tentativa de superar a
abordagem idiogrfica e estabeler leis era a fragilidade dos mtodos estatsticos da sua
poca.
Jos William Vesentini
74
Percebe-se nessa fala uma recusa em distinguir a realidade natural da
social e uma total desconsiderao pela questo do livre arbtrio do ser
humano, alm do fato muito estranho para quem apregoa estar
considerando no mais o espao absoluto de Newton e de Kant, mas,
sim, o espao relativo de Einstein de ignorar completamente a
problemtica da indeterminao de certos processos (inclusive fsicos,
tal como enuncia o princpio da indeterminao de Heisenberg
30
, que
mesmo a contragosto Einstein referendou).
At mesmo nos seus trabalhos mais recentes, por sinal de excelente
qualidade, prevalece um esquematismo lgico-formal que denega as
contradies inerentes e as indeterminaes do(s) objeto(s) estudado(s),
nos quais a justia social subsumida a uma problemtica de
produo e distribuio (ignorando assim as contradies histricas
e, principalmente, as lutas sociais que determinam a sua realidade
especfica em tal ou qual contexto), e a dualidade entre modernidade
e condio ps-moderna vista como reflexos da produo fordista
(estandardizada, baseada na economia de escala, etc.) e da produo
flexvel (economia de escopo, descentralizao e diversidade, etc.)
31
.
Enfim, a tentativa de superao da abordagem idiogrfica, a
exorcizao do original ou do singular
32
, resultou, em grande medida,
30
Na mecnica quntica as relaes de incerteza impem um limite mximo definido na
preciso com que posio e momento linear, ou tempo e energia, podem ser medidos
simultaneamente. Como uma separao infinitesimalmente estreita significa uma impreciso
infinita com respeito s posies no espao-tempo, os momentos lineares ou as energias ficam
completamente indeterminados. (HEISENBERG, op. cit., p. 123).
31
Cf. HARVEY, D. A condio ps-moderna. So Paulo, Loyola, 1992. Nessa importante obra,
talvez o livro (acadmico) de geografia com maior difuso internacional nos ltimos 20 anos, o
autor consegue discorrer sobre temas variados a renovao urbana de Baltimore, a
problemtica da habitao popular em Los Angeles, o prdio da IBM em Nova Iorque ou o
filme Blade Runner sem nunca mencionar os seus contextos especficos, as contradies e os
grupos ou projetos alternativos que se entrecruzaram etc., mas apenas catalogando-os como
modernos ou ps-modernos. Tambm no existe nenhum mapa, nenhuma localizao no
espao concreto desses fenmenos estudados, mas to somente consideraes abstratas
sobre o significado de espao e tempo neste ou naquele filme, na ps-modernidade, etc.
32
No desconhecemos que William BUNGE (Perspectivas de la geografa teorica, in:
MENDOZA, J.G., JIMNEZ, J.M. e CANTERO, N.O. El pensamiento geogrfico. Madrid, Alianza,
1982, pp.521-30), seguindo a trilha de Schaefer, estabeleceu uma esdrxula diferenciao
entre o nico ou original e o singular, sendo que este ltimo, a ser levado em considerao
pela cincia geogrfica, seria to somente um caso especfico e sempre enquadrvel numa
Ensaios de geografia crtica
75
numa anlise depauperada, que generaliza em demasia e malgrado a
sua prolixidade perde completamente as especificidades de cada
situao ou processo.
Convm esclarecer que no se est, aqui, defendendo os mritos da
abordagem idiogrfica contra os nomotticos e muito menos
assumindo aquele discutvel e limitado ponto de vista que veio de
Kant, passou por Hettner e talvez tenha se encerrado com Hartshorne
segundo o qual a geografia estuda as diferenciaes de reas na
superfcie terrestre. O que se procura demonstrar que a crtica
necessria da geografia como um saber essencialmente idiogrfico,
no final das contas, foi superficial em demasia e perdeu algo importante
no seu percurso. Ela no consistiu, afinal, numa verdadeira crtica na
qual deve existir uma superao com subsuno ou incorporao do
que foi criticado como parte de uma sntese superior e, sim, numa
mera rejeio. Em funo de um modismo ou comodismo
epistemolgico, denegou-se a contradio inerente ao social-histrico, a
indeterminao do fenmeno social e poltico enquanto relao de
foras, o papel do contingente ou do acaso e a relao problemtica
entre sujeito e objeto no estudo do social:
Impossvel falar da Histria no singular [...] Devemos nos
interrogar sobre as formas da histria: sobre a distino
entre uma histria regida por um princpio de conservao
ou de repetio e de uma histria que por princpio abre
lugar para o novo [...] O que , pois interrogar? Em um
sentido fazer o enterro do seu saber. Em um outro
sentido, aprender graas a esse enterro. Ou ainda:
renunciar ideia de que haveria nas coisas mesmas [...] um
sentido inteiramente positivo ou uma determinao em si
prometida ao conhecimento, como se isso que analisamos
no se tivesse j formado sob o efeito de um deciframento
de sentido, em resposta a um questionamento da histria,
da sociedade [...] como se o objeto no devesse nada a
teoria geral, ao passo que aquele primeiro seria algo desprezvel pela cincia, um mal-
entendido da geografia tradicional. Mas essa perspectiva nos parece facciosa e somente
aceitvel pelo pressuposto de que existiria um s tipo de conhecimento, o nomottico.
Jos William Vesentini
76
nossa prpria interrogao, o movimento do pensamento
que nos faz ir at ele e s condies sociais e histricas nos
quais se exerce
33
.
Retomar esse debate, afinal, significa repensar a coexistncia
necessria, mesmo que problemtica, entre as abordagens idiogrfica e
nomottica na geografia. Mais ainda, significa colocar a relao de
complementaridade entre objeto e sujeito, a identificao e tenso, ao
mesmo tempo, entre o investigador e a realidade a ser estudada: as
inter-relaes entre ambiente geogrfico e o social-histrico, ou mais
especificamente, pensando-se em Ratzel, a poltica na sua dimenso
espacial. Enfim, deve-se examinar o fenmeno poltico, base do social-
histrico, como conflito e indeterminao, incorporando a questo da
coexistncia entre a necessidade (lgica ou determinao) e a
contingncia (abertura para o novo, singularidade ou originalidade). A
nosso ver, esses so os elementos basilares a serem incorporados na
anlise geogrfica, em especial a geogrfico-poltica, mesmo sem
deixar de lado a superao do idiogrfico puro e simples e a
necessidade de construir categorias, conceitos ou princpios lgicos,
que devem ser abertos e provisrios e nunca sobrepostos de forma
dedutiva a qualquer realidade estudada, que sempre encerra as suas
determinaes especficas.
Cabe, ainda, recordar a dimenso poltica dessa controvrsia sobre o
excepcionalismo. Tratava-se no apenas de definir o estatuto
epistemolgico da geografia como cincia, mas, fundamentalmente,
qual seria a sua utilidade prtica. Foi fcil estereotipar Hartshorne como
conservador e adepto do tradicionalismo na geografia e na sociedade.
Como se sabe, ele foi oficial do exrcito norte-americano durante a
Segunda Guerra Mundial, trabalhou como estrategista no Pentgono,
ajudou a redefinir os limites da Alemanha e de Berlim redivididas no
ps-guerra e, durante a sua vida acadmica e de pesquisas, elaborou
vrios trabalhos de geografia poltica ou geopoltica (este rtulo,
evidentemente, no era usado) a respeito de fronteiras, territrios e o
papel estratgico dos Estados Unidos no mundo. Ademais, como
33
LEFORT, C. As formas da Histria. So Paulo, Brasiliense, 1979, p. 15-7.
Ensaios de geografia crtica
77
assinalaram vrios de seus crticos
34
, ele era anticomunista e defensor
radical do sistema poltico e do way of life europeu-ocidental e
principalmente norte-americano. Schaefer, por outro lado, era
simpatizante do partido comunista (ele prprio afirmava, e vrios
outros repetiram, que a CIA o vigiava ou perseguia, uma informao
nunca comprovada) e infelizmente morreu jovem, antes mesmo da
publicao do clebre artigo (por sinal, a sua nica contribuio
conhecida para a geografia), fatos que provavelmente tiveram um
grande peso na forte identificao, no clima de simpatia que se criou
entre a sua figura e os ento jovens gegrafos norte-americanos ou
britnicos rebeldes, que propugnavam uma completa renovao na
tradio geogrfica. Contudo, paradoxalmente, o jovem gegrafo
marxista e socialista fazia uso das ideias do neopositivista Popper como
seus alicerces tericos, propugnando um modelo da fsica (ou mais
modestamente da economia keynesiana) como o ideal para a renovao
geogrfica, para a construo de uma geografia preditiva que fosse til
nos planejamentos (urbanstico, regional, territorial enfim). Esse
entendimento shaeferiano, vitorioso no transcorrer das circunstncias
afinal, ele foi uma espcie de bandeira ou cone para a chamada
revoluo quantitativa dos anos 1960 e 1970 , produziu, no final das
contas, uma cincia geogrfica pragmtica, voltada para a preparao
de tcnicos e completamente apartada do ensino, da educao,
atividade que desde meados do sculo XIX sempre tinha sido a sua
principal raison dtre. Os cientistas sociais, a partir da, tomaram
conta do ensino das humanidades histria, geografia e sociologia no
sistema escolar norte-americano, tendo ocorrido uma multiplicao de
cursos superiores de cincias sociais e, de maneira complementar, uma
retrao dos cursos de geografia, com fechamentos de vrios
departamentos e cursos nas universidades
35
.
34
Cf. BUNGE, op. cit., onde h vrias referncias conhecida ideologia anticomunista de
Hartshorne, por sinal um ex-professor de Bunge.
35
evidente que essas mudanas no sistema escolar norte-americano no se explicam
apenas, nem principalmente, pela vitria da perspectiva neopositivista na geografia. Elas
tambm envolveram a disciplina histria e tm outras determinaes, que neste texto no
iremos explicitar. Em todo o caso, at incios dos anos 1990, eram os departamentos
universitrios de cincias sociais, e nunca os de geografia ou de histria, que preparavam os
professores de histria, sociologia e geografia, disciplinas que eram lecionadas juntas nos
Jos William Vesentini
78
Foram as circunstncias, afinal em especial o avanar do fordismo e
do seu modelo de escola tcnica ou profissionalizante, dos
planejamentos que envolviam a reorganizao do espao e,
provavelmente, at mesmo a aspirao de grande parte dos novos
gegrafos em exercer atividades com melhor remunerao e maior
status social (pelo menos na poca) que a de professor nas escolas
fundamentais e mdias , e no a maior ou menor veracidade ou
fundamentao das ideias deste ou daquele oponente, que decidiram a
perspectiva vitoriosa nessa contenda. Mas no deixa de ser irnico o
fato de que o lado tido como de esquerda, ou supostamente rebelde
frente ao status quo, era antipluralista (pois admitia apenas um nico
mtodo cientfico e, mais ainda, aceitava to somente o modelo
dedutivista e preditivista de cincia) e acabou por gerar um instrumento
extremamente til, pelo menos naquele momento, para o sistema
capitalista no seu centro principal, para a multiplicao dos
planejamentos tpicos da economia keynesiana ou intervencionista da
poca, que ocorreram especialmente nos Estados Unidos. Em
contraposio, o lado tido como conservador e direitista era defensor da
democracia e do pluralismo e, mesmo no recusando uma funo
pragmtica para a geografia, enfatizava o seu carter humanstico. Sinal
dos tempos. Relendo os textos daquela controvrsia nos dias de hoje,
aps a crise do marxismo e a derrocada do socialismo real, aps uma
revalorizao da democracia (que no mais vista como burguesa) e
principalmente do pluralismo, temos a impresso de que os sinais
foram invertidos. Em todo o caso, no esta a nossa preocupao
fundamental aqui e agora. Ademais, essa controvrsia sobre a funo
social da geografia j havia sido iniciada anteriormente, num outro
contexto, no Reino Unido do final do sculo XIX.
ensinos fundamental e mdio. Para se ter uma ideia dessas mudanas, principalmente com a
retomada da formao dos professores pelos cursos de geografia nos anos 1990, quando a
abordagem neopositivista est em crise (alm de ter ocorrido uma revalorizao da escola e
do ensino da geografia a partir da globalizao e da terceira revoluo industrial), com a
reabertura de alguns departamentos em universidade, veja-se o importante relato de
HARDWICK, S.W. e HOLTGRIEVE, D.G. Geography for Educators. Standards, themes and
concepts. New Jersey, Prentice Hall, 1996.
Ensaios de geografia crtica
79
O debate entre Mackinder e Kropotkin ocorreu nas sees da ento
poderosssima Royal Geographical Society (RGS) de Londres, na
penltima dcada do sculo XIX. Ambos proferiram falas, em sees
dessa sociedade, a respeito do que e do que deveria ser a geografia, e,
posteriormente, as publicaram em revistas especializadas
36
. Existe a
uma discrdia, ou uma sensvel diferena de perspectiva, que prossegue
talvez at com maior intensidade nos dias atuais: se a geografia deve
ser til para o sistema, para o comrcio como dizia Mackinder (isto ,
os interesses imperialistas britnicos da poca), ou se ela deve servir
basicamente aos ideais humansticos de combate aos preconceitos, de
crtica ao imperialismo, s injustias e desigualdades, tal como
advogava Kropotkin.
Este ltimo abriu o debate com os seus comentrios sobre o que a
geografia deve ser, que na realidade constituam uma proposta de
reforma profunda na educao geogrfica, no ensino da geografia.
Levando em conta aquele perodo de colonizao europia e
particularmente britnica na sia e na frica, e o fato que a RGS
congregava no apenas gegrafos, mas principalmente uma boa parte
da elite econmica e social da poca interessada nos negcios do
ultramar (negociantes, industriais, membros da famlia real,
diplomatas), kropotkin proferiu a seguinte fala:
Assistimos hoje o despertar de um interesse pela geografia
que lembra o que ocorreu com a gerao anterior, durante
a primeira metade no nosso sculo [...] No se deve
estranhar, portanto, que os livros de viagens e os de
descrio geogrfica em geral estejam se tornando no tipo
mais popular de leitura. Era tambm natural que esse
renascimento do interesse pela geografia dirigisse a
ateno do pblico sobre a escola. Foram realizados
inquritos e descobriu-se, com estupor, que conseguimos
fazer com que esta cincia a mais atrativa e sugestiva
para pessoas de todas as idades resultou nas escolas num
36
KROPOTKIN, P. What Geography Ought to Be. In: The Nineteenth Century, XXI, 1885,
pp.238-258; e MACKINDER, H.J. On the scope and methods of Geography. In: Proceedings of
the Royal Geographical Society, n.9, 1887, p. 141-60.
Jos William Vesentini
80
dos assuntos mais ridos e carentes de significado [...] A
discusso recentemente iniciada pela [Real] Sociedade
Geogrfica, o Informe antes mencionado pela sua
Comisso Especfica na sua exposio, foram em geral
acolhidos com simpatia por parte da imprensa. Nosso
sculo mercantilizado parece ter entendido melhor a
necessidade de uma reforma quando se colocou em
evidncia os chamados interesses prticos da colonizao
e da guerra. [A geografia escolar] pode constituir um
poderoso instrumento tanto para o desenvolvimento geral
do pensamento como para familiarizar o estudante com o
verdadeiro mtodo de raciocnio cientfico [...] A geografia
deve cumprir tambm um servio muito mais importante.
Deve nos ensinar, desde a mais tenra infncia, que todos
somos irmos, qualquer que seja a nossa nacionalidade.
Nestes tempos de guerras, de ufanismos nacionais, de
dios e rivalidades entre as naes, habilmente
alimentados por gente que persegue seus prprios e
egosticos interesses, pessoais ou de classe, a geografia
deve ser na medida em que a escola deve fazer alguma
coisa para contrabalanar as influncias hostis um meio
para anular esses dios ou esteretipos e construir outros
sentimentos mais dignos e humanos. Deve mostrar que
cada nacionalidade contribui com sua prpria e indispens-
vel pedra para o desenvolvimento geral da humanidade, e
que somente pequenas fraes de cada nao esto
interessadas em manter os dios e rivalidades nacionais.
[...] Assim, o ensino da Geografia deve perseguir trs
objetivos principais: despertar nas crianas a afeio pela
cincia natural em seu conjunto; ensinar-lhes que todos
os homens so irmos, quaisquer que sejam as suas
nacionalidades; e deve ensinar-lhes a respeitar as
chamadas raas inferiores. Desde que se admita isso, a
reforma da educao geogrfica imensa: consiste nada
menos que na completa renovao da totalidade do sistema
de ensino de nossas escolas
37
.
37
KROPOTKIN, op. cit., p. 240-3.
Ensaios de geografia crtica
81
Sem dvida que essa proposta de Kropotkin era inaceitvel para o
status quo britnico, mais interessado no tanto no ensino e , sim, na
geografia enquanto conhecimento e mapeamento dos territrios com
os seus recursos naturais e os seus povos, potenciais trabalhadores e/ou
mercado consumidor a serem colonizados. Alm disso, a sua
concepo de irmandade de toda a humanidade, a sua defesa das
chamadas raas inferiores (um conceito frequente na poca, mas que
Kropotkin usava com reticncias), era algo que se chocava contra a
principal justificativa do colonialismo: a civilizao dessas raas ou
povos brbaros, a misso civilizatria europia (isto , o fardo do
homem branco), que deveria levar o progresso e a verdadeira cultura
at essas sociedades arcaicas, as quais, no fundo, se dizia estarem sendo
beneficiadas pelo domnio colonial. Kropotkin irnico a esse respeito:
Quando um poltico francs proclamava recentemente que
a misso dos europeus civilizar essas raas ou seja,
com as baionetas e as matanas [genocdios] no fazia
mais do que elevar categoria de teoria esses mesmos
fatos que os europeus esto praticando diariamente. E no
poderia ser de outra maneira, pois desde a mais tenra
infncia inculca-se o desprezo pelos selvagens, ensina-se
a considerar determinados hbitos e costumes dos
pagoscomo se fossem verdadeiros crimes, a tratar as
raas inferiores, como so chamadas, como se fossem
um verdadeiro cncer que somente deve ser tolerado
enquanto o dinheiro ainda no penetrou. At agora os
europeus tm civilizado os selvagens com whisky,
tabaco e sequestros; os tm inoculado com seus vcios; os
tm escravizado. Porm, chegado o momento em que nos
devemos considerar obrigados a oferecer-lhes algo melhor
isto , o conhecimento das foras da natureza, a cincia
moderna, a forma de utilizar o conhecimento cientfico
para construir um mundo melhor
38
.
Kropotkin, como se percebe, era um entusiasta da cincia moderna,
tanto que pensava que ela seria a melhor ddiva que o europeu poderia
38
KROPOTKIN, op. cit., p. 244.
Jos William Vesentini
82
fornecer aos africanos ou asiticos em geral. Neste ponto, alis, ele no
diferia muito da imensa maioria dos grandes pensadores do sculo XIX,
tais como, dentre outros, Humboldt, Darwin, Marx ou Comte. S que
Kropotkin, ao contrrio destes, inclusive os considerados de esquerda
ou extremamente crticos frente ao sistema, como por exemplo Karl
Marx, no aceitava a ideia de que o colonialismo europeu na frica e
na sia seria progressista no sentido de acelerar a histria isto , o
desenvolvimento das foras produtivas, do capitalismo e,
consequentemente, do posterior socialismo nessas regies do globo
39
.
Kropotkin viveu exilado em Londres durante cerca de 30 anos, pois
havia fugido de um presdio na Rssia; na RGS, ele provavelmente era
apenas tolerado, ou talvez visto com um misto de benevolncia e
curiosidade: afinal ele era originrio de uma aristocrtica famlia russa
a Casa Real de Rurik, que governara a Rssia antes dos Romanov ,
alm de ter sido secretrio da Imperial Sociedade Geogrfica Russa
antes de sua priso por incentivar e participar de revoltas camponesas.
O fato de ser um utopista, paradoxalmente, deve at ter contribudo
para com essa complacncia, pois boa parte da elite econmica e social
tambm gosta de divagar sobre um mundo perfeito, sobre as
lamentveis injustias e desigualdades, principalmente quando a
temtica abstrata e no representa uma ameaa concreta aos seus
interesses materiais. Mas criticar o colonialismo, a misso civilizatria
europia, e propor aquele tipo de reforma no ensino voltada para
combater os preconceitos, inclusive aqueles baseados na ideologia
nacionalista, enfatizar a cooperao e a irmandade entre todos os povos
e raas tambm j era demais. No era esse o caminho que a maior
parte dos membros dessa Sociedade Geogrfica desejava, muito
embora fosse desagradvel ou pouco refinado contestar esse iderio
diretamente, ou seja, sustentar a ideia de raas superiores e a
necessidade de brutalidade e matanas para civilizar os povos
39
Cf. MARX, K. O domnio britnico na ndia. In: MARX, K. e ENGELS, F. Sobre o
colonialismo. Vol.I, Lisboa, Estampa, 1974, p. 47-8 e 103-4. Esse autor, neste e em outros
textos onde analisa o colonialismo britnico ou a tomada de terras dos preguiosos
mexicanos pelos norte-americanos, chega a menosprezar as matanas e a brutalidade com o
argumento de que isso tudo seria secundrio, seria to somente o preo a pagar para se
acelerar o sentido da Histria.
Ensaios de geografia crtica
83
brbaros. Aqui entra a compreenso de Mackinder, que, segundo a
leitura de Short
40
, representou uma alternativa que se tornou vitoriosa
frente s propostas geogrficas de Kropotkin.
Mackinder, ao contrrio de Kropotkin, no era um adepto do ensino
universal, acessvel a todos e igual para as diferentes classes sociais.
Ele via a educao geogrfica como algo indispensvel para as classes
educadas, para a elite; mas, por outro lado, ela seria dispensvel e at
contraproducente para o treinamento da classe proletria apenas meio
educada
41
. No final da sua mencionada fala na Real Sociedade
Geogrfica, ele conclui:
Acredito que com estas propostas que esbocei [isto , a
concepo de geografia que ele havia apresentado], pode-
se elaborar uma geografia que satisfaa tanto as demandas
prticas do homem de Estado e do comerciante como as
demandas tericas do historiador e do cientista, alm das
demandas do professor. Sua amplitude e complexidade
inerentes devem ser invocadas como o seu mrito principal
[...] Para o homem prtico, tanto para se obter uma posio
no Estado como para acumular uma fortuna, ela pode
constituir uma fonte insubstituvel de informaes; para o
estudante, uma base estimuladora [...]; para o professor ela
pode constituir um instrumento para o desenvolvimento
dos poderes do intelecto, exceto sem dvida para esta
velha classe de mestres que medem o valor disciplinar de
um tema pela repugnncia que ele inspira nos alunos.
Tudo isso, afirmamos, em funo da unidade do tema
[unio do aspecto terico com o prtico na geografia]. A
alternativa seria dividir o cientfico e o prtico. E resultado
dessa diviso seria a runa de ambos
42
.
Apesar de a concepo de Sir Mackinder ter logrado uma indiscutvel
vitria no transcorrer dos acontecimentos ele se tornou, pouco a
40
SHORT, John R. New world, new geographies. New York, Syracuse University Press, 1988,
p. 97-8.
41
Apud SHORT, op. cit., p. 97.
42
MACKINDER, op. cit., p. 160.
Jos William Vesentini
84
pouco, no grande nome da geografia britnica no final do sculo XIX e
incios do XX , no se pode esquecer, como observou com
propriedade Kearns
43
, que existia um clima de dilogo e cordialidade
entre os dois protagonistas, que inmeras vezes participaram juntos de
reunies ou de comisses de estudos da RGS. Alm disso, entre os
membros da RGS existia uma diviso ou uma dvida quanto a
apoiar ou no o imperialismo (Mackinder era um defensor fervoroso do
imprio britnico; e Kropotkin um crtico de qualquer forma de
dominao internacional), sendo que essa sociedade geogrfica tinha
fama de liberal devido a uma srie de atitudes ousadas para a poca,
tais como, por exemplo, solicitar insistentemente ao governo britnico
para que pressionasse a Frana com vistas libertao do gegrafo-
anarquista Elise Reclus, preso por ser uma das lideranas da Comuna
de Paris de 1871; e quando de sua soltura, a RGS o convidou para
proferir em Londres uma srie de palestras sobre o valor do ensino da
geografia
44
.
Mackinder e Kropotkin concordavam, embora cada um sua maneira,
num ponto que fundamental para se entender os seus pontos de vista:
que a teoria da evoluo de Darwin deveria suscitar um profundo
impacto na geografia
45
. Algo perfeitamente normal para a poca, pois
Darwin foi tido como o grande modelo de cientista no sculo XIX
(aps algumas dcadas nas quais brilhou a figura de Humboldt, por
sinal a grande fonte de inspirao para o naturalista britnico), assim
como Newton o havia sido para o sculo XVIII. O prprio Marx, como
se sabe, apregoava com vanglria que a sua obra representaria, para o
domnio do social, o mesmo que a de Darwin para o domnio da
natureza.
Mas Kropotkin e Mackinder tinham leituras bem diferentes a respeito
da teoria da evoluo, que naquele momento era identificada com
Darwin, sem dvida, mas tambm com Lamarck e Huxley, autores
frequentemente mencionados (s vezes com concordncia, s vezes
43
KEARNS, Gerry. The political pivot of geography. In: The Geographical Journal, vol.170,
n.4, December 2004, p. 340.
44
Idem, p. 339.
45
Idem, p. 341.
Ensaios de geografia crtica
85
com reproches) pelos dois gegrafos. Mackinder enfatizava a luta pela
sobrevivncia, a competio entre as espcies e os indivduos.
Kropotkin, por outro lado, valorizava muito mais a ajuda mtua, o
cooperativismo entre espcies e indivduos. evidente que o reino
animal era visto mais como uma espcie de metfora, ou melhor, fonte
de inspirao ou de legitimao do social. O que cada autor visava,
no final das contas, era o entendimento da ordem do mundo, do espao
geogrfico mundial, com vistas a pensar no apenas o presente, mas
principalmente o futuro. Mackinder, como um pensador poltico
realista, entendia a ordem internacional como uma espcie de lei da
selva, na qual o poderio militar e as guerras seriam no apenas
inevitveis, como at mesmo uma condio indispensvel para a
existncia de um sistema internacional com o exerccio da hegemonia
por uma grande potncia mundial. A sua leitura direcionava-se para a
manuteno e o fortalecimento do imprio britnico e acabou lhe
conduzindo s teorias da heartland e da world island, enfim s
condies geogrficas que permitiriam a hegemonia no espao
mundial. Kropotkin, em contrapartida, sendo um utopista e, portanto,
idealista, apesar de reconhecer a importncia histrica das lutas e das
guerras, advogava que a cooperao e a ajuda mtua entre os
indivduos, os povos, as naes, as culturas seria um vetor to ou
mais importante que o conflito. Seu objetivo no era o de pensar as
determinaes espaciais para o exerccio da hegemonia mundial por
parte de um Estado, mas, sim, as condies para a paz permanente com
a cooperao entre todos os povos e naes.
Dessa forma, Mackinder entendia a evoluo tanto natural como
histrica como o resultado de conflitos, de lutas e guerras,
principalmente entre os Estados, o sujeito que privilegiava. J
Kropotkin encarava a evoluo tambm natural e histrica como
uma progressiva cooperao ou ajuda mtua entre os sujeitos, mas no
tanto o Estado, instituio que exorcizava, mas, sim, os indivduos,
classes, povos e culturas
46
. No h qualquer dvida que, grosso modo, a
46
MACKINDER. H.J. The geographical pivot of history. In: The Geographical Journal,
London, 1904, n.23, pp.421-37; e KROPOTKIN, P. Mutual Aid, a factor of evolution. London,
Freedom Press, 1902.
Jos William Vesentini
86
histria deu razo a Mackinder, pois os acontecimentos subsequentes
as duas guerras mundiais, a perda de hegemonia mundial por parte do
imprio britnico e a notvel ascenso dos nacionalismos, que
atropelaram at mesmo a chamada luta de classes estiveram muito
mais prximos do seu ponto de vista. Embora no totalmente, pois
sabemos que, em parte, os esquemas mackinderianos foram
desmentidos pelos fatos
47
. Mesmo que estes, como si acontecer,
tenham adequado-se muito mais viso realista que com a perspectiva
utpica. Mas isso no significa que as ideias kropotkinianas tiveram
pouca ou nenhuma valia. O gegrafo russo representou uma alternativa
idealista, algo do tipo um outro mundo possvel, pelo menos em
tese, s que ele se encontra bastante distante da realidade com as suas
determinaes essenciais. As suas ideias, entretanto, de incio solitrias,
se expandiram enormemente no transcorrer do sculo XX com a
crescente conscincia de que o colonialismo inaceitvel, que a
democracia e os direitos humanos so valores universais, que no
existem raas superiores e inferiores, que o ensino deve ser universal
e acessvel a todos, alm de no admitir qualquer diferenciao de
qualidade da educao de acordo com a classe social dos indivduos.
Pensando agora no significado conjunto de todas as trs polmicas
analisadas, acreditamos que sejam pertinentes as seguintes
interrogaes. Elas produziram algum avano seja epistemolgico,
seja poltico ou mesmo gnosiolgico na cincia geogrfica? Essas
temticas esto j superadas ou continuam vivas? Se elas continuam
vivas, sob que formas se manifestam atualmente e qual a sua
importncia?
A nosso ver, as principais questes que perpassaram essas trs
controvrsias so: as inter-relaes entre o social e o seu meio
ambiente; a natureza idiogrfica ou nomottica da geografia; e o papel
social desta disciplina, o para que ela serve ou deveria servir. No h a
menor dvida de que estas questes continuam vivas e atuais. Em
variadas e diferentes circunstncias, sob diversas formas ou roupagens,
elas continuam sendo frequentemente retomadas ou rediscutidas. Elas
47
Cf. ARON, Raymond. Paz e Guerra entre as Naes. Braslia, Editora da UNB, 1986, pp.
264-71.
Ensaios de geografia crtica
87
ainda fazem parte dos grandes dilemas epistemolgicos e/ou polticos
da cincia geogrfica, sendo, ao mesmo tempo, heranas do passado e
desafios para o futuro.
Examinemos, sucintamente, a velha polmica sobre as relaes ou
influncias recprocas entre o social e o natural. A rigor, melhor se
falar no tanto em natural e, sim, em ambiental ou mais propriamente
em espacial. Quando Ratzel se referia importncia do solo para o
Estado, ele no apontava somente para os aspectos naturais do
territrio, tal como entenderam os seus crticos. O prprio conceito de
territrio, assim como a sua conquista e/ou formao como Ratzel
sabia muito bem , j uma realidade histrico-social e nunca uma
obra da natureza. O gegrafo germnico, ao realar a importncia do
solo ou do territrio como uma pr-condio bsica para a existncia
do Estado, no se referia tanto natureza original o clima, o relevo,
as riquezas minerais, a disponibilidade de gua ou a fertilidade natural
dos solos , mas, principalmente, aos elementos que so e,
reiteramos, ele tinha pleno conhecimento disso eminentemente
histricos: a localizao (no apenas absoluta e, sim, relativa), o
formato, o tamanho e as fronteiras do territrio. Tudo isso sem se
esquecer do poderio econmico (Ratzel enfatizava principalmente o
comercial) e militar. Ora, esses mencionados elementos somente so
inteligveis ou plenamente dimensionveis se analisados de uma forma
relacional, o que significa dizer que eles s tm algum significado em
termos de poder quanto contrapostos a esses mesmos elementos nos
demais Estados, algo que varia muito de acordo com o lugar e o
momento, com a tecnologia disponvel principalmente para as
relaes comerciais e a guerra, pensando-se, como Ratzel o fazia, em
termos de relaes de fora , como partes, afinal, de um contexto
histrico e espacial bem maior, internacional ou at mesmo planetrio.
Vejamos um exemplo. Num trecho do seu livro onde examina as
potncias mundiais, Ratzel esclarece:
Depende do espao dado em cada poca para se saber o
quanto os Estados devem crescer a fim de se tornarem
potncias mundiais, ou seja, terem como associados todo
o mundo conhecido e nele exercerem a sua influncia [...]
Jos William Vesentini
88
Uma potncia assim grande e assim extensa no sentido de
estar diretamente presente em todos os pases e em todos
os mares, atualmente, s pode ser o imprio britnico.
Uma imensa massa territorial como a da Rssia por si s
no faz uma potncia mundial, algo que necessitaria
tambm de uma extenso suplementar sobre o Atlntico e
sobre o Pacfico, pois que somente os oceanos lhe abririam
a rota e lhe permitiriam estender o seu poder sobre os
Estados do hemisfrio ocidental e do hemisfrio austral.
Da portanto que a Rssia somente poder ser uma
potncia mundial na medida em que abrir uma rota at o
oceano ndico, o que lhe permitiria um contato direto at o
Atlntico e sobre o Pacfico
48
.
A questo, assim, a importncia ou o significado do espacial para o
poltico (ou o social) e no a influncia da natureza, algo difcil de ser
identificado com preciso quando pensamos no territrio de um Estado,
quando consideramos uma sociedade na sua dimenso espacial ou
geogrfica, pois praticamente todos os elementos que, com frequncia,
so tidos como naturais a localizao e os traos fsicos do territrio:
as riquezas minerais, as guas, as formas de relevo ou os solos , em
geral, so reapropriados ou, muitas vezes, reconstrudos pela ao
humana e, no fundo, s tm algum sentido quando vistos de forma
histrica e relacional. Mesmo se quisermos pensar apenas na natureza
em si, o elemento fundamental, nos dias de hoje, para se entender o
comportamento humano, pelo menos em parte, no seria mais o clima,
tal como especulavam os tericos do sculo XVIII e de grande parte do
sculo XIX, mas, principalmente, a herana gentica. Mas este j um
tema que pouco tem a ver com a pesquisa e a reflexo geogrficas.
certo que Ratzel, em diversos momentos, exagerou a importncia do
tamanho do territrio e tambm de certos traos naturais favorveis
(principalmente o clima e a localizao absoluta) desse solo para o
poderio estatal. Mas acreditamos que isso absolutamente natural em
qualquer autor, de qualquer rea do saber, que procura construir ou
desenvolver um objeto no caso de Ratzel, a importncia da geografia
48
RATZEL, F. Gographie Politique. Paris, Editions Rgionales Europennes, 1988, p. 279.
Ensaios de geografia crtica
89
ou do espao geogrfico para a vida poltica. Normalmente, existe uma
tendncia de supervalorizao do objeto que se estuda ou da
perspectiva que se adota para analisar esse objeto. No exatamente
isso que fazem praticamente todos os estudos biogrficos? No isso
que faz, hoje, a chamada sociobiologia? No isso que fazem os fsicos
tericos e os astrnomos em geral, quando falam sobre tempo e espao
como se fossem to somente realidades fsicas do universo?
49
No foi
exatamente isso que fez Freud quando tentou entender a guerra apenas
pelo vis do milenar comportamento agressivo dos seres humanos?
Esse exagero na importncia do seu tema de estudos no o que
observamos, hoje, em alguns geneticistas, que afirmam que todo o
comportamento dos indivduos pr-determinado pelo seu genoma?
Qualquer reducionismo deve ser criticado e a crtica, cabe insistir,
um dos instrumentos fundamentais para o avano do conhecimento
cientfico. Nenhum autor, nenhum cientista, seja do passado, do
presente ou do futuro, est acima das crticas, isto , possui uma obra
absolutamente irreprochvel. Mas criticar no significa desqualificar o
oponente, tal como fez Lucien Febvre em relao a Ratzel. Significa
contribuir para o avano do saber, corrigindo determinados aspectos de
um discurso, ajudando a lapidar uma determinada temtica. A crtica
cientfica em geral no invalida o trabalho criticado; ela mostra os seus
limites, apontando fatos ou processos que ele no leva em considerao
ou no consegue explicar. Dessa forma, se, por um lado, as
generalizaes ratzelianas foram em parte simplistas, exagerando a
importncia do solo para o Estado, por outro lado, ele teve a coragem
de inaugurar ou de se aventurar em um campo do saber que
importante e que pouco avanou; que talvez tenha ficado relativamente
estagnado exatamente porque os crticos em geral se limitaram a
denegar essa tentativa, numa atitude proibitiva ou repressora, ao invs
de procurarem expandir as pesquisas e as reflexes sobre a temtica. J
mencionamos que o resultado disso foi catastrfico para a geografia,
que se viu impossibilitada de ou se recusou a pensar inmeros
49
Estamos pensando, aqui, nas observaes de Husserl, Heidegger e de vrios outros
existencialistas ou fenomenolgicos, segundo as quais o tempo e o espao cotidianos do ser
humano no so aqueles da fsica, seja ela newtoniana ou relativstica.
Jos William Vesentini
90
temas fundamentais para se entender a diversidade scio-econmica no
espao mundial (ou s vezes at regional ou nacional).
Quanto natureza idiogrfica ou nomottica da cincia geogrfica,
pensamos que melhor abandonar a separao dicotmica entre esses
dois tipos de saberes, como se eles fossem opostos e completamente
diferentes entre si; ou como se apenas as leis ou teorias nomotticas
merecessem o adjetivo cientfico. Acreditamos que todo ou quase todo
conhecimento cientfico ou toda regio ou aspecto do real, que a
cincia busca compreender possui elementos originais ou nicos e, ao
mesmo tempo, a possibilidade de se construir leis ou teorias de
validade universal. lgico que, dependendo do campo de estudos,
existe uma maior preeminncia de uma dessas duas vertentes. Usando
uma imagem grfica, podemos visualizar uma linha, um continuum que
vai da cincia mais nomottica at a mais idiogrfica. Deixando-se de
lado as lgicas e as matemticas, isto , as cincias formais, e
pensando-se apenas nas cincias empricas, ou melhor, que estudam o
mundo emprico, teramos prxima daquele primeiro plo a fsica,
considerada como a cincia que melhor simboliza o modelo de um
saber nomottico. No plo oposto ou do outro lado dessa linha no
exatamente no plo e, sim, nas suas vizinhanas teramos a histria, a
cincia mais prxima do modelo idiogrfico. Mas nem a fsica, nem a
histria estariam exatamente nos dois plos, ou seja, nenhuma delas
totalmente nomottica e tampouco cem por cento idiogrfica. Em
posies intermedirias teramos as demais cincias: apenas para
mencionar alguns exemplos, a qumica estaria bem prxima da fsica,
praticamente colada, a geologia e a biologia aproximadamente no meio
dessa linha ou continuum; e a geografia um pouco alm delas, mais
para o lado da histria, porm, um pouco mais distante que esta do plo
idiogrfico. um modelo simples e trivial, sem dvida, mas que nos
ajuda a compreender a complexidade e variedade das cincias que
buscam perscrutar a realidade (ou realidades?) em todos os seus
aspectos.
No h, portanto, nenhuma a necessidade de dogmas apriorsticos e
imutveis, tais como a ideia de um nico mtodo cientfico, seja ele
positivo ou dialtico, ou a crena na cientificidade como atributo to
Ensaios de geografia crtica
91
somente do saber nomottico. Se determinados aspectos do real so
nicos e irrepetveis (por exemplo: um acontecimento ou processo
histrico, uma regio geogrfica, uma espcie biolgica ou mesmo um
indivduo), por que no conhec-los cientificamente? A bem da
verdade existe, sim, a presena e uma presena marcante,
extremamente importante para a compreenso dos objetos de estudos
do nico e irrepetvel na geografia, principalmente (embora no s) na
geografia regional e na humana, com especial destaque para a geografia
poltica. Exemplificando: a conceituao e a classificao das fronteiras
algo necessrio numa perspectiva cientfica e um tema
eminentemente geogrfico-poltico. Mas nenhum conceito ou teoria vai
dar conta das especificidades, da concretitude no sentido de concreto
como sntese de mltiplas determinaes de uma fronteira
especfica (por exemplo, entre o Brasil e a Argentina). Logo, o
idiogrfico (os casos particulares, nicos e irrepetveis) e o nomottico
(as leis ou teorias de validade geral) se complementam e, ao contrrio
da fsica ou da qumica, a geografia no pode deixar de lado a
especificidade dos casos que estuda, pois se ficasse apenas nas
frmulas, nas classificaes ou nas teorias gerais, produziria estudos
medocres que pouco explicariam sobre os objetos concretos com as
suas determinaes (o contexto espao-temporal, em suma) e
indeterminaes (a criao ou produo do novo, a presena de um
vivido especfico ou original) particulares ou especficas.
No precisamos lembrar com detalhes o fracasso da geografia
quantitativa (e, mais ainda, da histria quantitativa), que nunca
conseguiu produzir nada de novo do ponto de vista de explicaes
sobre realidade, sobre o espao geogrfico ou o tempo histrico. Os
prprios expoentes dessa tradio na geografia tais como David
Harvey, William Bunge e vrios outros , j no final dos anos 1960
denunciavam esse fato e propunham um novo paradigma mais
qualitativo e crtico. Isso no significa que se aboliu o uso da
matemtica, dos computadores e da estatstica na geografia. Longe
disso. Apenas que a realidade estudada pela geografia (ou, mais ainda,
pela histria) no se presta a frmulas simples, tais como as da fsica,
Jos William Vesentini
92
por exemplo (falamos aqui em simples e no em simplistas
50
, pois
fora de dvida que elas funcionam muito bem na compreenso e at na
previso dos fenmenos fsicos). Essa realidade geogrfico-poltica,
feliz ou infelizmente, sempre demanda explicaes longas e complexas,
e que nunca esgotam completamente o tema estudado.
Como amplamente conhecido, a geografia poltica a modalidade da
cincia geogrfica mais prxima da histria, um dos flancos
privilegiados onde elas se imbricam ou se sobrepem parcialmente.
Logo, a problemtica do irrepetvel, dos processos nicos e originais,
da tenso entre necessidade (determinao) e contingncia
(indeterminao) algo essencial na reflexo geogrfico-poltica. Isso
no quer dizer que ela seja uma forma de conhecimento essencialmente
idiogrfica, mas, sim, que esta abordagem tambm tem um lugar,
mesmo sem desconsiderar a elaborao de teorias ou conceitos gerais.
E no se deve confundir, como fizeram Schaefer e vrios outros, o
idiogrfico com o descritivo, pois nem todo estudo de um caso nico
descritivo e, em contrapartida, tambm pode existir a descrio do
objeto estudado numa teoria nomottica. Sem dvida que a geografia
poltica anterior a Ratzel era idiogrfica e descritiva, mas no
necessrio que esses dois atributos coexistam; ademais, cabe lembrar
que a descrio continua a desempenhar um papel importante em
determinadas reas do conhecimento cientfico, inclusive em algumas
cincias naturais, hoje consideradas como paradigmticas ou avanadas
(em vrios campos da biologia, por exemplo).
A geografia poltica, assim sendo, deve levar em conta e refinar
constantemente os conceitos nomotticos: de fronteiras, territrio e
territorialidade, poder ou poderes, Estado (e as suas diversas formas
histricas e geogrficas), cidade-capital, mdia ou grande potncia
mundial, ordem internacional etc. S que nunca podemos ignorar o
estudo especfico, que nunca consiste somente na aplicao de
50
Lembramos aqui que simples no deve ser entendido como o oposto de complexo,
como usual no senso comum. Epistemologicamente, o contrrio de complexo simplista e o
oposto de simples complicado. Por sinal, inmeras explicaes complexas como as teorias
da relatividade, de Einstein no fundo so extremamente claras e simples. Veja-se, a esse
respeito, as observaes de ARDOINO, Jacques, in MORIN, E. (Org.). A religao dos saberes.
Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 2002, p. 548-58.
Ensaios de geografia crtica
93
conceitos ou teorias gerais (apenas os trabalhos medocres fazem isso),
de tal Estado concreto na sua formao territorial, desta ou daquela
fronteira ou cidade-capital, de tal ou qual ordem geopoltica
internacional etc., com todas as suas determinaes (e indeterminaes)
caractersticas. Enfim, esperamos ter deixado claro o nosso ponto de
vista, no qual a geografia em especial, a geografia poltica
simultaneamente um saber nomottico e idiogrfico (sem
necessariamente ser descritivo) e onde os estudos de caso contribuem
para enriquecer os conceitos que nunca so ou esto completamente
acabados.
Por fim, permanece a questo da finalidade prtica da geografia, da sua
utilidade para a sociedade. Que os conhecimentos geogrficos tm
serventia para o Estado, para a guerra, para organizar um territrio, para
mapear e utilizar os recursos naturais (ou at controlar a populao e as
atividades econmicas), isso tudo algo sabido e propalado desde, no
mnimo, o grego Eraststenes, que afinal foi quem engendrou a palavra
geografia. Sabemos que o gegrafo romano Estrabo, que viveu no
sculo I a.C., j detalhava a importncia da geografia para um caador,
para um general, para um agricultor. Qualquer conhecimento sobre a
realidade, no final das contas, um instrumento de poder, isto , pode
servir para se agir sobre essa realidade. Mas o problema que surgiu nos
debates entre Kropotkin e Mackinder, e que continua a ser reproduzido
em inmeros congressos ou encontros de gegrafos e em vrias
publicaes
51
, o para que e para quem serve ou deveriam servir os
conhecimentos geogrficos. Se eles servem apenas para o exerccio do
poder ou se tambm poderiam ser usados como contra-poder, se so
teis apenas para o Estado ou para o sistema, ou se, pelo contrrio, so
aproveitveis para as rebelies, para as classes populares no sentido de
contriburem para uma maior justia social e menores desigualdades
econmicas.
51
Basta lembrarmos da revista Antipode, cujo primeiro nmero tem um editorial que afirma
que os gegrafos deveriam construir uma geografia radical para estudar e denunciar as
injustias e as desigualdades. Ou ainda de Yves Lacoste e a sua revista Hrodote, que afirmam
que existem outras geopolticas (alm daquela do Estado, de Haushofer e Mackinder) e no
fundo propem a elaborao de uma geopoltica dos dominados.
Jos William Vesentini
94
No fundamental, esta uma questo ou um dilema que oscila entre
a necessidade e a tica, ou, numa perspectiva individualista, a
tentativa de conciliar o imperativo de sobrevivncia lato sensu numa
sociedade especfica com os princpios ou valores morais nos quais se
acredita. Esta questo acompanha os intelectuais e os cientistas em
geral e no apenas os gegrafos desde o advento do pensamento
racional na antiguidade (as crticas de Plato aos sofistas j
demonstram isso), ou talvez at antes disso. Provavelmente, o caso
mais exemplar a esse respeito, pelo menos no sculo XX, tenha sido o
dilema dos cientistas, especialmente fsicos, com a construo da
primeira bomba atmica no laboratrio de Los Alamos, Novo Mxico
52
.
Eles se engajaram nessa dura tarefa porque acreditavam estar ajudando
a derrotar o totalitarismo, mas, ao mesmo tempo, tinham conscincia de
que abriam uma caixa de Pandora, um poderoso instrumento de
destruio de obras e vidas humanas. Um outro exemplo clebre o do
filsofo Martin Heidegger, que, ao contrrio de inmeros
contemporneos (como a sua discpula Hannah Arendt, o gegrafo Leo
Waibel ou o mais famoso de todos os que abandonaram a Alemanha
devido ao nazismo, Albert Einstein), ficou na Alemanha no transcorrer
dos anos 1930, foi nomeado reitor da universidade de Freiburg e, de
acordo com inmeras evidncias, teria aderido entusiasticamente ao
regime nacional-socialista
53
. Este ltimo exemplo meridiano: o
nazismo representa praticamente tudo o que h de antitico, de
distoro dos princpios humanistas, democrticos e at mesmo
religiosos. Fica fcil, dessa forma, condenar aqueles pensadores que
trabalharam em prol desse regime e, em contrapartida, elogiar os que se
recusaram a faz-lo. Mas essa facilidade apenas aparente, ela se
aplica somente a determinados atos polticos do filsofo alemo e no
s suas ideias, s suas contribuies tericas, as quais, no final das
contas, so tidas como a grande obra do existencialismo e da
fenomenologia do sculo XX e, de forma explcita e incontestvel,
52
A pea teatral O caso Oppenheimer, de Heinar Kipphaardt, evidencia muito bem as
dvidas e os dilemas dos cientistas participantes do Projeto Manhattan, de 1945, do qual
resultou a primeira bomba atmica da histria.
53
Cf. FARIAS, Victor. Heidegger e o nazismo. So Paulo, Paz e Terra, 1988.
Ensaios de geografia crtica
95
influenciaram importantes autores liberais (como Hannah Arendt) e at
mesmo radicais (como Jean-Paul Sartre).
Qualquer teoria que, de fato, procure explicar (ou construir) algum
objeto segundo os cnones cientficos (algo que no tem nada a ver
com um mtodo nico e excludente), qualquer pesquisa cientfica
realizada de forma sria e honesta, sempre tem um valor que independe
da opo ideolgica do investigador. por isso que os dois grandes
nomes das cincias sociais da segunda metade do sculo XIX at
meados do sculo XX foram Marx e Weber, dois personagens com
opes ticas e ideologias bastante distintas
54
, mas que produziram
importantes obras que j foram utilizadas por autores com diferentes
concepes na economia, na sociologia, na cincia poltica, na
histria e mesmo na geografia. A prpria Escola de Frankfurt, ou teoria
crtica, que segundo alguns seria fundamental para alicerar a geografia
crtica
55
, fez amplo uso de ideias de Marx, de Weber, de Freud e at de
Heidegger. Essa natureza perscrutadora das ideias cientficas que
nada mais so que tentativas de explicar ou compreender algum aspecto
do real permite que elas sejam utilizadas de diferentes maneiras e por
diversos sujeitos, independentemente de seus princpios ticos ou de
seus posicionamentos polticos.
por isso que tanto Kropotkin quanto Mackinder, apesar de suas
sensveis diferenas no tocante a princpios e posicionamentos sobre o
colonialismo europeu e as desigualdades sociais e internacionais, ou
sobre o papel da geografia na sociedade, produziram ambos obras
clssicas e de alta relevncia cientfica. As ideias pedaggicas de
Kropotkin parecem ter sido escritas hoje, tal a sua atualidade: quase
que todas as reformas educacionais do final do sculo XX e desta
primeira dcada do sculo XXI, normalmente com base num
importante documento produzido sub o patrocnio da UNESCO
56
,
54
amplamente conhecido o fato de que Weber concebia uma tica da responsabilidade,
baseada principalmente em Maquiavel, ao passo que Marx convencionalmente visto como
um adepto da tica da convico ou de princpios. Cf. WEBER, Max. A poltica como
vocao. In: Cincia e Poltica, duas vocaes. So Paulo, Cultrix, 1998, p. 55-124.
55
UNWIN, op. cit., p. 262.
56
Cf. DELORS, J. (Org.). Educao, um tesouro a descobrir. Braslia, MEC/Unesco/Cortez,
1996.
Jos William Vesentini
96
reafirmam que o principal objetivo da atividade educativa combater
todas as formas de preconceitos ou esteretipos, aprendendo a conviver
ou viver junto com os outros. Mas tambm Mackinder no um
cachorro morto; suas teorias geopolticas, segundo alguns, ainda
continuam vlidas e imprescindveis para uma boa compreenso do
mundo ps-guerra fria
57
.
Entretanto, a imensa maioria dos intelectuais e cientistas em geral,
gegrafos includos, no produz teorias ou ideias novas, mas to
somente reproduz desta ou daquela forma as que existem. O problema
da utilidade do conhecimento, neste caso, no se refere tanto natureza
das ideias ou das teorias cientficas e, sim, s atividades que cada um
exerce. A realidade cotidiana desses profissionais da cincia prosaica,
com opes bem menos evidentes que aquelas de Oppenheimer ou de
Heidegger, que, no fundo, so casos extremos ou exemplos
paradigmticos. Quase ningum dispe de uma escolha to cristalina
como a de ajudar ou no a fabricao de uma bomba atmica, de
trabalhar ou no em proveito do regime nazista ou ento de poder optar
por exercer a sua profisso de forma a estar, de forma inequvoca,
contribuindo para a construo de uma sociedade mais justa e
igualitria. A quase totalidade dos intelectuais e cientistas sejam
filsofos, matemticos, fsicos, socilogos, historiadores ou gegrafos ,
a bem da verdade, possui limitadas opes de escolha sobre o que
fazer, que tipo de atividade exercer levando-se em conta os seus
princpios ticos. O que predomina a necessidade material aliada s
oportunidades, e estas dependem das circunstncias. Existem diversas
atividades comumente exercidas por esses profissionais: a educao
elementar e mdia, a universidade, as consultorias, as pesquisas de
opinio e de mercado, os planejamentos, as anlises ambientais,
eventualmente alguma assessoria para ONGs ou movimentos sociais
etc. Mas ningum pode asseverar, a priori, qual dessas atividades ou
ramos de atuao seria melhor do ponto de vista dos princpios de no
reproduzir o sistema e contribuir para minimizar as injustias e as
desigualdades sociais. Todos podem meramente reproduzir o status
57
Cf. MELLO, Leonel I. A. A geopoltica do poder terrestre revisitada. Lua Nova. So Paulo,
Cedec, 1994, n.34, p. 55-69.
Ensaios de geografia crtica
97
quo, como tambm podem contribuir para alter-lo; e essa alterao
tanto pode ser boa como ruim, tanto pode reduzir como ampliar as
injustias e desigualdades.
Existe um juzo bastante popular segundo o qual o trabalho num
movimento social ou numa ONG seria uma garantia do uso
politicamente correto do conhecimento cientfico. A nosso ver, isso
um equvoco. Apesar de importantssimas para a vida democrtica, as
ONGs, em geral, so norteadas pela promoo ou defesa de uma causa,
que defendem com unhas e dentes (mesmo que pesquisas cientficas
mostrem sua inadequao ou inoperncia; ou que pesquisas de opinio
pblica mostrem que so antidemocrticas). Isso sem falar que, nas
ltimas dcadas, a criao de ONGs virou um bom negcio e uma boa
parte delas est preocupada to somente com a sua expanso a qualquer
custo, com as verbas que pleiteiam junto aos governos ou s
instituies internacionais, com as contribuies dos simpatizantes e,
em geral, a sua principal atuao na mdia, com vistas a se
promoverem, a ficarem em evidncia, o que lhes permite conseguir
mais verbas ou mais contribuies voluntrias. Nesses termos, via de
regra malgrado existirem excees , elas apenas manipulam o
conhecimento cientfico com vistas aos seus objetivos. Quanto aos
movimentos sociais, apesar de, em mdia, serem indiscutivelmente
mais srios ou legtimos que as ONGs, tambm podem, eventualmente,
batalhar por causas corporativistas que se chocam com os interesses
maiores da sociedade; como tambm podem ser algo, infelizmente,
no muito raro no Brasil instrumentalizados por lideranas que visam
a interesses (ou valores) pessoais, com frequncia esprios, ora
dogmticos, ora meramente arrivistas (ou ambos). Ademais, nada
garante que um intelectual que trabalhe numa ONG sria ou num
movimento social legtimo (essas seriedade e legitimidade, bom
deixar claro, nunca so eternas ou constantes e sempre variam de
acordo com as circunstncias) v de fato produzir algo de relevncia ou
de valor cientfico. No incomum que ele apenas reproduza, com
outras palavras, com uma roupagem mais ou menos acadmica, o
discurso das lideranas ou de certas lideranas , nem sempre
correspondendo aos anseios dos participantes comuns (e muito menos
aos da sociedade em geral). Esse vis, normalmente, resultado de um
Jos William Vesentini
98
excesso de engajamento com uma correlata ausncia de distanciamento
crtico, ou melhor, uma forte e ingnua identificao desse
empreendimento com determinados sonhos ou desejos pessoais, fato
que gera uma recusa inconsciente de enxergar as suas tenses e
contradies. o deslumbramento estorvando o rigor da anlise.
Isso explica porque raramente encontramos uma produo cientfica de
qualidade, a respeito de processos vistos como inovadores ou
revolucionrios, por parte de intelectuais que estavam neles engajados.
Quase toda contribuio terica importante de autores coetneos a esses
processos, que de fato compreenderam os seus diferentes aspectos e,
muitas vezes, at anteciparam o seu devir, foi produzida por pessoas
que estavam margem deles, ou que, mesmo participando, lograram
manter sua autonomia intelectual. Basta lembrar que as duas mais
importantes anlises coevas da revoluo russa de 1917 no foram
engendradas por simpatizantes que vivenciaram e participaram
ativamente dos acontecimentos, mas, sim, por dois pensadores crticos
e que no deixaram o redemoinho das paixes anular o seu
discernimento: Kropotkin e Rosa Luxemburgo
58
. Ambos eram
entusiastas defensores de uma futura sociedade socialista e igualitria,
ambos viam com regozijo os sovietes ou movimentos espontneos de
camponeses, operrios e soldados. Mas nenhum deles permitiu que seus
desejos tampouco a amizade com alguns protagonistas
obscurecessem a sua percepo e conscincia crtica. Eles acertaram em
cheio nas suas apreciaes sobre o significado essencial dos
acontecimentos, enxergando com clareza que, ao contrrio do discurso
de personagens mitificados (como Lnin ou Trotsky), a realidade nua e
crua que se iniciava em outubro de 1917 a implantao de um regime
burocratizado e repressor das mais elementares liberdades
democrticas, em suma, a emergncia da primeira experincia
totalitria do sculo XX.
Fica a lio: nenhum tipo de atividade, por si s, garante o uso
politicamente correto dos conhecimentos cientficos e/ou
58
LUXEMBURG, R. A Revoluo Russa. Lisboa, Ulmeiro, 1975 (original de 1918); e
KROPOTKIN, P. Cartas a Lnin (1920). In: ZEMLIAK, M. (Org.) Kropotkin Obras. Barcelona:
Editorial Anagrama, 1977, p. 270-294.
Ensaios de geografia crtica
99
geogrficos. Tudo depende do contexto e da forma especfica de
atuao. E o engajamento, por princpio algo louvvel, no deve nunca
obstaculizar o imprescindvel distanciamento crtico, pois, sem ele, no
h uma produo de conhecimento cientfico de qualidade a respeito do
social-histrico. Esse debate ou desafio a respeito do por que e para que
serve ou deveria servir a geografia, enfim, continua atual e no
resolvido, porquanto no um problema apenas terico e, sim, prxico
no sentido de ao humana com suas determinaes e indeterminaes.
Ou seja, essa no uma problemtica que pode ser teorizada de uma
forma nomottica ou universal. uma questo que se repe
constantemente, ontem, hoje e sempre, embora com diferentes
roupagens. Ela envolve circunstncias, formas de luta e estratgias,
alm de princpios, que no so eternos e imutveis, mas que, pelo
contrrio, conhecem nuanas ou, s vezes, se metamorfoseiam, na
medida em que o discurso cientfico uma forma de poder e as relaes
de poder so complexas, dinmicas e instveis, so relaes sociais e
histricas plenas de tenses e conflitos.
Jos William Vesentini
100
101
O que crtica?
Ou qual a crtica da geografia crtica?
*
Geografia ou geografias crticas. A bibliografia da/sobre essa vertente
geogrfica j bastante significativa. Entretanto, uma dvida se impe:
o que crtica? Em que sentido esse verbete vem sendo empregado
na(s) geografia(s) crtica(s)? Qual , afinal, o significado do adjetivo
crtico, frequentemente utilizado, algumas vezes com diferentes
sentidos, em vrias reas do conhecimento? (Basta lembrarmos das
ideias de reflexo crtica, atitude crtica, teoria crtica, pensamento
crtico, ensino crtico, pedagogia crtica, racionalismo crtico e
inmeras outras).
Esta preocupao, longe de ser diletante ou superficial, algo que se
impe fortemente com as mudanas na realidade social, em especial
com a crise terminal do antigo mundo socialista e com a relativizao
das noes polticas de esquerda e direita, as quais, para muitos, no
tm mais sentido na realidade atual. Como iremos esquadrinhar logo
adiante, a noo de crtica (especialmente a de crtica social), a partir da
Revoluo Francesa e principalmente no transcorrer do sculo XIX,
viu-se associada ideia poltica de uma esquerda, isto , queles que
propugnavam uma mudana radical na sociedade com vistas a uma
maior igualdade e liberdade. Por isso, tornou-se muito comum a
identificao das noes de crtica e de radical, algo que tambm
iremos problematizar.
*
Texto elaborado em 2009 para a revista Geousp, So Paulo, Depto. de Geografia da FFLCH-
USP, no prelo.
Jos William Vesentini
102
Para incio de conversa, a verdade que ningum mais sabe ao certo o
que esquerda e direita hoje. Isso por vrias razes. Pelo fracasso de
todas as experincias autodenominadas socialistas, fundamentadas bem
ou mal no marxismo e tendo se apresentado como crticas ao
capitalismo e alternativas radicais a ele. Pela crescente
complexizao da sociedade moderna, em especial com o declnio das
lutas trabalhistas que tanto marcaram o sculo XIX e a primeira metade
do XX, lutas essas sempre identificadas com a esquerda e com todas as
vertentes libertrias ou socialistas. Pelo advento de novos sujeitos e
frentes de lutas no plural feministas, ecolgicas, tnicas, de
orientao sexual, de moradia, de imigrantes de regies pobres em
reas mais desenvolvidas etc. , por vezes at antagnicos. Pela
expanso e o enorme poderio da mdia, a qual, juntamente com as
pesquisas de opinio, faz com que praticamente todos os partidos
polticos reformulem os seus discursos em funo do que o pblico
quer neste ou naquele momento, independentemente de sua posio
ideolgica (se que isso ainda existe). Por tudo isso, reiteramos, as
noes de esquerda e direita tornaram-se problemticas para definir
todo um espectro de posies polticas no mundo atual. Existe ainda
uma perda de referncias. A grande bandeira de luta da velha e herica
esquerda, aquela do sculo XIX e da primeira metade do sculo XX, a
de uma sociedade utpica
1
que garantisse concomitante o mximo de
liberdade e de igualdade, foi completamente destroada por inmeros
acontecimentos e estudos cientficos: pela soturna realidade de todos os
socialismos reais, em primeiro lugar, e tambm por pesquisas e
reflexes lgico-matemticas, tais como, por exemplo, aquelas do
prmio Nobel de economia Amartya Sen, nas quais se demonstra
1
Na verdade, estamos generalizando de forma proposital para evitar uma digresso sobre as
controvrsias a respeito da utopia no pensamento crtico (que nunca foi nem apenas
marxista), no qual h autores que a exorcizam e outros que a assumem. Por exemplo: Marx e
Engels, em primeiro lugar, alm de grande parte dos marxistas do incio do sculo XX (Lnin,
Trotsky, Rosa Luxemburgo, Kautsky e outros) nunca foram adeptos da utopia e, pelo contrrio,
desancaram os socialistas utpicos, acreditando firmemente que o socialismo no era uma
ideia utpica e, sim, cientfica, um resultado de leis inexorveis da Histria (assim mesmo,
com H maisculo). A respeito da averso do pensamento marxiano pela utopia remeto s
anlises de FAUSTO, Ruy: A esquerda difcil. So Paulo, Perspectiva, 2007, p. 31-50. Em todo o
caso, no h dvida de que, durante o transcorrer do sculo XX, o projeto socialista passou a
ser visto como utpico e essa defasagem entre cincia e utopia se estreitou sensivelmente.
Ensaios de geografia crtica
103
cabalmente que impossvel existir um mximo de igualdade sem
sacrificar a liberdade e vice-versa
2
.
Nesses termos, alguns autores que se consideram progressistas e
apregoam um mundo melhor, com maior justia entendida como
garantias para as liberdades democrticas, que no so algo eterno e
acabado e, sim, partes de um processo de constante criao e
reinveno de direitos e igualdade (embora nunca total), falam em ir
alm da esquerda e da direita
3
, enquanto alguns poucos outros
despendem os maiores esforos no sentido de conservar, embora
redefinindo, essas categorias polticas
4
.
A manuteno desses rtulos algo que no Brasil e na Amrica Latina
em geral um esforo quase exclusivo da autodenominada esquerda,
sendo que, nos Estados Unidos, ao inverso, mais identificado com os
conservadores no deixa de pagar um elevado preo terico. De fato,
trata-se mais de um apego a uma identidade vista como positiva
(esquerda na Amrica Latina e direita nos Estados Unidos), que, no
fundo, faz parte da autodefinio de certas pessoas e grupos, uma
tentativa de se manter fiel a um certo passado (ou a determinadas
tradies) e, no extremo no caso de alguns partidos , algo que visa
angariar simpatias e votos.
Sem dvida que existem tericos srios e bem-intencionados
procurando manter esses rtulos polticos. No estamos nos referindo a
autores panfletrios com visveis insuficincias tericas, que no
conseguem ir alm do marxismo-leninismo, do tipo Igncio Rangel,
Emir Sader, Robert Kurz e outros, que escrevem como se ainda
vivssemos no sculo XIX, se recusando a analisar seriamente e
aprender com a experincia dos totalitarismos (nazismo e
comunismo), que menosprezam as conquistas democrticas. Pensamos
em tericos do calibre de Norberto Bobbio e Ruy Fausto
5
, dentre
2
SEN, Amartya. Desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro, Record, 2001.
3
Cf. LEFORT, Claude. A inveno democrtica. So Paulo, Brasiliense, 1983; e GIDDENS, A.
Para alm da Esquerda e da Direita. So Paulo, Unesp, 1995.
4
BOBBIO, N. Esquerda e Direita. So Paulo, Editora Unesp, 1995; e FAUSTO, R. A esquerda
difcil, op. cit.
5
Idem, idem.
Jos William Vesentini
104
poucos outros. Bobbio, por exemplo, acredita que a esquerda, hoje,
define-se fundamentalmente pela busca de uma maior igualdade social,
enquanto a defesa da liberdade seria mais um atributo da direita. E
Fausto pensa que uma esquerda nos dias atuais deve ser defensora
intransigente da democracia por sinal, Bobbio tambm advoga essa
posio, embora identificando democracia com o liberalismo, algo que
Fausto repudia e ir alm do marxismo (posio tambm defendida
pelo liberal Bobbio), deixando de lado a ideia de uma ditadura do
proletariado (ou de qualquer outro tipo de ditadura) e mesmo a de uma
economia planificada sem a propriedade privada nos moldes
genericamente apontados por Marx, recuperando o ideal anarquista e
socialista utpico de autogesto, de cooperativas de pequenos
produtores ou trabalhadores etc.
Essas proposies, contudo, embora sejam as mais palatveis (sem
dvida que as mais democrticas) entre os que se autointitulam
esquerda, nos parecem, em certa medida, frgeis. Primeiro, no caso de
Bobbio, significaria deixar de lado os reclames por liberdades (contra
as prises arbitrrias e a tortura, contra a violao dos direitos
humanos, pela ampliao dos direitos das mulheres, dos homossexuais,
das etnias minoritrias, dos idosos etc.) para a direita, algo
evidentemente absurdo e oposto a toda tradio progressista da
esquerda. certo que Bobbio assinalou que a liberdade mais defendida
pela direita a do mercado, mas, mesmo assim, insistiu em que a
bandeira de luta da esquerda basicamente a igualdade e no as
liberdades. Entretanto, mesmo a liberdade do mercado algo que nos
dias atuais inclui a proteo dos consumidores, o combate aos cartis e
monoplios, inclusive queles estatais etc. fundamental para
qualquer democracia moderna, na medida em que ainda no foi
encontrado um substituto aceitvel. Durante algum tempo pensou-se
que a estatizao e a planificao da economia fossem melhor que o
mercado, mas isso j foi completamente descartado ao ponto de alguns
autores da new left, inclusive economistas que participaram de planos
quinquenais na Hungria e na China na poca em que vigorava a
economia planificada, terem afirmado que, se houver um novo
Ensaios de geografia crtica
105
socialismo no sculo XXI, sem dvida que ele ter por base a economia
de mercado
6
.
Depois, existe o fato bvio de que somente a vigncia da democracia,
logo, das liberdades e da participao, que se pode garantir um
mnimo de igualdade mas nunca total, pois isso um sonho utpico
no sentido literal da palavra (isto , que no existe em lugar algum),
tal como a ilha imaginada por Thomas Morus. Na prtica, a prpria
vigncia das liberdades conduz a certa desigualdade na medida em que
as pessoas e os grupos so desiguais nas suas potencialidades, nas suas
necessidades, no seu valor de barganha para a sociedade, na
criatividade ou nas formas de luta etc. E tentar impor uma igualdade
total atravs da nica forma possvel, qual seja, pela fora atravs de
um regime no democrtico um partido nico no poder (ou um lder
carismtico) que diz representar os trabalhadores ou o povo , como foi
demonstrado exaustivamente, algo que sempre resulta em privilgios
abusivos para alguns, que mandam e desmandam de forma arbitrria,
que usam em seu proveito pessoal os bens tidos como pblicos.
Quanto posio de Fausto, acredito que de fato seja interessante
investir esforos na busca de alternativas libertrias do tipo economia
com base em cooperativas, autogesto em empresas e outras
instituies etc. O problema que, muitas vezes, essas experincias
cooperativas ou autogestionrias resultam na ditadura de uma pessoa ou
um grupo; ou ento na promoo de interesses corporativos ou de
grupelhos especficos que so opostos aos interesses maiores da
sociedade. No podemos continuar a ser ingnuos hoje, depois de
tantas experincias de manipulao de assemblias basta lembrar,
sem a menor pretenso em denegar, de inmeras instrumentalizaes
da vontade popular em alguns oramentos participativos , a respeito
do assemblesmo. Vistas de regra existem partidos ou grupelhos
organizados que conseguem impor os seus pontos de vista apriorsticos
nas resolues, seja pelo cansao da maioria, seja pela manipulao dos
votos. E, ao contrrio de Bobbio, Fausto no enfrenta o dilema da
igualdade versus a liberdade; ele continua tal como no sculo XIX a
escrever como se essa antinomia no existisse. Parodiando o ttulo do
6
Cf. NOVE, Alec. A economia do socialismo possvel. So Paulo, tica, 1989.
Jos William Vesentini
106
seu livro, podemos dizer que, de fato, difcil ser (inequivocamente) de
esquerda como tambm de direita no sculo XXI.
Essa polmica evidentemente j chegou at a geografia crtica. Desde a
ltima dcada do sculo XX, logo depois da debacle do socialismo real
no Leste europeu e na ex-Unio Sovitica, surgiram vrias listas de
discusso ou fruns, como se denominam na Internet a respeito do
que seria uma geografia crtica hoje
7
. Dando uma rpida espiada em
algumas dessas mensagens pois praticamente impossvel ler todas
(so milhares), algo que provavelmente nem mesmo o mediador de
cada um desses grupos consegue fazer , logo se percebe que no existe
sequer um mnimo consenso entre os participantes a respeito do que
ou deveria ser uma geografia crtica: para alguns, sinnimo (ou no
mnimo complementar) ao adjetivo radical, e/ou do adjetivo socialista
(embora nunca fique claro que tipo de socialismo); para outros,
simplesmente de denncia de grupos neonazistas, de alguma forma de
desigualdades ou injustias, ou de agresses natureza em qualquer
parte do mundo, e assim por diante.
Tambm em livros e artigos acadmicos esse debate se encontra em
andamento. Dois gegrafos britnicos, apesar de admitirem haver
inmeras desavenas sobre o que seria esquerda, concluram o seu
artigo de forma extremamente otimista, afirmando que ela, hoje,
representa o futuro
8
. Esse texto suscitou um enorme debate. Tanto
que j considerado o ensaio mais citado entre todos os que j foram
publicados nessa revista Antipode , que em 1969 inaugurou a
geografia radical anglo-saxnica. Nesse mesmo nmero da revista
existe um dilogo com esse texto, por parte de um autor marxista que
censura a nfase no pluralismo em Thrift e Amin e os chama de
forma depreciativa, pois acredita por um motivo obscuro qualquer (no
explicitado) que h semelhanas entre o pluralismo cientfico e a
converso ao neoliberalismo da esquerda trabalhista britnica (Tony
7
Por exemplo, http://www.jiscmail.ac.uk/lists/crit-geog-forum.html, frum de geografia
crtica existente desde maro de 1996.
8
THRIFT, Nigel e AMIN, Ash. What is Left ? Just the Future. In : Antipode. A Radical Journal of
Geography. Vol.37, Issue 5, November 2005, p. 220-238.
Ensaios de geografia crtica
107
Blair e outros) de neocrticos
9
. Logo no ano seguinte, veio uma
interveno de uma gegrafa norte-americana, que estranhou tanto
otimismo ou tanta ingenuidade por parte daqueles dois autores num
momento em que inegavelmente a esquerda se encontra em crise
10
.
Outro autor norte-americano, nesse mesmo ano, assinalou para horror
de autores como Smith que, a partir do final dos anos 1980 nos
Estados Unidos, por influncia do pensamento ps-moderno em
ascenso, que gradativamente passou a substituir o neomarxismo como
referncia terica nos crculos engajados da geografia acadmica,
pouco a pouco a bandeira de uma geografia radical foi sendo
substituda pela de geografia crtica
11
.
Considero pertinente este ltimo ponto de vista, pois na verdade a
proposta de uma geografia crtica surgiu primeiramente na Frana, em
1976, com Yves Lacoste e outros participantes da revista Hrodote, que
desde o incio se mostraram reticentes em relao ao marxismo e
incorporaram ideias de pensadores anarquistas (Rclus) e,
principalmente, ps-modernos (Foucault). Esse gegrafo francs
chegou mesmo a assinalar, de forma foucaultiana, que o marxismo
negligenciou o espao em prol de uma supervalorizao do tempo
12
.
bem verdade que com a expanso da geografia crtica para a Itlia,
Espanha, Brasil e outros pases da Amrica Latina, um certo marxismo-
leninismo com fortes influncias de Althusser e discpulos passou a
ocupar o lugar do pensamento ps-moderno, pelo menos em grande
parte, conforme j havamos assinalado em dois textos dos anos 80
13
.
9
SMITH, Neil. What is left? Neo-critical Geography, or the flat pluralist world of business
class. In: Antipode. A Radical Journal of Geography. Vol.37, Issue 5, november 2005, p. 887-
889.
10
WILLS, Jane. Whats left? The left, its crisis and rehabilitation. In: Antipode. A Radical
Journal of Geography. Vol.38, Issue 5, November 2006, p. 907-15.
11
BLOMLEY, Nicholas. Uncritical critical Geography? In : Progress in Human Geography.
Vol.30, n.1, 2006, p. 87-94.
12
LACOSTE, Y. A Geografia isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas,
Papirus, 1988, p. 139-51.
13
VESENTINI, J. W. Percalos da geografia crtica: entre a crise do marxismo e o mito do
conhecimento cientfico. In: Anais do 4. Congresso Brasileiro de Gegrafos. So Paulo, AGB,
1984, Livro 2, Vol.2, p. 423-32 e Geografia e discurso crtico (da epistemologia crtica do
conhecimento). In: Revista do Departamento de Geografia 4. So Paulo, USP, 1985, p. 7-13.
Jos William Vesentini
108
Basta lembrar, para exemplificar, do livro extremamente dogmtico do
gegrafo italiano Massimo Quaini
14
, que conseguiu enxergar nos
escritos de Marx e de Engels toda uma anlise e at mesmo a soluo
para os problemas ambientais e territoriais hodiernos! Em todo o caso,
mesmo continuando a existir uma forte presena de marxistas
ortodoxos nesta geografia aqueles que tm por base terica e
filosfica os escritos de Lnin, Althusser e discpulos como Martha
Harnecker (com a sua leitura estruturalista e empobrecida da obra de
Marx), o velho Lckas ou Trotsky , no h dvidas de que ela
avanou no sentido de incorporar autores marxistas heterodoxos ou
neomarxistas (como Lfebvre), intelectuais ps-marxistas (como
Habermas) e at mesmo ps-modernos (como Foucault, Guattari,
Giddens e outros).
Prosseguindo com o seu pensamento, o mencionado gegrafo norte-
americano questiona sobre o que seria de fato uma atitude crtica e
coloca a seguinte dvida: ser que todos ns, que dizemos praticar uma
geografia crtica, somos realmente crticos?
15
. Ele ainda se pergunta,
com base num questionamento de um colega seu da universidade (cujo
nome no mencionou), se o adjetivo crtico, na verdade, no se tornou
redundante; e afirma que a tradio crtica nas cincias sociais teria
comeado com Marx, que num trecho clebre decretou: Entretanto os
filsofos somente tm interpretado, de vrias maneiras, o mundo. A
questo principal transform-lo
16
. A meu ver, o autor acertou em
cheio ao questionar o significado de crtica (ou mesmo de radical, num
outro plano) nos dias de hoje. Mas errou completamente ao identificar
o conceito de crtica com esse chamado ao engajamento que Marx
proclamou em 1845 nas suas Teses contra Feuerbach. Como iremos
mostrar a seguir, esse um tremendo desacerto, tpico da geografia
anglo-saxnica em geral que, via de regra, no conseguiu discernir os
significados (diferentes) de crtica e de radical, nem tampouco
esquadrinhar o longo percurso, que comeou muito antes de Marx, da
crtica na vida social e poltica.
14
QUAINI, M. Marxismo e Geografia. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979.
15
BLOMLEY, 2006, op. cit., p. 87.
16
MARX, K., apud BLOMLEY, op. cit.
Ensaios de geografia crtica
109
Ipso facto, este nosso ensaio constitui uma modesta tentativa de
contribuio, por meio de uma releitura dos significados de crtica em
primeiro lugar, e tambm dos adjetivos radical e esquerda. Uma
releitura que vai at as origens e procura mostrar as mudanas que a
noo de crtica sofreu em alguns momentos histricos cruciais.
Tentaremos, principalmente, polemizar o que significa uma atitude
crtica hoje e se essa adjetivao ainda necessria na geografia do
sculo XXI.
Vamos iniciar pela semntica. No senso comum, a palavra crtica
normalmente vista sob um vis negativo, enquanto uma censura ou
condenao, como um julgamento sempre desfavorvel. Criticar, no
entendimento comum, amide encontrvel na mdia, em filmes, em
discursos polticos e mesmo em assemblias populares ou trabalhistas,
significa basicamente falar mal de alguma pessoa, ideia ou teoria, de
algum projeto ou de alguma proposio
17
. Entretanto, essa no a
acepo filosfica e cientfica do conceito. Na filosofia, na
epistemologia e nas cincias humanas em geral, o significado de crtica
o de um procedimento que implica em discernimento, critrio,
apreciao minuciosa e julgamento que no precisa ser,
necessariamente, negativo. Mais ainda: um procedimento tido como
necessrio e at mesmo imprescindvel para o aprimoramento e o
avano do conhecimento
18
.
Etimologicamente, a palavra crtica vem do grego kritiks, que
significa o ato de examinar ou julgar alguma coisa. Essa palavra um
derivativo do vocbulo grego krin, que pode ser entendido como a
17
At mesmo alguns poucos cientistas sociais incorporaram esse vis equivocado. Um autor
brasileiro bastante citado e tido como especialista em metodologia cientfica, por exemplo,
asseverou que: Do ponto de vista metodolgico, critica sempre negativa. Crtica positiva
outra coisa, quer dizer, elogio. (DEMO, Pedro. Mitologias da avaliao. So Paulo, Cortez,
2002, p. 30).
18
A postura crtica torna-se, assim, um instrumento de pesquisa: a crtica um instrumento
de progresso [cientfico]; a crtica que distingue a postura cientfica da experincia pr-
cientfica, onde se fazem erros e se espera at que se esteja arruinado com eles [...] Quando se
tem postura crtica, explora-se os erros de forma positivamente crtica, aprendendo-se
conscientemente a partir deles. (POPPER, Karl. O racionalismo crtico na poltica. Braslia,
Editora da UNB, 1994, p. 51).
Jos William Vesentini
110
capacidade de distinguir, de estabelecer uma distino
19
. Com os
gregos da antiguidade, portanto, os criadores do vocbulo, a crtica
implicava numa reflexo, num ato reflexivo no qual se avaliava ou
examinava alguma coisa: uma ideia, uma teoria, um comportamento,
uma pea de teatro, uma obra literria etc. Uma avaliao tanto dos
aspectos positivos como negativos, um julgamento, digamos assim, da
qualidade dessa coisa, de sua validade ou veracidade (total ou
parcial) e de seus erros ou equvocos (idem).
Michel Foucault procurou datar o momento em que a crtica passa a ter
um significado poltico. Numa conferncia pronunciada em 1978 na
Sociedade Francesa de Filosofia, ele afirmou que, no Ocidente, com o
advento da modernidade, especialmente entre os sculos XV e XVI, a
palavra crtica comea a denotar um tipo de posio poltica, uma
oposio ao ato de governar, que, convm recordar, naquele momento
se identificava com a nascente monarquia absolutista. Na interpretao
desse autor:
Eu proporia ento, como uma primeira definio da crtica,
esta caracterizao geral: a arte de no ser de tal forma
governado. No querer ser governado assim, no no
mais querer aceitar essas leis porque elas so injustas,
porque, sob sua antiguidade ou sob o seu brilho mais ou
menos ameaador que lhes d a soberania de hoje, elas
escondem uma ilegitimidade essencial. A crtica ento,
desse ponto de vista, em face do governo e obedincia
que ele exige, opor direitos universais e imprescritveis,
aos quais todo governo, qual seja ele, que se trate do
monarca, do magistrado, do educador, do pai de famlia,
dever se submeter. questo como no ser
governado?, responde-se dizendo: quais so os limites
do direito de governar?
20
.
19
Cf. SIERRA, Pelayo Garcia. Diccionario Filosfico. Biblioteca Filosofa en Espaol, Oviedo,
1999 ; e tambm CARROLL, Robert. The Skeptics Dictionary, disponvel in
http://www.skepdic.com/, consultado em julho de 2007.
20
FOUCAULT, M. Qu'est-ce que la critique? Critique et Aufklrung. In : Bulletin de la Socit
Franaise de Philosophie, Vol. 82, n 2, avr/juin 1990, p. 35-63.
Ensaios de geografia crtica
111
Mas foi com Kant, no sculo XVIII, que a crtica assumiu o seu
significado moderno, praticamente o mesmo posteriormente retomado
por Hegel, por Marx e por tantos outros filsofos ou cientistas sociais
que se utilizaram desse conceito para definir alguma teoria ou corrente
de pensamento: Adorno e Horkheimer com a sua teoria crtica, Karl
Popper com o seu racionalismo crtico, Paulo Freire e Giroux, dentre
outros, com a proposta de uma pedagogia crtica etc. Tanto que a
filosofia kantiana tambm conhecida pelo nome de criticismo
21
. Sua
monumental obra, Crtica da Razo Pura, uma tentativa de examinar
minuciosamente as propriedades da razo pura, aquela desligada da
experincia, estabelecendo os seus limites. No se trata, porm, de uma
radical negao da razo e, sim, uma autocrtica desta, uma espcie de
continuao do projeto iluminista de, utilizando a razo com base na
cincia moderna, combater todas as formas de escurido (ignorncia
por crenas e supersties, dogmatismo religioso, autoritarismo no
conhecimento e na vida poltica). Nas suas palavras:
O objetivo desta Crtica da razo pura especulativa reside
na tentativa de mudar o procedimento tradicional da
Metafsica e promover assim uma completa revoluo nela
segundo o exemplo dos gemetras e investigadores da
natureza [...] Com base num lance superficial de olhos
sobre esta obra, poder-se-ia pensar que a sua utilidade seja
somente negativa, ou seja, de no ousarmos jamais elevar-
nos com a razo especulativa acima dos limites da
experincia [...] Ela se tornar, porm, imediatamente
positiva quando nos dermos conta de que os princpios,
com cujo apoio a razo especulativa ultrapassa os seus
limites, na verdade tm como resultado inevitvel, se os
observarmos mais de perto, no uma ampliao mas uma
restrio do uso da nossa razo [...] Contestar a utilidade
positiva deste servio prestado pela Crtica equivaleria a
dizer que a polcia no possui nenhuma utilidade positiva
por ser a sua principal ocupao fechar a porta
violncia
22
.
21
LEGRAND, Gerard. Dicionrio de Filosofia. Lisboa, Edies 70, 1986, p. 103-4.
22
KANT, I. Crtica da Razo Pura. So Paulo, Abril Cultura, Col. Os Pensadores, 1974, p.14-5.
Jos William Vesentini
112
A crtica, nesses termos, no somente negativa o falar mal de algo
ou mesmo somente apontar lacunas, problemas, insuficincias,
contradies , mas tambm positiva na medida em que auxilia no
avano ou no aprimoramento do objeto criticado, promove, enfim, uma
revoluo no sentido de propor novas alternativas ou perspectivas. Mas
o criticismo kantiano vai mais alm. Prosseguindo com a interpretao
de Foucault, temos que a crtica kantiana vincula-se de
esclarecimento, isto , da conquista da maioridade pelo ser humano:
A definio que Kant dava de crtica no distante de
como ele entendia a Aufklrung [esclarecimento,
ilustrao]. caracterstico, com efeito, que, em seu texto
de 1784 sobre o que a Aufklrung, ele a definiu em
relao a um certo estado de menoridade no qual estaria
mantida, e mantida autoritariamente, a humanidade. Em
segundo lugar, ele caracterizou essa menoridade por uma
certa incapacidade na qual a humanidade estaria retida,
incapacidade de se servir de seu prprio entendimento sem
alguma coisa que fosse justamente a direo de um outro
[...] Em terceiro lugar, creio que caracterstico que Kant
tenha definido essa incapacidade por uma certa correlao
entre uma autoridade que se exerce e que mantm a
humanidade nesse estado de menoridade, correlao entre
este excesso de autoridade e, de outra parte, algo que ele
considera, que ele chama uma falta de deciso e de
coragem. [...] Enfim, caracterstico que, nesse texto Kant
d como exemplos de reteno da menoridade da
humanidade, e por consequncia, como exemplos, pontos
sobre os quais a Aufklrung deve erguer esse estado de
menoridade e maioridade em, certo tipo, os homens,
precisamente a religio, o direito e o conhecimento. O que
Kant descrevia como a Aufklrung, o que eu tentei at
agora descrever como a crtica, como essa atitude crtica
que se v aparecer como atitude especfica no Ocidente a
partir, creio, do que foi historicamente o grande processo
de governamentalizao da sociedade. Com relao a essa
Aufklrung (cujo emblema, vocs bem o sabem e Kant
lembra, sapere aude [atreva a conhecer, a pensar por
Ensaios de geografia crtica
113
conta prpria], praticamente um contraponto a uma outra
voz, aquela de Frederico II, que dizia que eles raciocinem
tanto quanto querem contanto que obedeam). Como
Kant vai definir a crtica? Eu diria que a crtica ser aos
olhos de Kant o que ele dir ao saber: voc sabe bem at
onde pode saber? Raciocina tanto quanto queira, mas voc
sabe bem at onde pode raciocinar sem perigo? A crtica
dir, em suma, que est menos no que ns empreendemos,
com mais ou menos coragem, do que na ideia que ns
fazemos do nosso conhecimento e dos seus limites, que a
vai a nossa liberdade, e que, por consequncia, ao invs de
deixar dizer por um outro obedea, nesse momento,
quando se ter feito do seu prprio conhecimento uma
ideia justa, que se poder descobrir o princpio da
autonomia e que no se ter mais que escutar o obedea;
ou antes que o obedea estar fundado sobre a autonomia
mesma
23
.
Nesses termos, a crtica para Kant implica um projeto de autonomia, de
libertao da razo das amarras do autoritarismo, do tradicionalismo e
das crendices. uma contribuio para a revoluo democrtica no
sentido de maior autonomia da humanidade e dos indivduos ou
cidados, isto , de ousar pensar o impensvel, de raciocinarmos por
conta prpria independentemente dos dogmas e das proibies. Ou seja,
um convite a mudar o mundo no sentido de construir uma sociedade
com maior justia e igualdade, com maior progresso cientfico, com
esclarecimento enfim. No podemos negligenciar que, em grande parte,
a obra de Kant representa certa continuao do iluminismo e, ao
mesmo tempo, reflete uma admirao pela Revoluo Francesa.
Hegel retomou essa concepo de crtica, mesmo procurando sua
maneira superar o criticismo kantiano. Sabemos que ele valorizou a
Histria com H maisculo, vista como a realizao paulatina da razo
atravs de etapas ou avatares, num processo teleolgico com um final
pr-definido. A dialtica, para ele, no apenas um procedimento
visto como algo sem grande importncia de oposio (tese e anttese)
23
FOUCAULT, M. Op. cit., p. 40.
Jos William Vesentini
114
que gera uma sntese, como em Kant. Para Hegel, a dialtica
supervalorizada e tem uma dimenso ontolgica: ela se d ou surge no
mundo sob a forma dos processos histricos. A dialtica hegeliana no
pretende ser apenas uma forma de lgica, mas tambm uma ontologia.
De forma extremamente pretensiosa, ela se apresenta como a verdade
o que capta a essncia ou o movimento da Histria.
Marx prosseguiu com esse vis hegeliano da dialtica como a
realizao da Histria, sendo esta uma dinmica complexa que
atravessaria vrias fases e, afinal, desembocaria na completa libertao
do ser humano. Afirmando ter colocado Hegel em posio invertida,
com os ps no cho, ele substituiu a razo ou o esprito pelas condies
materiais e a luta de classes, que tambm num processo teleolgico, por
etapas, conduziriam ao socialismo e, aps um perodo de transio, ao
comunismo, a Histria enfim realizada ou acabada. Sua principal obra,
O Capital, tem como subttulo Crtica da Economia Poltica, numa
inegvel inspirao kantiana na qual a crtica uma superao com
subsuno e, mais ainda, um procedimento revolucionrio que aponta
para uma libertao do ser humano, para uma completa autonomia no
futuro. Procurando estabelecer os limites da economia poltica clssica
(de Adam Smith, David Ricardo e outros) que seria, antes de tudo,
uma economia burguesa ou justificadora do sistema capitalista , Marx
acreditou ter encontrado a sua superao com a anlise das contradies
do capitalismo, o qual inexoravelmente cederia lugar a um novo modo
de produo sem a propriedade privada dos meios de produo.
Ao contrrio do que pensam alguns, a crtica de Marx ao capitalismo e
economia poltica no significou uma crtica negativa no sentido de
apenas apontar erros, problemas, mistificaes ou contradies. Como
mostrou com propriedade Berman
24
, na obra de Marx muito mais
do que na de Ricardo, de Smith, de Keynes ou de qualquer outro autor
tido como idelogo da economia de mercado que vamos encontrar os
mais rasgados elogios ao capitalismo, em especial ao imenso
progresso que ele promoveu, sua misso civilizadora, criao
de um mercado mundial integrado. O sentido que Marx dava ao termo
24
BERMAN, Marshall. Tudo que slido desmancha no ar. A aventura da modernidade. So
Paulo, Companhia das Letras, 1987, p. 85-125.
Ensaios de geografia crtica
115
crtica, convm repetir, era o de um procedimento kantiano de entender
profundamente algo, inclusive nos seus aspectos positivos, assinalando
a sua importncia histrica e, ao mesmo tempo, apontando os seus
limites ou as suas insuficincias (ou as suas contradies, nos termos
da dialtica hegeliana).
Sabemos que, a partir do final do sculo XIX e at o final do sculo
XX , a noo de crtica esteve identificada basicamente com o
marxismo, como se fosse um atributo somente da esquerda (vista
como os adeptos do socialismo) e tendo o capitalismo como objeto
privilegiado, o alvo por excelncia das crticas. No entanto, ao contrrio
do procedimento crtico adotado por Marx, o marxismo posterior, com
raras excees, somente viu aspectos negativos e inaceitveis no
capitalismo (e mesmo na democracia!), como se este fosse um sistema
que de forma inelutvel amplia as desigualdades e entrava o
progresso, isto , o desenvolvimento das foras produtivas.
evidente que, hoje, essa leitura precisa ser reexaminada e superada.
Precisa ser criticada enfim. No mais possvel levar a srio a
concepo de dialtica como portadora do segredo da histria, ou como
o mtodo cientfico por excelncia; muito menos, a existncia de um
sujeito qualquer (o proletariado, os trabalhadores, o esprito, as massas,
a multido, os movimentos sociais, as ONGs ou qualquer outro agente)
que seria o redentor da humanidade. No apenas o capitalismo, mas
tambm o socialismo real, assim como qualquer outro projeto de
sociedade que repudie o mercado e a democracia (por exemplo, aqueles
alicerados em valores religiosos; ou o populismo autoritrio de
esquerda da Amrica Latina), deve igualmente ser objeto de profundas
crticas.
Malgrado os equvocos e as insuficincias de Marx e de Hegel em
especial a tentativa de teleologizar a histria e a pretenso de identificar
um agente portador do futuro e do segredo da histria (a razo ou o
proletariado) , no se pode perder de vista o que h de comum entre
eles e Kant. Ou, em outras palavras, o entendimento da crtica no
como falar mal ou desancar um pensamento, mas, sim, como
compreenso minuciosa dos seus fundamentos e limites, como
superao na qual se incorpora o que foi superado como parte de uma
Jos William Vesentini
116
sntese ou teoria superior. Ao mesmo tempo, crtica como um projeto
de autonomia da humanidade, de crescimento do ser humano no sentido
de libertao das amarras do tradicionalismo, das crendices, da
explorao social e do autoritarismo.
Acreditamos que esta deva ser a concepo reproduzida pela geografia
crtica ou pelo menos por grande parte dela, que afinal plural.
Crtica como superao com subsuno e, ao mesmo tempo, como um
engajamento em algum projeto de libertao que amplie o espao da
democracia, que combata todas as formas de dogmatismo e de
autoritarismo. Todavia, existe hoje um grande dilema: a ideia de
projeto de libertao tornou-se extremamente problemtica, embora de
maneira alguma dispensvel. Mas a profunda compreenso desse fato
requer algumas explicaes.
Em primeiro lugar, ao contrrio do que pensam alguns, no se trata de
denegar completamente a geografia clssica ou tradicional,
substituindo-a pelo materialismo histrico com os seus conceitos
fundamentais (modo de produo, formao econmico-social, classes
sociais aliceradas na produo, a teoria marxista do valor, o
socialismo como etapa que substituir o capitalismo etc.). Com tal
procedimento, mesmo quando existe a tentativa de enriquecer ou
completar o marxismo com a incorporao do espao geogrfico a
formao econmico-social transforma-se em formao scio-espacial,
a luta de classes passa a abarcar os conflitos ambientais e territoriais, o
materialismo histrico passa a ser chamado de materialismo histrico-
geogrfico etc.
25
, no existe uma verdadeira crtica da tradio
geogrfica. No h uma superao com subsuno e tampouco um
projeto de libertao realista e coerente com a nossa poca. O que
existe nesse procedimento apenas a substituio da tradio
geogrfica por uma teoria do sculo XIX (mesmo que esta seja lida a
partir de algum autor posterior: Luckcs, Althusser ou at Lfebvre)
que imaginou ter superado o capitalismo pela anlise de suas
contradies e limites, os quais pretensamente conduziriam ao
socialismo. Sem dvida, naquele momento de ascenso dos
25
HARVEY, D. Spaces of Capital. Towards a Critical Geography. New York, Routledge, 2001,
passim.
Ensaios de geografia crtica
117
movimentos operrios, essa construo terica era crtica. Mas, nos
dias de hoje, ela se encontra envelhecida, at mesmo caduca, alm de
completamente deslocada dos verdadeiros projetos de libertao, que
no se identificam mais com esse agente idealizado por Marx, o
proletariado, o qual, sejamos francos, sequer existe no mundo
emprico
26
. Insistir nessa via sem levar em conta a experincia dos
totalitarismos do sculo XX que em boa parte nela se aliceraram e
as mudanas na vida social e econmica, com o advento de novos
sujeitos e campos de luta, nada mais que, consciente ou
inconscientemente, partilhar um projeto de ascenso ao poder por uma
camada de burocratas que fala em nome dos trabalhadores, dos
excludos ou da Histria
27
.
Destarte, a histria do sculo XX e em especial a crise do mundo
socialista, a emerso de novos sujeitos e formas de luta social, a par das
profundas mudanas ocorridas no capitalismo, que no pode mais ser
entendido pelas anlises marxistas clssicas , evidencia que a crtica
da economia poltica tambm deve ser criticada, que ela tambm possui
os seus limites e insuficincias, cada vez mais evidentes. Assumir o
materialismo histrico como a teoria na qual a geografia deve ser
diluda um procedimento acrtico, que no realiza, sequer
minimamente, uma anlise crtica da geografia, tal como aquela de
Kant frente razo pura, ou mesmo a de Marx frente ao capitalismo.
Apenas se incorpora, de forma mecnica e sem grande criatividade,
determinados conceitos ou preocupaes espaciais a um corpo terico
j constitudo, este, sim, nascido de uma tradio crtica, embora datada
e integrada a outros tempos, outras circunstncias. Pouco se avana no
26
Claude LEFORT (As formas da Histria. So Paulo, Brasiliense, 1979, p. 249) foi um dos
primeiros a perceber isso, tendo sugerido que o proletariado foi mais uma inveno da frtil
imaginao de Marx.
27
Como j havia assinalado muito bem CASTORIADIS, C. (A instituio imaginria da
sociedade. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982, p. 82-5), o marxismo no sculo XX pouco a pouco
degenerou numa ideologia da burocracia, num discurso legitimador de um partido ou um
grupo de burocratas que pretende alcanar o poder e/ou que j o exerce de forma totalitria,
isto , sempre reprimindo violentamente as criticas e oposies, que so taxadas de
burguesas e antirrevolucionrias, e sempre falando em nome de uma pretensa comunidade
dos trabalhadores, do povo ou do proletariado.
Jos William Vesentini
118
conhecimento da realidade; em geral to somente velhos chaves ou
esteretipos so regurgitados.
Devemos, ento, indagar sobre o que seria um procedimento crtico nos
dias de hoje. Nesta poca de ps-modernidade, com mltiplos sujeitos e
verdades, com vises de mundo alternativas e igualmente aceitveis,
cada uma dentro de seu ponto de vista, continuar propagando a ideia de
crtica como a realizao do sentido da histria algo completamente
extemporneo. Ningum mais tem o direito de falar em nome da
histria e nenhum sujeito ou agente social o detentor da verdade
entendida como algo unvoco. Outro problema que no temos mais
aquele otimismo dos sculos XVIII e XIX a respeito da unicidade da
humanidade. Poucos acreditam hoje num projeto de libertao que
inclua todas as culturas e civilizaes, todos os povos num nico
modelo societrio para o futuro. Cada vez mais se valorizam as
diferenas e as alteridades, a questo dos Outros, com suas diferentes
concepes a respeito do ideal de uma sociedade no futuro.
Isso posto, cabe uma interrogao: qualquer discurso que critique
outro(s) no sentido de incorpor-lo(s) numa nova sntese, e que
contenha um projeto qualquer de autonomia, pode ser considerado
crtico? Exemplificando: se pensarmos numa perspectiva crist
fundamentalista, adepta do criacionismo, crtica seria uma compreenso
dos fundamentos e limites da cincia neste caso, do neodarwinismo
procurando super-la com o ato de a incorporar como parte de uma
teoria que mantivesse os dogmas da religio e ao mesmo tempo
admitisse certas mudanas temporais na natureza e no advento dos
seres vivos? (E tambm existiria um projeto de autonomia ou libertao
nesse caso, mesmo que em outra vida). O mesmo valeria para os
fundamentalistas islmicos, para os hindustas, para os adeptos da
supremacia branca etc?
Cairamos ento num relativismo segundo o qual todos os pontos de
vista se equivalem e, assim sendo, qualquer discurso que procurasse
compreender uma teoria e incorpor-la num projeto qualquer de
libertao seria considerado crtico? evidente que no. Ento, como
sair desse impasse?
Ensaios de geografia crtica
119
Em primeiro lugar, temos que lembrar que, para Kant, existe um
vnculo indissocivel entre crtica e democracia, sendo que esta
consiste num processo que implica na crescente libertao da
humanidade em relao s crendices, ao autoritarismo, s tradies que
reproduziam ou reproduzem uma sociedade rigidamente estratificada e
com privilgios para alguns. Crtica, nessa concepo kantiana e
moderna, deve ser algo que contribui para a liberdade e a igualdade dos
seres humanos, e nunca algo que justifique ou legitime qualquer tipo de
ditadura, de autoritarismo ou de totalitarismo, de privilgios, de
racismo ou de preconceitos. No vivemos mais uma batalha entre
direita e esquerda, tampouco entre capitalismo e socialismo. Um
intelectual que enxergou muito bem um dos principais conflitos neste
novo sculo foi o escritor Francis Wheen, que afirmou:
A nova batalha ser entre o melhor do legado do
Iluminismo (racionalismo, empirismo cientfico, separao
da Igreja e do Estado) por um lado e, do outro, vrias
formas de obscurantismo e relativismo destitudo de
valores, frequentemente mascarado como anti-
imperialismo ou antiuniversalismo - para dar um verniz
atraente radical a atitudes profundamente reacionrias
28
.
Assim sendo, no tem sentido adotar aquela posio comodista que
considera crticas determinadas ideias que servem de propaganda para
fundamentalismos ou dogmatismos, mesmo que elas sejam
extremamente cidas em relao ao capitalismo, que exorcizado como
o demnio do nosso tempo. Crticas essas, por sinal, que esto mais
para o falar mal de algo e nunca para a anlise de seus fundamentos e
limites; que, no fundo, constituem to somente improprios a respeito
do capitalismo, da globalizao e at mesmo da democracia.
Em segundo lugar, temos que levar em conta que a geografia ou
pretende ser uma cincia. O que Kant almejava com a sua crtica como
prolongamento do iluminismo era exatamente libertar a humanidade
28
WHEEN, F. Answer to the question: Left and right defined the 20th century. What's next?,
in Prospect, march 2007, http://www.prospect-magazine.co.uk/article_details.php?id=8342,
capturado em maro de 2007.
Jos William Vesentini
120
das amarras dos dogmatismos e dos autoritarismos, da escurido enfim.
Essa iluminao atravs da razo seria comandada pela cincia
moderna. O escopo da cincia ou melhor, das cincias, no plural, para
evitarmos o mito de um mtodo nico para todos os aspectos do real
desenvolver ou dilatar o conhecimento humano sobre a realidade em
todas as suas dimenses. Um conhecimento que, no raro, serve para
ampliar nosso controle sobre a natureza, tanto a interna (nosso corpo e
mente) como a externa (atravs da reduo das distncias, da ampliao
da oferta de alimentos, ou mesmo de novas substncias, da produo de
mquinas e at de armamentos etc.).
Sem dvida, esse controle hoje, ao contrrio dos sculos XVIII e XIX,
tido como problemtico. Sabemos que muitas vezes ele gera
consequncias nocivas para determinados ecossistemas e grupos
humanos ou, em alguns casos, at mesmo para a biosfera e para a
humanidade como um todo. Contudo, bem ou mal, ele sempre foi e
continua sendo o motor que impulsiona o chamado desenvolvimento,
inclusive nas suas possveis formas sustentveis. Mesmo que
critiquemos o conhecimento cientfico algo que, como vimos, faz
parte do seu prprio modo de ser, no qual a crtica necessria para
suas correes e rearranjos. Mesmo que deneguemos essa excrescncia
da cincia moderna, o cientificismo, que advoga uma absurda atitude
arrogante e imperialista frente s demais formas de conhecimento
desde o artstico ao filosfico, passando pelos diversos sensos comuns,
pela experincia de vida das comunidades tradicionais e dos povos
ditos selvagens etc. Mesmo assim, os cnones do conhecimento
cientfico continuam sendo a melhor maneira de superar o relativismo
puro e simples e avanar nessa problemtica do que uma atitude
crtica hoje.
Um dos grandes mritos da cincia ou das cincias admitir que suas
verdades, embora frequentemente teis e eficazes, sempre so
provisrias e sujeitas a correes ou superaes. O conhecimento
cientfico no procura nem aceita o Absoluto. Ele relativiza os
conceitos e teorias, embora no no sentido do relativismo ingnuo, ou
puro e simples, na qual tudo igual e, portanto, no existe qualquer
hierarquia e tampouco nenhuma forma de aprimoramento ou avano
Ensaios de geografia crtica
121
gradativo do conhecimento. A cincia relativiza os conceitos e teorias
e at mesmo os objetos ao consider-los como verdades provisrias e
sempre sujeitas a testes, a confrontos com a realidade e com outras
explicaes, mas cujo sentido, mesmo havendo encontros e
desencontros, avanos e possveis recuos, sem dvida que tem um
norte, que um crescente acmulo de informaes cada vez mais
eficazes no sentido de compreender (e agir sobre) o mundo, o real em
todos os seus aspectos.
justamente aqui que encontramos a via que nos permitir reconhecer
a criticidade numa teoria, num discurso: a sua relatividade em termos
de contextualizao e significado para o universo do qual faz parte.
No existem ideias ou teorias crticas em si. Elas s o so em funo
do papel que desempenham no seu contexto, razo pela qual podem ser
crticas numa poca, num momento e num lugar determinados por
exemplo, o marxismo na Europa Ocidental do sculo XIX , e tambm
podem ser completamente acrticas em outra poca ou lugar, tal como
ocorre, como j mencionamos, com o marxismo em praticamente todo
o mundo nos dias de hoje.
Voltando, agora, para a seara da geografia, podemos seguir com a
inquietao de Blomley. Sem dvida que existe certa verdade na
afirmao que h diferentes vertentes autodenominadas crticas na
geografia (como na cincia social e na filosofia em geral) e que talvez o
melhor seja deixar de lado esse adjetivo, pois, afinal de contas, j no
teria ele cumprido o seu papel? (Que foi o de servir de bandeira de luta
contra a geografia tradicional, que praticamente no existe mais ou,
pelo menos, j no conta com tericos que a defendam).
Mas, por outro lado, cabe uma indagao. Como os gegrafos ditos
crticos vm enfrentando esse problema da crtica? Uma parte deles,
felizmente minoritria (talvez no na Amrica Latina), continua a agir e
escrever como se nada de importante tivesse ocorrido nos ltimos anos
e dcadas, como se vivssemos ainda uma luta entre esquerda (os
adeptos do socialismo e crticos do capitalismo) e direita (os adeptos
do capitalismo, que seriam por definio conservadores e inimigos do
pensamento crtico). Crtica aqui entendida como falar mal dos
demnios do nosso tempo: o capitalismo, naturalmente, junto com a
Jos William Vesentini
122
globalizao vista como neoliberal, a democracia burguesa e a
imprensa livre (principalmente quando esta desanca regimes
autoritrios e populistas de esquerda, quando denuncia os abusos dos
direitos humanos em Cuba etc.). So produzidos panfletos ou estudos
pouco fundamentados, onde o objeto criticado sequer compreendido
de fato , nos quais, via de regra, existe uma interpretao paranica ou
conspiracionista da histria: foi a CIA quem promoveu os atentados de
11 de setembro de 2001, com vistas a obter apoio para as invases do
Afeganisto e do Iraque; as cobranas de organizaes internacionais,
especialmente o Banco Mundial, com a qualidade do sistema escolar,
apenas parte de um projeto neoliberal com vistas a privatizar o nosso
ensino pblico; as preocupaes com os desmatamentos na Amaznia
so meramente uma faceta do imperialismo que objetiva
internacionalizar aquela regio (o que significaria deix-la aos cuidados
dos pases ricos, principalmente dos Estados Unidos); as denncias de
presos polticos em Cuba ou da pobreza e do autoritarismo na Coria
do Norte ou na Venezuela, no fundo, fazem o jogo do imperialismo
norte-americano, que almeja derrubar aqueles regimes revolucionrios
etc. Para essa vertente, o pluralismo um mal, o marxismo (entendido
como se fosse algo unvoco) o nico mtodo cientfico vlido, as
citaes de algum autor (seja do prprio Marx ou, mais
frequentemente, de algum marxista posterior) substituem as anlises ou
at mesmo o raciocnio, no existiria nenhum aspecto positivo na
globalizao e nas novas tecnologias, mas to somente uma constante
ampliao das desigualdades sociais e espaciais, e por a afora.
Contudo, sem dvida que existem srias tentativas de renovar dentro
das geografias crticas, que no so meramente panfletrias e
comodistas, que procuram enfrentar os desafios de uma nova realidade,
inclusive aquele da crise do marxismo e da absoluta incapacidade de
grande parte das geografias crticas, e principalmente das radicais, em
incorporar essa questo at os primrdios dos anos 1990. Nem todos os
gegrafos ditos crticos so dogmticos e meramente reproduzem
esteretipos. Existe uma vertente crtica na boa acepo do termo, que
procura realizar uma anlise crtica tanto do capitalismo como tambm
ou talvez mais ainda do socialismo real, que buscou e busca
subsdios no apenas no marxismo (embora tambm criticado pelo
Ensaios de geografia crtica
123
reducionismo econmico e, principalmente, pela valorizao do tempo
em detrimento do espao), mas notadamente nos anarquismos
(especialmente de Rclus e Kropotkin), em Foucault e na ps-
modernidade. Mencionando apenas um exemplo entre muitos, uma
expressiva parte dos gegrafos autointitulados crticos, ao constatar as
radicais mudanas no capitalismo e o final do socialismo real, vem
procurando, nos ltimos anos, renovar as suas teorias, com o uso de
conceitos ou ideias da teoria crtica, isto , da Escola de Frankfurt, em
especial as de Habermas. Um dos expoentes dessa vertente, ao procurar
superar a geografia radical e construir uma geografia crtica, assim
se expressou:
As correntes radicais da geografia, em todas as suas
variantes, no apenas procuraram elaborar uma crtica do
positivismo lgico, como tambm efetuar mudanas
sociais e polticas. Em face do visvel xito do capitalismo
nos anos 1980 e da queda dos regimes comunistas da
Europa durante os anos 90, a geografia radical fracassou
retumbantemente nos seus objetivos prticos. No exame
das razes desse fracasso, devemos reexaminar as cinco
caractersticas chaves da teoria crtica de Habermas: as
relaes entre teoria e prtica, a teoria dos interesses
cognoscitivos, a teoria da competncia comunicativa, o
interesse pela emancipao e a prtica da autorreflexo [...]
O trabalho da geografia crtica consiste em exprimir as
desigualdades e convencer as pessoas do poder sobre suas
provveis repercusses, alm de participar ativamente na
criao de novas formas de organizao social e
econmicas. Em poucas palavras, devemos reconhecer o
mal-estar de nossa sociedade, adotar uma postura
autorreflexiva frente a ela e atuar como psicanalistas da
situao da qual fazemos parte
29
.
Notamos um grande avano nessa proposta que, como havia assinalado
Blomley, significa a passagem de uma geografia radical para uma
geografia crtica, pois crtica no se identifica com embora
29
UNWIN, Tim. The place of Geography. London, Longman Group, 1992, p. 250-3.
Jos William Vesentini
124
pressuponha um mero engajamento. O engajamento com os
problemas sociais e territoriais, inclusive os ambientais, foi a grande
bandeira de luta dos radicais anglo-saxnicos contra a geografia que
predominava na sua realidade at o final dos anos 1960: a geografia
pragmtica ou quantitativa, voltada para planejamentos e
aparentemente tcnica ou neutra. Ele teve o seu papel positivo.
Mas o mundo mudou, os problemas se modificaram alguns se
ampliaram, outros se contraram, outros novos surgiram e outros ainda
adquiriram distintas facetas e o simples engajamento, embora
necessrio, se tornou problemtico (engajamento, por sinal, que de
forma visvel hoje pode denotar uma atitude intransigente,
antidemocrtica ou at terrorista, principalmente quando tido como
radical
30
).
No existe engajamento apenas por um outro mundo ou um mundo
melhor. Afinal de contas, o que quer dizer melhor? Sem dvida,
algo que pode ser defendido com convico at mesmo por neonazistas,
maostas, bolivaristas e vrios outros tipos poltico-ideolgicos com
vis autoritrio. Assim, os termos radical e crtica no se identificam
completamente. Eles podem se sobrepor em algumas ocasies, mas, em
geral, apontam para atitudes diferentes. Voltando proposta de Unwin,
observamos que, nela, o papel do gegrafo crtico no o de
meramente ser um terrorista intelectual ou um incendirio isto , um
engajado de forma radical e, sim, um psicanalista que detecta
problemas e, ao mesmo tempo, potenciais. Como se sabe, o psicanalista
30
O termo radical, ao contrrio de crtica, no possui uma rica tradio filosfica e
epistemolgica. Na verdade, ele veio do latim (radic = raiz) e, deixando de lado o seu uso na
matemtica, na qumica, na lingustica etc., ele tem dois significados principais. Primeiro,
denota uma atitude intransigente, inflexvel, sem um verdadeiro dilogo com os outros.
Segundo, e de acordo com a sua origem etimolgica, significa ir s origens ou raiz das coisas.
amplamente conhecida a frase tautolgica de Marx segundo a qual a raiz do Homem o
prprio Homem, ou melhor, as suas relaes no mundo do trabalho. O problema que os
dois significados frequentemente se misturam inclusive em Marx, famoso pela sua
arrogante intransigncia frente a qualquer ideia que no as suas (inclusive dos socialistas
utpicos, anarquistas etc.) e, ademais, a raiz das coisas, exceto das rvores, algo
extremamente problemtico: para os geneticistas a raiz de um indivduo est na sua herana
gentica; para determinados antroplogos e tambm num outro plano, para os psicanalistas,
a raiz de uma sociedade est nos seus mitos e valores; para os ecologistas, est nas relaes
com a natureza; e assim por diante.
Ensaios de geografia crtica
125
no destri a personalidade que analisa e, sim, a reconstri, a ajuda no
seu encontro, na superao dos seus problemas e fobias. A esse
respeito, alguns diriam, citando Gramsci, que para o novo nascer o
velho tem que morrer. Talvez sim, mas somente num sentido
metafrico. Pois o novo sempre significa certo prolongamento, com
determinadas nuanas, do velho. No se trata do nascimento de um
indivduo que vai depois de vrias dcadas substituir outro que
envelhece e morre. Essa viso organicista equivocada na medida em
que a mesma sociedade, embora transformada, que perdura. Ela pode
mudar sua estrutura produtiva, revolucionar seus valores, melhorar
substancialmente a qualidade de vida de seus membros. Mas sempre
haver certa continuidade, uma herana que permanece. O velho,
portanto, nunca morre totalmente. por isso que ainda hoje somos
herdeiros dos egpcios, dos gregos e dos romanos da antiguidade
31
, dos
iluministas do sculo XVIII ou dos socialistas, no plural, do sculo
XIX.
Quanto a Unwin, a filiao desse gegrafo teoria crtica na sua verso
habermaniana pressupe uma averso ao tradicional dogmatismo do
marxismo-leninismo e, principalmente, uma aceitao da democracia,
que, ao invs de ser combatida, deve ser preservada e inclusive
expandida. Mesmo sem concordarmos inteiramente com a posio de
Unwin (deixando de lado, por ora, o porque disso), cabe elogiar o
avano terico e poltico contido na sua proposta (como tambm na de
Blomley e outros) de uma transio da geografia radical para uma
geografia crtica ps-marxista aberta e plural.
31
FREUD, S. (Moiss e o monotesmo. So Paulo, Imago, 1997), por exemplo, analisou com
argcia como o egpcio Moiss propagou uma religio monotesta cujos mitos at hoje
influenciam uma grande parte do mundo. Quanto importncia da filosofia e das artes
grega ou do direito romano para a nossa vida atual, creio que desnecessrio insistir nesse
item.
Jos William Vesentini
126
127
Geografia crtica no Brasil:
uma interpretao depoente
*
O advento e a expanso da geocrtica no Brasil
Existe um mito que, neste ensaio, procuramos questionar, o de que a
geografia crtica no Brasil se iniciou com o Encontro da AGB
(Associao dos Gegrafos Brasileiros) realizado em 1978 em
Fortaleza. A nosso ver, existe a uma supervalorizao dessa associao
e uma completa desconsiderao dos professores de geografia que,
muito antes desse evento e revelia da AGB, combatiam a ditadura
militar e implementavam um ensino crtico da disciplina. Este texto tem
o carter de um depoimento pessoal na medida em que foi elaborado a
partir da memria de quem viveu esse perodo e tem uma viso
diferente daquela que, pelo menos nos meios acadmicos, se tornou
hegemnica.
Em primeiro lugar, surge uma dvida: do que estamos falando de fato?
O que uma geografia crtica? Assim, para discorrermos sobre o
itinerrio da geografia crtica no Brasil, temos obrigatoriamente que
definir do que estamos falando e quando esse fenmeno se iniciou.
Alguns identificam geocrtica to somente com um discurso geogrfico
no mnemnico que procura explicar ao invs de descrever. J li uma
dissertao de mestrado, por sinal premiada, que reproduz esse vis
superficial e equivocado. Ora, se isso fosse verdade, existiria uma
geografia crtica no pas desde os anos 1910 (com as obras de Delgado
*
Texto elaborado em outubro de 2001 para integrar nosso site na net:
www.geocrtica.com.br. Fizemos ligeiras alteraes na redao para o incluir nesta coletnea.
Jos William Vesentini
128
de Carvalho) ou, pelo menos, a partir da dcada de 1950 (com os
estudos de Pierre Monbeig). Mas essa uma viso ingnua, que
estereotipa a geografia tradicional, no v as suas diversas nuances e os
seus trabalhos mais ricos e profcuos. E tambm no compreende a
verdadeira reviravolta operada pelas geografias crticas, no plural, que
no apenas procuram explicar as relaes sociedade/natureza (no
confundir com a adaptao do Homem ao meio, algo que a geografia
tradicional algumas vezes fazia muito bem) e as relaes de poder no
espao, como, principalmente, buscam atuar no mundo, desenvolver o
esprito crtico do educando, engajar-se nas questes e lutas sociais (das
mulheres, dos moradores, dos ambientalistas, enfim dos que pleiteiam
uma sociedade democrtica e tolerante, dos que contribuem para
engendrar uma realidade mais justa).
No se pode dissociar o advento das geografias crticas da reao ou do
posicionamento crtico dos gegrafos frente a dois processos ou marcos
fundamentais para a histria do pensamento geogrfico na segunda
metade do sculo XX: os movimentos sociais contestatrios dos anos
1960 e 1970 (contracultura, lutas pelos direitos civis e sociais, reao
guerra do Vietn, movimento feminista, maio de 1968 etc.) e a falcia
da razo instrumental ou, mais especificamente em nossa disciplina ,
da geografia pragmtica e voltada para o planejamento. A geografia
crtica, no final das contas, foi aquela ou, mais propriamente, aquelas,
no plural que no apenas procurou superar tanto a geografia
tradicional quanto a quantitativa, como principalmente procurou se
envolver com novos sujeitos, buscou se identificar com a sociedade
civil, tentou se dissociar do Estado (esse sujeito privilegiado naquelas
duas modalidades anteriores de geografia, a tradicional e a pragmtica)
e se engajar enquanto saber crtico isto , aquele que analisa,
compreende, aponta as contradies e os limites, busca contribuir par
um projeto de autonomia nas reivindicaes dos oprimidos, das
mulheres, dos indgenas, dos afro-descendentes e de todas as demais
etnias subjugadas, dos excludos, dos dominados, dos que ensejam criar
algo novo, dos cidados em geral, na inveno de novos direitos.
Os primrdios da geografia crtica no Brasil, a nosso ver, enraizaram-se
em dois elementos principais. Primeiro, a influncia e os subsdios
Ensaios de geografia crtica
129
oriundos do Primeiro Mundo e, em especial, da Frana o nosso
grande farol at incios dos anos 1980. Segundo, e principalmente, a
luta contra a ditadura militar e, ao mesmo tempo, contra o projeto de
capitalismo dependente e associado, contra a ideologia da guerra fria e
os seus tristes reflexos na represso policial, nas torturas, no
cerceamento do pensamento crtico etc.
Ao contrrio do que se pensa (se que quem cr nisso pensa!), a
geografia crtica no Brasil como tambm na Frana, segundo o
depoimento de Yves Lacoste
1
no se iniciou nem se desenvolveu
inicialmente nos estudos ou teses universitrios. Tampouco no IBGE e
muito menos nas anlises ambientais ou nas de planejamento. Ela se
desenvolveu, a partir em especial nos anos 1970, nas escolas de nvel
fundamental (de 5
a
8
a
sries) e principalmente no ensino mdio, o
antigo colegial ou 2
o
grau. E tambm, cabe reconhecer, em alguns
pouqussimos cursinhos pr-vestibulares que, at incios dos anos 1970,
tinham um perfil bem diferente daquele que praticamente exclusivo
hoje. Ao invs de serem fbricas que apenas massificam os alunos e
visam lucros, eram, em alguns poucos casos, redutos de leituras e
discusses de obras crticas. Eram espaos de contestao e livre
discusso inclusive de filmes por vezes censurados, venda de jornais
alternativos, peas teatrais que alguns grupos apresentavam
especialmente para os professores e alunos etc. Eu mesmo tive o
privilgio de discutir em seminrios num cursinho, em 1969, obras
como Geografia do Subdesenvolvimento (de Yves Lacoste), Panorama
do mundo atual (Pierre George), Capitalismo e subdesenvolvimento na
Amrica Latina (Gunder Frank), Formao do Brasil contemporneo
(Caio Prado Jr.), Formao econmica do Brasil (Celso Furtado),
Manifesto do Partido Comunista (Marx e Engels) e outras.
A geocrtica no Brasil, portanto, se iniciou como um esforo, por parte
de alguns docentes, em superar (o que no significa abandonar
totalmente) a sua tradio, a sua formao universitria, aquilo que as
universidades diziam que deveria ser ensinado. Esses professores de
geografia procuravam suscitar nos seus alunos a compreenso do
1
Cf. o texto desse autor O ensino da geografia , disponvel na rede in:
http://www.geocritica.hpg.com.br/geocritica04.htm
Jos William Vesentini
130
subdesenvolvimento (a importncia, nos anos 1970, do livro Geografia
do subdesenvolvimento de Yves Lacoste foi enorme, embora esse tema
incorporasse tambm outros autores e obras significativos da poca:
Paul Baran e Paul Sweezy, Harry Magdoff, Teotnio dos Santos, Rui
Mauro Marini, Andr Gunder Frank etc.), ligando esse tema com o
sistema capitalista mundial e as suas reas centrais e perifricas. Eles
procuraram tambm enfatizar a questo agrria do Brasil, a questo da
distribuio social da renda (um tema recorrente no nosso pensamento
crtico desde os anos 1970), a questo da pobreza e da violncia
policial. Eles esse pequeno grupo de professores do ensino mdio,
principalmente, os verdadeiros introdutores da geografia crtica no
Brasil estavam fazendo tudo isso enquanto os setores avanados da
universidade evidente que estamos nos referindo aos cursos
superiores de geografia, inclusive na USP enfatizavam obras/temas
como A organizao do espao, de Jean Labasse, os Plos de
desenvolvimento, de Franois Perroux, ou, no mximo, o livro
Geografia ativa, de Pierre George e outros, em suma, temticas
distantes de qualquer posicionamento crtico e claramente
comprometidas com o planejamento estatal.
Em grande parte, pode-se mesmo afirmar que a introduo da geografia
crtica na academia deveu-se ao encontro ou dilogo desses
professores de nvel mdio (ou de alguns cursinhos pr-vestibulares)
mais engajados e crticos com alguns raros docentes universitrios que
tambm estavam descontentes com toda aquela situao de controle,
represso e censura que existia na segunda metade dos anos 1960 e nos
anos 70 no Brasil. S para mencionar um exemplo significativo,
podemos lembrar que, nesse perodo, sequer se podia falar em
geografia poltica e muito menos em geografia do subdesenvolvimento
nas universidades. Na prpria USP, no Departamento de Geografia
(considerado, com razo, como o mais avanado do pas nessa poca,
o nico que no foi subjugado nem pelos cursos de curta durao
estudos sociais e muito menos pelo pragmatismo de inspirao norte-
americana que rebaixava, ou melhor, travestia, a nossa disciplina de
uma cincia humana e social para uma geocincia), havia uma
disciplina chamada geografia do mundo tropical, que ocupava o lugar
do estudo do subdesenvolvimento e procurava analisar a realidade da
Ensaios de geografia crtica
131
Amrica Latina, da frica e de grande parte da sia sob esse parmetro
alicerado na Terra, isto , o tropicalismo!
Alguns poucos docentes universitrios abriram as portas da academia
para esses professores crticos e, com uma boa dose de coragem,
aceitaram orientar (ou melhor, conceder a sua assinatura ou aval, pois
em geral eles dominavam esses novos temas menos que certos
orientandos) a elaborao de dissertaes de mestrado ou teses de
doutorado sobre assuntos/objetos que at ento eram oficialmente
interditados pesquisa e ao saber geogrficos: a autoajuda dos
moradores de bairros populares, os problemas do desenvolvimento
capitalista no campo, anlises crticas da geopoltica brasileira e de seus
projetos, a escola e o ensino da geografia como aparatos ideolgicos, a
industrializao e a produo do espao em alguma regio especfica, o
espao geogrfico como locus (e instrumento) de lutas sociais, as
desigualdades (e a natureza classista) das formas de apropriao social
do espao etc. A nosso ver, foi a partir desta confluncia entre uma
meia dzia (se tanto) de docentes universitrios com doutorado e um
punhado de (ex-)professores do ensino mdio que j estavam
revolucionando h anos esse saber nas salas de aula que surgiu
oficialmente, enquanto legitimao pela academia, a geografia crtica
no Brasil.
A geografia acadmica e a AGB
A influncia de Gramsci, direta ou indireta, foi notvel nessa referida
confluncia que oficializou, via academia, a geocrtica no Brasil. O
conceito gramsciano de hegemonia com base cultural foi o leitmotiv
que conduziu esses professores crticos at a ps-graduao, at as
pesquisas e a carreira universitria. lgico que no foram todos os
professores crticos de geografia que caminharam at a universidade
nos anos 1970 ou incios dos anos 80. Alguns desses professores foram
presos, torturados e at assassinados nos pores da ditadura. Outros se
engajaram em movimentos de guerrilha urbana ou rural. Outros,
ainda, sumiram dos grandes centros urbanos, como So Paulo, onde a
represso policial era mais acirrada e constante, indo trabalhar em
Jos William Vesentini
132
regies distantes de onde eram conhecidos, muitas vezes em pequenos
centros urbanos do interior (ou do litoral), temerosos e, ao mesmo
tempo, relativamente desiludidos pelo desmantelamento dos grupelhos
autointitulados revolucionrios. Mas uma parcela deles fez esse
referido percurso, procurando gramscianamente tomar a
universidade, local a partir do qual teriam uma maior influncia
cultural e, consequentemente, poltica. Foram eles que produziram as
primeiras obras as primeiras teses ou dissertaes, as primeiras
pesquisas acadmicas , aquelas que ficaram, em muitos casos sendo
publicadas total ou parcialmente, as quais esto disponveis em certos
arquivos e bibliotecas e, dessa forma, servem de marco como os albores
(pelo menos no sentido documental) da geocrtica no Brasil. Essa foi a
primeira gerao dos gegrafos crticos no Brasil. Convm reiterar,
para evitar mal-entendidos, que estamos nos referindo geocrtica no
sentido dado a partir dos anos 1970 por Yves Lacoste e outros, na qual
evidentemente existem altos e baixos, trabalhos de excelente nvel e
outros nem tanto. No devemos ser maniquestas. No existem apenas
boas pesquisas e timos textos nesta nova modalidade de geografia;
pelo contrrio, alguns so dogmticos e at panfletrios! Por outro lado,
malgrado a predominncia do mnemnico e dos assuntos tratados de
forma compartimentada, existiram excelentes trabalhos na chamada
geografia tradicional, por exemplo os de Pierre Monbeig.
Foi a gerao que produziu trabalhos pioneiros de pesquisas e/ou
reflexes crticas acadmicas nos anos 1970 (principalmente no final
dessa dcada) e nos anos 1980. Depois dela, veio a segunda gerao,
aquela dos anos 1990 e desta primeira dcada do sculo XXI, a qual,
em grande parte, constituda por ex-alunos ou orientandos dessa
primeira gerao (com a qual convive). Talvez a principal diferena
entre elas seja que a primeira gerao era, pelo menos at o final dos
anos 80, essencialmente gramsciana no sentido de acreditar que estava
promovendo uma revoluo (anticapitalista e igualitria) na geografia e
na universidade. A segunda gerao, por sua vez ( lgico que toda
regra admite excees e que existem interpenetraes ou
sobreposies), preocupa-se muito mais com o mtodo, com novos
enfoques para analisar o espao, com o prestgio cientfico ou social.
Mas essas diferenas so, antes de mais nada, relativas e, desde o
Ensaios de geografia crtica
133
incio, j havia determinadas ambiguidades ou aporias nas geografias
crticas tanto no Brasil como no exterior
2
.
Afirma-se, comumente, que o Encontro de 1978 da AGB teria sido o
marco fundamental da introduo da geocrtica no Brasil. Sem
nenhuma inteno de desmerecer esse importante Encontro, que
ocorreu em Fortaleza e teve inmeros mritos, acreditamos que essa
interpretao exagerada e mitificadora. uma espcie de discurso
dos vencedores, isto , propagado por um punhado de gegrafos, na
poca estudantes (de graduao ou de ps-graduao) ou professores
universitrios sem grande prestgio (mas com potencial) e
dominados/subordinados institucionalmente pelos medalhes, que
contestaram a supremacia destes e democratizaram a AGB. Este foi,
afinal, o grande significado desse encontro: uma democratizao,
mesmo que relativa (como toda democratizao afinal, pois a
democracia no uma forma acabada e permanente e, sim, um
processo de (re)inveno de direitos e que se expande continuamente),
da AGB no nvel nacional. A partir da, deixaram de existir duas
categorias de scios na AGB nacional: os plenos, os professores
universitrios, que podiam ser membros da diretoria; e os demais, que
pagavam suas anuidades mas no podiam concorrer aos cargos
decisrios. A partir desse evento, todos, pelo menos em tese, podiam
votar e ser votados, se inscrevendo na poca apropriada a cada dois
anos para concorrer aos cargos diretivos dessa associao.
lgico que esse punhado de contestadores (como foram chamados
na ocasio) acabou por dominar a AGB nacional e talvez at eles
tenham se tornado nos novos mandarins da a expresso que
empregamos, discurso dos vencedores. Mas tambm o tema
engajamento social, a favor dos explorados/dominados, foi apregoado,
pela primeira vez num Encontro nacional da AGB, tendo como base
(ou como uma espcie de aval, pois era uma obra oriunda da Frana)
o livrete de Yves Lacoste, A Geografia isso serve, em primeiro lugar,
2
Cf. VESENTINI, J. W. Percalos da geografia crtica: entre a crise do marxismo e o mito do
conhecimento cientfico, publicado nos Anais do 5
o
Congresso Brasileiro de Gegrafos (So
Paulo, julho de 1984, v. 2, p. 423-33).
Jos William Vesentini
134
para fazer a guerra
3
. Mas, a partir dessa democratizao da AGB
nacional (pois a AGB-SP, a seo regional de So Paulo da associao,
j havia sido democratizada dois anos antes, desde 1976, e inclusive foi
dela que surgiu a edio pirata dessa obra de Lacoste), no se pode
falar em introduo da geografia crtica no Brasil, como muitos
fazem. Isso consiste numa espcie de histria institucional, algo que
lembra muito os historiadores tradicionais, que denegam as lutas
populares e s promovem as mudanas nas instituies oficiais, alm
de desqualificar toda uma ao anterior de centenas de professores de
geografia, alguns dos quais pagaram caro por essa ousadia de
revolucionar o contedo geogrfico (e a prtica pedaggica) nas salas
de aula.
Por outro lado, no se pode exagerar a importncia que todavia existe
ou a difuso da AGB. Provavelmente, no mnimo 80% do
professorado de geografia do pas, a imensa maioria dos gegrafos
portanto (pois o ensino sempre foi e ainda o grande mercado de
trabalho para os formados em geografia), at hoje nunca sequer ouviu
falar dessa associao
4
. (Imagine-se, ento, em 1978, quando a AGB
era bem mais elitizada!). Apesar de uma louvvel (e relativa)
democratizao a partir de 1976-78, a AGB ainda prossegue como um
reduto de alguns professores universitrios, principalmente dos mais
3
A primeira edio dessa obra, em francs, deu-se em 1976 (e logo surgiu uma traduo
portuguesa, que foi xerocada em So Paulo e originou uma edio pirata brasileira, com
milhares de exemplares que, em grande parte, foram vendidos em Fortaleza durante o
Encontro de 1978). Uma edio mais recente, traduzida de uma nova verso ampliada escrita
pelo autor, foi publicada em 1988 pela editora Papirus, de Campinas. Nesta, existe uma
introduo de nossa autoria que realiza uma espcie de balano a respeito do significado
dessa obra na geografia brasileira.
4
Utilizo esse nmero (e esse raciocnio) com base em pesquisas feitas em 1995-6 por alunos
do meu curso, Geografia crtica e Ensino, nas antigas Delegacias Regionais de Ensino da
Grande So Paulo, quando constatamos que 54% dos professores de geografia na rede pblica
(de 5
a
a 8
a
sries e no ensino mdio) no so formados nesta disciplina, sendo estudantes
(principalmente de histria, cincias sociais ou geografia) ou engenheiros, advogados,
telogos ou seminaristas, historiadores ou socilogos etc. A nica referncia que grande parte
desse pessoal possui, sobre as mudanas na geografia, a que est contida nos (poucos) bons
livros didticos, que algumas vezes eles usam para preparar suas aulas (mas no como livro-
texto dos alunos, que no mximo possuem um caderno). Se essa a realidade da Grande So
Paulo, o centro dinmico da economia nacional, imagine-se ento a situao mediana no
restante do pas!
Ensaios de geografia crtica
135
jovens (doutores) e no mais apenas dos figures (catedrticos) como
era anteriormente, e pouco tem a ver com a realidade da geografia que
predomina no Brasil e no mundo (e que contm o futuro desta
disciplina), que a geografia escolar no ensino fundamental e mdio.
No se trata de uma apreciao destrutiva e, sim, de uma mera
constatao, ou, se preferirem, uma autocrtica construtiva no sentido
de se identificar com essa associao e se preocupar com suas
insuficincias. Para sermos sinceros (e autocrticos), temos que aceitar
que a AGB tem uma escassa representatividade entre os prprios
gegrafos cabe lembrar que o professor de geografia tambm um
gegrafo, apesar de sofrer preconceitos por parte dos tcnicos.
Ademais, apesar de ela ter se tornado mais aberta a partir dos anos
1980, continua no sendo uma instituio de fato democrtica. Creio
ser desnecessrio lembrar que em seus encontros e congressos
principalmente na escala nacional, pois existe muito mais abertura em
algumas AGBs locais , via de regra, existe um verdadeiro
pensamento nico, com mesas-redondas nas quais, praticamente,
todos tm a mesma ideologia (s existem briguinhas por motivos
pessoais), com os mesmssimos convidados a cada novo evento para
exporem suas surradas ideias, com uma completa ausncia de outras
falas em palestras ou mesas-redondas que abordam temas
considerados quentes, tais como a reforma agrria e as
transformaes no campo, as novas tendncias da geografia (aqui
somente os marxistas-leninistas dogmticos so convidados),
geopoltica, globalizao etc. Alguns dizem, sem pejo, que isso
absolutamente normal, pois os revolucionrios chegaram ao poder
na AGB, o que, com isso, est impedindo que os reacionrios tenham
voz. Afora a absoluta ausncia de um esprito democrtico e mesmo
crtico nesse posicionamento (no sentido de crtica como troca de
opinies, como crescimento mtuo a partir de vrias alternativas), no
so apenas os reacionrios ou os tradicionalistas que so reprimidos.
At mesmo os pontos de vista libertrios so desestimulados a
participar. Toda instituio democrtica vide, por exemplo, os
Encontros da ANPOCS, nas quais sempre h diferentes pontos de vista
sobre temas considerados quentes ou controversos , principalmente
as culturais e acadmicas, deve ser pluralista e aberta s diferentes
Jos William Vesentini
136
interpretaes. Rosa Luxemburgo, criticando os bolchevistas em 1918,
afirmou com propriedade que a liberdade de quem pensa igual no
liberdade. A verdadeira liberdade para os que pensam de forma
diferente. Existe, assim, um bolchevismo hegemnico na AGB, pelo
menos em grande parte de sua direo nacional.
lgico que existem inmeras razes que justificam (embora no
legitimem) essa elitizao da AGB. Estamos falando agora da
elitizao, de sua pouca representatividade, pois nada justifica o
bolchevismo em pleno sculo XXI. Primeiro, existe a necessidade de
suporte das universidades para que as AGBs locais que, afinal, so a
base da nacional possam existir: elas, em geral, inclusive a de So
Paulo, na qual a nacional est ancorada, mal conseguem pagar sozinhas
a conta do telefone ou do provedor da internet (imagine-se, ento, o
aluguel de alguma sala); e tanto os diretores quanto os funcionrios so
professores ou estudantes que realizam voluntaria e gratuitamente essas
tarefas. Temos, alis, que elogiar o trabalho voluntrio e gratuito de
todos os que contribuem para manter essa associao, que sem eles
deixaria de existir. Mas no h porque esconder que a maioria dos
estudantes que colabora acaba sendo manipulada, apenas mo-de-
obra barata para que alguns poucos professores universitrios
prossigam com sua doutrinao marxista-leninista. Depois, h o
excesso de trabalho e os baixssimos salrios percebidos pelos
professores do ensino fundamental e mdio no Brasil, os quais, por esse
motivo, no tm tempo nem o mnimo de recursos financeiros
necessrios para pagar as anuidades e frequentar assiduamente as
assemblias e os encontros da AGB. Mas esses fatores atenuantes, se
em parte justificam o elitismo (isto a AGB como reduto de alguns
poucos professores universitrios e, no fundo, uma instituio
desconhecida pela imensa maioria dos gegrafos), de maneira alguma
justificam o bolchevismo, principalmente aps a crise do marxismo e
do socialismo real, aps a constatao da total ausncia de democracia
ou mesmo de qualquer eficcia econmica sob o ponto de vista do
bem-estar da imensa maioria da populao nesses pases que
seguiram os ensinamentos do marxismo-leninismo. Ademais, confundir
a AGB com a geografia do Brasil, como fazem aqueles que divulgam a
ideia de que o Encontro de Fortaleza teria sido o deflagrador da
Ensaios de geografia crtica
137
geografia crtica no pas, no enxergar a realidade, confundir o todo
com uma pequena parte.
A geografia educativa
J vimos que foi a partir da atividade educativa que a geocrtica se
iniciou e se desenvolveu no Brasil. Da, ela se expandiu at a atividade
de pesquisas nas universidades, em especial na ps-graduao. Muitos
cometem o equvoco de identificar a geografia escolar com o contedo
dos livros didticos, o que um vis unilateral e, portanto, deformador.
Nessa tica, surgiram determinados trabalhos, principalmente algumas
dissertaes de mestrado defendidas nos anos 1990, que afirmaram que
a geografia escolar crtica no Brasil teria nascido ou com o livro
Estudos de Geografia, de Melhem Adas, cuja primeira edio saiu no
final de 1972, introduzindo nos compndios da disciplina uma vertente
geogrfica inspirada em Pierre George, ou com a nossa obra Sociedade
e espao, originalmente editada em julho de 1982. A nosso ver,
nenhuma dessas opes a rigor verdica, embora a segunda seria mais
correta se estivssemos falando to somente dos manuais escolares e
no da geografia escolar crtica como um todo. O livro didtico
apenas uma parte da geografia escolar; inclusive, nem a mais
relevante. Ele mais ou menos importante de acordo com o lugar e a
conjuntura: ser fundamental no caso de professores/escolas que o tm
como base nica e inquestionvel, como uma muleta afinal. Mas ele
ser pouco importante no caso, mais comum do que se pensa, em que
os professores/escolas os utilizam como ele deve ser utilizado: como
um complemento, como um material didtico de apoio ao professor e
no como o definidor de toda a atividade educativa
5
.
Para mencionar a minha experincia pessoal, pois lecionei geografia
nas escolas fundamentais e mdias desde que ingressei no primeiro ano
da graduao, no incio de 1970 (a falta de docentes desta disciplina era
e ainda imensa aqui em So Paulo), portanto, muito antes de publicar
o meu primeiro livro didtico, j elaborava textos ou traduzia/adaptava
5
Cf. MOLINA, O. Quem engana quem? Professor versus livro didtico. Campinas, Papirus,
1987.
Jos William Vesentini
138
outros, de autores variados e que em sua maioria sequer eram
mencionados nos departamentos de geografia das universidades:
Lacoste, Kropotkin, Brunhes, Gunder Frank, Magdoff, Sartre, Simone
de Beauvoir, Baran e outros, a respeito do capitalismo e do socialismo
real, do sistema capitalista mundial, do movimento feminista e as
conquistas das mulheres no mundo e no Brasil, dos movimentos sociais
urbanos, da geopoltica mundial etc.
Lembro, em especial, de duas experincias marcantes na minha carreira
docente no ensino mdio: o COE (Centro de Orientao Educacional,
uma escola particular no bairro da Lapa, So Paulo, que virou uma
cooperativa dirigida pelos prprios professores) e o curso supletivo do
Sindicato dos Metalrgicos de So Bernardo do Campo e Diadema.
Lecionei naquele primeiro colgio, de 1973 at 1977 (tendo como
grande parceiro Gumercindo Milhomem), e no sindicato, de 1974 at
1976 (tendo como grande companheiro Toninho Pavanello). No
COE, em primeiro lugar, ns redefinimos todo o contedo da geografia
escolar inicialmente, em 1973, tentamos usar livros didticos,
especialmente aquele primeiro de Melhem Adas recm-lanado na
poca, mas depois conclumos que eles eram inadequados para a nossa
proposta gramsciana e passamos a s trabalhar com textos
especialmente elaborados em funo da realidade dos alunos e dos
novos temas que abordvamos. Em segundo lugar, tambm mudamos a
relao professor/aluno e a prpria organizao espacial da sala de aula.
Abolimos as aulas expositivas e s trabalhvamos com leituras de
textos (alguns com mapas e grficos, que deviam ser interpretados),
debates, dinmica de grupos e estudos do meio. Chegamos levar todos
os alunos para uma praia em Canania, no litoral de So Paulo, ficando
l uma semana inteira realizando um estudo de campo interdisciplinar
que envolvia as mars, os recursos naturais e os problemas ambientais
locais, a economia e a populao (valores, cultura, demografia) de uma
comunidade de pescadores, alm da histria oral e documental do
lugar. Orientamos os alunos nos levantamentos sobre mendigos e
populao de rua no bairro da Lapa, sobre os problemas ambientais e
de moradia nesse bairro etc. Por sinal, tudo isso incomodava alguns,
que denunciaram o colgio como subversivo, e o antigo DOPS, a
polcia poltica da poca, dirigida em So Paulo pelo delegado-
Ensaios de geografia crtica
139
torturador Fleury, duas vezes invadiu o colgio e prendeu para
interrogatrio alguns professores (aqueles que, por azar, estavam l
naquele momento), alm de ter roubado equipamentos da nossa grfica
(nossa aparelhagem para imprimir textos e apostilas, inclusive com
cores). Por iniciativa minha, reorganizamos o espao das salas de aula:
abolimos o quadro-negro, a mesa do professor e as carteiras individuais
dos alunos e no seu lugar colocamos algumas mesas redondas, para os
alunos ficarem permanentemente em grupos cada um olhando para os
outros ao invs de todos olharem para o professor ou para o quadro-
negro e, com frequncia, abramos uma imensa mesa-redonda na sala
para realizar algum debate. Quanto ao Sindicato dos Metalrgicos,
onde lecionei em cursos supletivos durante cerca de 3 anos para alunos
trabalhadores, tambm introduzimos textos crticos e novos temas
(inclusive o direito de greve e a luta de classes), mas no mudamos a
organizao espacial da sala de aula e nem mesmo a relao
professor/aluno, pois cada classe tinha centenas de estudantes e as aulas
expositivas eram uma imposio. No entanto, fomos advertidos vrias
vezes pela direo do sindicato (na poca pelega) que deveramos
maneirar nas aulas, pois o pessoal do DOPS havia entrado em
contado com o sindicato, dizendo que receberam algumas denncias e
poderiam at fechar o curso supletivo. Inclusive, foi esse o motivo da
nossa demisso (minha e do outro colega da rea, o Pavanello, que h
alguns anos morreu num acidente de carro) pela diretoria pelega do
sindicato; afinal, no ensinvamos o que deveria (isto , nomes de
rios ou de planaltos) e, sim, outros temas sociais que no eram
geogrficos! Enfim, concluindo esta digresso de natureza pessoal
(recordando que este texto tem um carter depoente), gostaria de deixar
claro que essas experincias em especial, os textos que elaborei nesse
perodo (coloco na primeira pessoa do singular porque tanto o
Gumercindo quanto o Pavanello, dois importantes companheiros nessas
jornadas, no gostavam de redigir textos e, sim, de lecionar; os textos,
principalmente aqueles com os novos temas, eram de minha exclusiva
responsabilidade) foram a base para a edio posterior dos meus
primeiros livros didticos, Sociedade e espao (de 1982) e Brasil,
sociedade e espao (de 1984), que, no por acaso, so direcionados
para o ensino mdio.
Jos William Vesentini
140
O pargrafo anterior, quase que biogrfico, s tem sentido porque
acredito que isso foi o que ocorreu, mutatis mutandis, com dezenas,
talvez centenas de outros professores de geografia pelo Brasil afora,
alguns anteriormente, desde o final dos anos 1960. Ouvi falar sobre
experincias similares, talvez at mais frteis, aqui em So Paulo
(inclusive em alguns rarssimos cursinhos pr-vestibulares), em Santo
Andr, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em outras cidades. No
posso escrever a respeito delas por falta de material de apoio. Mas
acredito que foram experincias desse tipo que, no final das contas,
deram incio geografia crtica no Brasil. Mesmo porque, quando
examinamos a histria de vida de muitos dos que produziram no final
dos anos 1970 e nos anos 1980 as obras pioneiras da geocrtica
brasileira, logo percebemos que, via de regra, eles comearam como
professores no ensino mdio (ou em cursinhos) e, antes mesmo de
ingressarem na ps-graduao ou na carreira universitria, j
elaboravam textos e abordavam em suas aulas determinados temas que
eram considerados no-geogrficos.
Quanto aos compndios escolares, reitero o que j afirmei: que eles no
tm tanta importncia assim (inclusive no seu uso pelos professores
na sala de aula que eles adquirem tal ou qual caracterstica) e que a
incorporao por alguns deles, nos anos 1970, das ideias georgeanas
(isto , de Pierre George e a sua geografia ativa) no significou de
maneira nenhuma uma reviravolta crtica. Foi somente uma renovao
dentro do tradicional, na qual houve a abertura para alguns poucos
novos temas o planejamento, a conservao dos recursos naturais e o
subdesenvolvimento entendido enquanto um rol de caractersticas ,
mas que eram assuntos e abordagens ainda no crticos e
comprometidos com o Estado enquanto sujeito, alm de reproduzirem
uma viso idlica de sociedade uma comunidade nacional sem
contradies tpica da geografia chauvinista. Algo, portanto, muito
distante daquilo que, desde o incio, foi essencial na geocrtica, ou seja,
a crtica do capitalismo e do socialismo real, a compreenso do
subdesenvolvimento como parte perifrica e integrante do sistema
capitalista mundial, a incorporao crtica da geopoltica, a questo
ambiental (e no meramente a conservao dos recursos naturais), o
distanciamento relativo frente ao Estado e, principalmente, uma
Ensaios de geografia crtica
141
abertura para as contradies e para os sujeitos sociais (desde o
proletariado at as mulheres, passando pelos moradores, consumidores,
etnias subjugadas etc.) e as suas lutas.
As publicaes e a difuso na mdia
A expanso da geocrtica no Brasil tambm ocorreu no plano das
publicaes (revistas acadmicas e em especial livros) e, pelo menos
em parte, na difuso pela mdia rdio, televiso, revistas para o
grande pblico e jornais. Houve um sensvel aumento embora ainda
insuficiente quando comparado histria ou s demais cincias sociais
nas publicaes geogrficas no didticas. No caso das obras
didticas, ocorreu, a partir do final dos anos 1980, uma progressiva
mudana, com praticamente todos os autores tradicionais passando a
incorporar algumas vezes de forma indevida e to somente mecnica
ou imitativa parte dos contedos crticos. Sem dvida que houve
neste setor um avano inegvel. Mas, coincidentemente ou no, a
vendagem dessas obras no conjunto vem diminuindo bastante e
constantemente com o decorrer dos anos. Isso porque, no tocante s
escolas pblicas, verificou-se uma perda de poder aquisitivo das
famlias de baixas rendas, o que implicou num sacrifcio do compndio
escolar de todas as disciplinas e, em particular, das estereotipadas
como menos importantes. Por outro lado, no que se refere s escolas
particulares, tornou-se cada vez mais comum o uso de apostilas
padronizadas elaboradas por grandes redes que vendem as suas
franquias: Objetivo, Positivo, Anglo, Pitgoras etc., que so
essencialmente voltadas para o sucesso no vestibular e acabaram por
dominar cerca da metade das escolas particulares existentes no
territrio nacional.
Talvez pela primeira vez, pelo menos no Brasil, livros geogrficos no
didticos passaram a ser lidos e at citados por profissionais de reas
diversas: urbanistas, socilogos, filsofos, cientistas polticos,
economistas etc. Para mais uma vez mencionar um exemplo pessoal
(afinal esta uma escrita de natureza depoente), o meu livro A capital
da geopoltica, de 1987 (mas baseado na minha tese de doutoramento,
de 1985, portanto uma obra acadmica), conheceu sete edies e foi
Jos William Vesentini
142
lido no apenas por gegrafos, mas tambm ou talvez at
principalmente por urbanistas, cientistas polticos, militares,
historiadores e estudiosos de relaes internacionais. Sei disso por
informaes de livreiros e tambm pelos inmeros convites para falar
sobre o assunto oriundos de departamentos de histria ou de cincias
sociais, de sees do IAB, de associaes de moradores etc. Mas sem
dvida que o trabalho pioneiro nesse sentido foi aquele mencionado
livro-manifesto de Yves Lacoste, de 1976, que foi lido e citado por
centenas de profissionais de outras reas e tambm por jornalistas
(lembro-me de uma resenha dessa poca, assinada por Giles Lapouge,
no sisudo jornal O Estado de S. Paulo, que ocupou duas pginas
inteiras num domingo!). Por sinal, esse livrete de Lacoste, que nem de
longe sua principal obra, foi provavelmente o trabalho geogrfico
(deixando-se de lado publicaes no acadmicas tais como a revista
National Geographic) mais divulgado em todo o mundo desde pelo
menos os anos 1960, tendo sido traduzido e reeditado em dezenas de
idiomas: do ingls ao rabe, do japons ao alemo, do sueco ao italiano
etc. Depois dele, s o livro A condio ps-moderna, de David Harvey
(de 1989), alcanou tamanha difuso internacional. E a geografia
brasileira passou a publicar muito mais que anteriormente, com o
revigoramento de alguns peridicos j existentes (como o Boletim
Paulista de Geografia) e o surgimento de novos outros (como a revista
Terra Livre e inmeras outras de sees locais da AGB e/ou de
departamentos de geografia das universidades). Autores que
escreveram sucintos livros de divulgao da geocrtica, como
principalmente Rui Moreira (O que geografia, de 1980) e Antonio
Carlos Robert de Moraes (Geografia: pequena histria crtica, de
1981), alcanaram enormes vendagens e sucessivas reedies. Tambm
os livros dogmticos Introduo geografia geografia e ideologia,
de Nelson Werneck Sodr (de 1976), e Marxismo e geografia, de
Massimo Quaini (editado no Brasil em 1979), tiveram uma grande
importncia na propagao da geografia crtica para o grande pblico
brasileiro e para os estudantes universitrios, pelo menos durante uma
fase inicial que ocorreu de meados dos anos 1970 at o final dos anos
1980. Para os professores de geografia em geral, que afinal so pelo
menos em tese os grandes consumidores dessas obras, na medida em
Ensaios de geografia crtica
143
que o grande mercado de trabalho no Brasil para os gegrafos sempre
foi o ensino, duas coletneas de textos sobre a geografia escolar, de
autores variados (brasileiros e franceses), tiveram e ainda tm uma
grande importncia: Para onde vai o ensino da geografia? (editora
Contexto, 1989, organizao de Ariovaldo U. de Oliveira) e Geografia
e ensino: textos crticos (editora Papirus, 1989, por ns organizada).
So obras que passaram a ser recomendadas em quase todos os
concursos para professores, que conheceram vrias reedies e que
incorporam pontos de vista diferenciados (e s vezes at alternativos) e
refletem bem a natureza pluralista da geocrtica no que se refere ao
entendimento do ensino da disciplina. Depois delas, nos anos 1990 e
nesta primeira dcada do sculo XXI, surgiram inmeros outros livros
que podem ser classificados como geografia crtica, inclusive alguns
sobre as novas perspectivas para o ensino da geografia. Essas obras
mencionadas representam apenas os primeiros livros crticos no Brasil,
no final dos anos 1970 e nos anos 1980.
Um autor que merece um destaque parte nessa trajetria da geocrtica
no Brasil Milton Santos. No tanto pela sua influncia nas pesquisas
ou nos trabalhos cientficos, muito menos pela sua influncia no ensino
da disciplina, mas, sim, pela sua presena marcante na academia (como
um novo mandarim) e principalmente na mdia. Ele publicou, em
1978, a obra Por uma geografia nova. Da crtica da geografia a uma
geografia crtica, que, no fundo, pretendeu emular com o mencionado
livro-manifesto de Yves Lacoste e tambm propugnar uma nova
geografia, s que cientfica e no ideolgica (com uma forte
clivagem entre cincia e ideologia, inspirada em Althusser, que Lacoste
considera sem importncia) e que enfatizasse o espao enquanto
totalidade. Mas essa proposta, a nosso ver, problemtica e
representa um atraso em relao de Lacoste ou mesmo em relao ao
pensamento gramsciano dos professores que j lecionavam uma
geografia crtica anteriormente. Isso devido, em primeiro lugar, a um
ecletismo (no confundir com pluralismo), isto , mistura ou
sobreposio sem coerncia, sem trabalhar a interligao das
perspectivas, da anlise sistmica via ecossistemas com a concepo
kantiana do espao como acumulao desigual de tempos, com a
ideia hegelo-marxista de totalidade (entendida pelo vis althusseriano,
Jos William Vesentini
144
que afinal de contas stalinista), com certo cientificismo (separao
rgida entre cincia e ideologia, na pretenso de fundar uma geografia
cientfica ou uma espaciologia) e com visvel flerte com determinadas
ideias terceiro-mundistas panfletrias. Em segundo lugar, devido falta
de engajamento e de sujeitos sociais, alm das ambiguidades na noo
de espao, que se torna fetichizado. Se Lacoste escreveu a sua obra em
face do maio de 1968 na Frana e como uma anlise/denncia da
importncia do raciocnio geogrfico para a guerra do Vietn, tendo
como interlocutores os cidados em geral, pensando em contribuir para
a expanso dos direitos democrticos (entre os quais ele incluiu o
saber ler os mapas e conhecer o espao geogrfico para nele atuar
mais eficazmente), Santos, por sua vez, no soube muito bem a quem
se dirigir e com um vis positivista props uma nova cincia
inclusive sugeriu o termo espaciologia que enfocasse o espao
enquanto sujeito (sic) e como totalidade (ou melhor, como formao
scio-espacial, inspirada na leitura althusseriana de formao scio-
econmica; Althusser afirma que essa formao tem instncias a
econmica, a poltica e a ideolgica e Santos nela acrescenta a
instncia espacial).
evidente que tal proposta terico-metodolgica no poderia ter
grande aplicabilidade nas anlises de fato crticas, ou mesmo nas
pesquisas engajadas (que, em alguns casos, no so crticas), pois quem
estuda, por exemplo, as lutas pela terra no meio rural tem que
privilegiar os sujeitos sociais envolvidos nos conflitos e no uma
espaciologia abstrata; quem estuda a questo da moradia nas cidades
tem que privilegiar os movimentos sociais urbanos ou ento a poltica
estatal em contraposio aos interesses imobilirios; e quem estuda as
fronteiras ou o territrio tem que buscar os atores e os seus
instrumentos (inclusive ideolgicos) que (re)construram esses objetos
e no ficar regurgitando a respeito do espao enquanto totalidade. Por
isso, autores como Foucault (nas relaes entre espao e poder e no
entendimento deste como uma rede e no uma pirmide, como algo
mais amplo que o Estado) e Lfebvre (no entendimento do espao
produzido pelo capitalismo e pelas lutas sociais), principalmente, alm
de outros (Lipietz e Francisco de Oliveira, na questo regional, Jos de
Souza Martins, na anlise dos sujeitos do meio rural brasileiro, Claude
Ensaios de geografia crtica
145
Raffestin, na redefinio de conceitos como territrio/territorialidade,
espao/espacialidade etc.), foram e so muito mais importantes nos
trabalhos acadmicos da geocrtica brasileira em especial, nas
geografias poltica, social, regional, demogrfica, urbana e agrria do
que a espaciologia de Milton Santos. Este, no final das contas, s
acabou produzindo uma meia dzia de discpulos bem comportados e
pouco criativos, que recolhem informaes ou dados estatsticos sobre
temas novos (telecomunicaes, aeroportos, hotis, sistema bancrio
etc.) e to somente os reproduzem acompanhados de frases
estereotipadas extradas do mestre (tais como este espao manda e
aquele obedece, isto um fixo e aquilo um fluxo ou o territrio
desigualmente apropriado), sendo incapazes de engendrar qualquer
tese ou mesmo qualquer ideia nova a respeito do assunto abordado.
Pode-se exemplificar isso com o ltimo livro de Santos, uma
publicao praticamente pstuma, O Brasil, territrio e sociedade no
incio do sculo XXI (editado em 2001 em co-autoria com Silveira,
alm da ajuda de inmeros estagirios, que receberam bolsas de
iniciao cientfica durante anos e fizeram levantamentos bibliogrfico
e de dados, alm de resenhas de livros e teses). o mais ambicioso de
todos os trabalhos da espaciologia: os autores sugerem na introduo
que ele j nasceu como um clssico comparvel s obras de Caio Prado
Jnior, Celso Furtado e Florestan Fernandes (sic). Essa obra representa,
com perfeio, a incapacidade da espaciologia em produzir qualquer
trabalho importante ou mesmo criativo. Existe nas 473 pginas dessa
obra um amontoado de dados estatsticos, cartogramas e informaes
descritivas, que podem ser facilmente obtidos por qualquer pessoa em
almanaques ou anurios especializados (inclusive na internet) sobre a
rede bancria no Brasil e sua localizao no territrio, os aeroportos, as
redes de transportes, as refinarias de petrleo e os dutos, os shopping-
centers, os telefones e computadores etc. e nenhuma tese ou ideia
nova a respeito do significado disso tudo, apenas a constante repetio,
em cada captulo, de clichs ou frases estereotipadas do seguinte tipo:
alguns espaos mandam (o Sudeste, especialmente So Paulo) e
outros obedecem, o territrio desigualmente apropriado, o lugar
continuamente extorquido etc. No existe nenhuma anlise dos
sujeitos, das classes ou grupos sociais, e nem mesmo qualquer
Jos William Vesentini
146
referncia s lutas e conflitos ou aos projetos que (re)constroem o
espao ou o territrio. uma obra que lembra muito aqueles longos
artigos tradicionais do IBGE, editados na revista brasileira de
geografia nos anos 1950, 1960 e parte dos anos 1970, sobre a atividade
industrial, as cidades grandes e mdias, os estabelecimentos
agropecurios etc., nos quais nunca havia uma explicao geogrfico-
cientfica e, sim, um acmulo de informaes e dados estatsticos,
sempre acompanhados de cartogramas que mostravam a distribuio do
objeto estudado no territrio nacional. A nica diferena que este
livro procurou sintetizar, ou melhor, abordar na mesma obra todos
aqueles temas e alguns outros que as publicaes do IBGE
enfocavam separadamente. Mas, no fundo, eles no esto integrados no
livro e, sim, divididos em captulos distintos nos quais sempre
repetida ad nauseam a retrica pseudo-crtica de que o territrio
apropriado desigualmente, que a guerra fiscal uma guerra de
lugares (e no de sujeitos sociais) e que existem reas que mandam
(ou exploram) e outras que so subordinadas.
Antes que algum desinformado imagine que estamos negando que o
territrio desigualmente apropriado ou que existem regies mais e
outras menos desenvolvidas pensando-se no somente em termos de
localizao de indstrias ou de shopping-centers e, sim, de padro de
vida dos habitantes (algo meio negligenciado no livro) , gostaria de
lembrar que essa uma velha discusso das cincias sociais (desde,
pelo menos, Marx e j abordada por gegrafos do passado como
Kropotkin e outros) e que o pensamento crtico, em todas as suas
vertentes, sempre reprochou essa interpretao conservadora de que
uma regio (ou lugar, ou mesmo pas) explora outras. Isso porque essa
ideia implica num fetiche do espao, que passa a ser visto como um
sujeito. Ela omite as relaes sociais de dominao e faz o jogo dos
dominantes ao espacializar ou reificar uma atividade inter-humana. O
prprio Marx, autor que teoricamente serve de alicerce para esse tipo de
raciocnio panfletrio, citado vrias vezes na obra (sempre com frases
descontextualizadas), j afirmava que a explorao essencialmente
Ensaios de geografia crtica
147
social e nunca espacial
6
. lgico que ela se manifesta ou se concretiza
no espao, mas produto de relaes sociais. No por acaso que as
elites ou as oligarquias regionais dessas reas consideradas atrasadas se
identificam plenamente com esse discurso pseudo-crtico do tipo, por
exemplo, deste raciocnio simplista encontrvel dezenas de vezes com
ligeiras alteraes no livro: Se So Paulo, que apenas um estado,
possui 30 aeroportos ou shopping-centers ou universidades , por que
o Piau, que tambm um estado, s possui dois?. Existe a uma
entidade mitificada, o territrio dos estados, que acaba sendo mais
importante que os cidados. Em nenhum momento do livro se mostra
que So Paulo tem cerca de 25% da populao nacional e o Piau
apenas 1,5%, Roraima 0,2% e Tocantins 1,5%. Mas, a todo momento,
se repete que So Paulo tem 61 shopping-centers (em 1999), o Rio de
Janeiro 23 e, em contrapartida, nos estados nordestinos e nortistas os
shopping-centers so restritos a algumas capitais ou reas
metropolitanas
7
. Ou que, na regio concentrada (o Centro-sul),
existem 72% da rede bancria do pas e uma agncia bancria para cada
142,4 quilmetros quadrados, algo 126 vezes maior do que essa mesma
densidade na regio Norte
8
. Uma bobageira, pois qualquer estudante de
ensino mdio um pouco perspicaz ir recordar que o Centro-sul do
Brasil concentra mais de 65% da populao nacional e que a regio
Norte, com apenas 5% desse total possui uma extenso territorial
gigantesca, o que torna bvia essa densidade bem menor de agncias
bancrias por Km
2
.
Existem, sim, desigualdades regionais por sinal, perceptveis e
importantes no Brasil, mas esse tipo de discurso que nivela todos os
Estados, que substitui a anlise das desigualdades sociais por
comparaes simplistas entre unidades da Federao, que fetichiza os
territrios estaduais e as regies as quais, no fundo, so uma fico,
uma construo dos polticos ou do investigador nada revela de novo
6
Para evitar uma enorme digresso, no final deste texto inclumos um adendo no qual se
discute com mais detalhes essa questo do sujeito nas relaes de explorao e dominao
se regies ou classes/grupos sociais.
7
Cf. SANTOS, M. e SILVEIRA, M. L. O Brasil. Territrio e Sociedade no incio do sculo XXI. Rio
de Janeiro, Record, 2001, p. 151-2.
8
Idem, p. 188.
Jos William Vesentini
148
(pelo contrrio, esconde muita coisa) e nada tem de crtico. Esse
raciocnio ideolgico acaba por encobrir a dominao social autoritria
(que normalmente acompanha qualquer situao de
subdesenvolvimento), criando um inimigo a ser combatido por todos
(isto , as regies mais desenvolvidas), igualando dominantes e
dominados, as elites regionais e a imensa maioria da populao. No
por acaso, esse tipo de discurso conta com a total adeso das
oligarquias regionais na medida em que implica na reivindicao de
mais investimentos para a regio explorada, mais verbas que no final
das contas, vo ser apropriadas por essa elite. Observe-se, ainda, que
existe um sujeito implcito nesse tipo de discurso o Estado,
naturalmente , que seria o ator encarregado de corrigir (de cima para
baixo) os desequilbrios territoriais atravs de uma realocao dos seus
gastos (que, logicamente, originam-se nos impostos pagos em especial
pelos cidados das reas mais ricas e populosas, os quais nunca so
consultados ou sequer auscultados nesse raciocnio autoritrio).
Entretanto, inegvel a importncia que Milton Santos teve na difuso,
atravs da mdia, da geocrtica brasileira. Que eu saiba, ele foi o nico
gegrafo a sair nas pginas amarelas da revista Veja, a ser longamente
entrevistado em praticamente todos os programas importantes da
televiso e tambm por todos os principais jornais e revistas do pas, a
escrever periodicamente colunas na pgina 3 do jornal Folha de S.
Paulo etc. Ao seu redor, criou-se um grupo com ramificaes em todo
o territrio nacional (e at no exterior por exemplo, na Argentina) que
constantemente o promovia. Foram realizados, na primeira metade dos
anos 1990, vrios encontros ou seminrios internacionais sobre a nova
ordem mundial ou sobre o novo mapa-mundi, com subsdios oriundos
do CNPq e de outros rgos pblicos de financiamento (nos quais
Santos e o seu grupo sempre tiveram um grande poder), sendo
convidados vrios importantes gegrafos franceses e norte-americanos
e, indefectivelmente, ele era designado para ser o conferencista da
abertura, a grande estrela do evento. Esse entourage conseguiu at e
essa foi a verdadeira pedra de toque de toda a estratgia de promoo
da sua figura e, por tabela, de todo o grupo forjar uma imagem sua
Ensaios de geografia crtica
149
como refugiado esquerdista da ditadura militar
9
e, principalmente,
convencer a mdia brasileira que o ento recm-criado e desconhecido
prmio Vautrin Lud, que Santos ganhou em 1993, era uma espcie de
prmio Nobel da geografia. Enfim, a partir dos anos 1990, pouco a
pouco a figura de Santos e a geocrtica brasileira passaram a se
confundir na mdia. Isso nunca ocorreu no plano da realidade isto ,
das pesquisas acadmicas, das teses e das obras publicadas e muito
menos na conscincia da maior parte dos gegrafos, em especial do
professorado. Mas sem dvida que ocorreu na mdia e, por conseguinte,
na compreenso de boa parte do pblico e at dos profissionais de
outras reas. Eu mesmo h alguns anos ouvi uma pergunta-afirmao,
feita por um jornalista que fazia doutorado na USP e lecionava no
departamento de jornalismo de uma universidade federal num estado
sulino, se foi depois e devido a Milton Santos que a geografia deixou
de ser uma disciplina descritiva e voltada para a memorizao de
nomes de capitais ou de rios... E, tambm h alguns anos, um professor
universitrio de geografia de um pas latino-americano me enviou um
e-mail solicitando ajuda no levantamento das obras de Santos (e apenas
dele) para que ele pudesse escrever um artigo sobre a histria da
geografia crtica no Brasil...
Resta apenas avaliar se essa identificao da geocrtica brasileira com a
figura do Milton Santos, operada atravs da mdia, foi positiva ou
negativa. Talvez tenha sido positiva, na medida em que contribuiu para
ampliar, embora no muito, o espao da geografia nos meios de
comunicao de massas. Mas talvez tenha sido negativa, na medida em
que obliterou outras falas, outros caminhos e alternativas diferenciadas,
sugerindo uma homogeneidade onde sempre houve pluralidade e uma
rica complexidade. Em todo o caso, devemos lamentar a sua morte
prematura em junho deste ano (2001), num momento em que ele estava
9
Uma imagem, a rigor, maquiada, pois, at o golpe militar de 1964, Santos foi muito ligado a
Jos Aparecido, uma das figuras-chave do governo populista e direitista de Jnio Quadros. Ele
se auto-exilou na Frana por convenincia e no devido a qualquer perseguio sria por
parte dos rgos de represso. Ademais, s podemos lamentar nossa cultura subdesenvolvida
que transforma em heris aqueles que, no ps-64, saram do pas e viveram durante algum
tempo no Chile, em Cuba ou na Frana, pois quem de fato contribuiu na luta contra a ditadura
militar foram os que permaneceram e continuaram a atuar apesar de todos os riscos.
Jos William Vesentini
150
numa grande efervescncia intelectual. Pois, bem ou mal, ele sempre
buscou incorporar novos temas ao discurso geogrfico e,
indiscutivelmente, teve o mrito de acompanhar as mudanas que
ocorreram nos ltimos anos e dcadas no espao mundial e no territrio
brasileiro. Que ele descanse em paz e que, mesmo sem sua importante
contribuio, as geografias crticas do/no Brasil prossigam neste seu
itinerrio de revolucionar o ensino da disciplina, de abordar/incorporar
novos temas e de realizar novos de preferncia de forma inovadora e
original, alm de comprometida socialmente estudos e pesquisas.
ADENDO A POLMICA SOBRE O ESPAO COMO SUJEITO
Os comentrios que fizemos sobre a obra de Milton Santos em
especial, sobre o livro pstumo demandam uma discusso mais
detalhada sobre o que alguns gegrafos denominam fetiche do
espao
10
. Ou seja, o espao visto no apenas como condio e
expresso material das relaes sociais, mas como um sujeito, um ator
nos processos histricos. Trata-se de uma interpretao oriunda do
marxismo-leninismo acredito que a sua origem remonta ao livro de
Lnin, Imperialismo, etapa superior do capitalismo, de 1917, que j
analisamos num escrito anterior
11
. Cabe apenas recordar que esse livro
foi escrito basicamente como contraponto social-democracia de
Kautsky e com o ntido propsito de legitimar a tomada do poder por
um partido supostamente marxista num pas considerado atrasado, a
Rssia, o qual, para Marx, no era ainda, devido ao fraco
desenvolvimento de suas foras produtivas e, consequentemente,
reduzida proporo do proletariado na populao total , um candidato
a transitar do capitalismo ao socialismo. Nesse livro, Lnin, mesmo
sem o dizer ou talvez perceber, contrariou as ideias de Marx (alguns
10
Cf. VILLENEUVE, P. Y. Classes sociais, regies e acumulao do capital. In: Seleo de
Textos n. 8, AGB-SP, 1981, p. 1-20.
11
Cf. VESENTINI, J. W. Nova Ordem, Imperialismo e Geopoltica Global. Campinas, Papirus,
2003.
Ensaios de geografia crtica
151
dogmticos dizem que superou ou enriqueceu) sobre a explorao
social, e sugeriu que existiria uma explorao entre Estados nacionais,
ou seja, entre espaos nacionais diferenciados os pases
desenvolvidos ou exploradores (na poca, potncias coloniais) e os
pases perifricos ou explorados. A ideia de naes oprimidas (e no
apenas classes exploradas) forte nessa obra, bem como a crena
j ultrapassada pelos fatos na impossibilidade do capitalismo
prosseguir para alm dessa fase, isto , a fase do imperialismo. Num
trecho do livro, Lnin assinala:
Os monoplios, a oligarquia, a tendncia dominao
em detrimento da liberdade, a explorao de um
nmero cada vez maior de naes pequenas ou dbeis
por um punhado de naes mais ricas ou mais fortes:
tudo isso deu origem a essas caractersticas distintivas
do imperialismo, o que nos obriga a qualific-lo de
capitalismo parasitrio ou em estado de decomposio
12
.
Essa assertiva contraria frontalmente os escritos de Marx, que, afinal,
foi o forjador da noo de explorao social alicerada no trabalho vivo
no pago, isto , na mais-valia. S existe explorao ou transferncia de
mais-valia entre pessoas, entre o trabalho e o capital, afirmou com
clareza Marx, e nunca entre regies ou entre pases. Em suas palavras:
J vimos que a taxa da mais-valia depende, em primeiro
lugar, do grau de explorao da fora de trabalho [...]
Outro fator importante para a acumulao o grau de
produtividade do trabalho social. [Assim] um fiandeiro
ingls e um chins podem trabalhar o mesmo nmero de
horas com a mesma intensidade [...] Apesar dessa
igualdade, h uma enorme diferena entre o valor do
produto semanal do ingls, que trabalhou com uma
poderosa mquina automtica, e o do chins que trabalha
com uma roda de fiar. No mesmo espao de tempo em que
12
LNIN. El Imperialismo, Etapa Superior del Capitalismo, Buenos Aires, Anteo, 1971, p. 153,
grifo nosso.
Jos William Vesentini
152
um chins fia uma libra-peso de algodo, o ingls
consegue fiar vrias centenas de libra-peso
13
.
Fica implcito nessa citao que a Inglaterra era mais desenvolvida do
que a China porque tinha uma tecnologia mais avanada o que, para
Marx, significava maior quantidade de mais-valia relativa e, portanto,
uma maior explorao do trabalhador ingls em comparao com o
chins e no devido a uma transferncia de riquezas da China para a
Inglaterra. Para Marx, a Inglaterra era mais rica porque produzia
internamente mais riquezas ou mais-valia e isso mesmo com os
operrios ingleses trabalhando a mesma quantidade de horas por
semana que os chineses, ou at mesmo com estes ltimos trabalhando
bem mais; s que eles produziriam menos valor devido ao menor
desenvolvimento tecnolgico. Assim, para Marx, a explorao do
trabalho um processo inter-humano, uma relao social e nunca uma
relao inter-regional ou internacional. As pessoas, na verdade as
classes e no os espaos , que so os sujeitos dos processos sociais
e das relaes no mundo do trabalho. exatamente por esse motivo que
a revoluo social, para esse clssico, deveria necessariamente
ocorrer primeiro nas regies mais desenvolvidas pela tica capitalista.
Ou seja, pela tica marxiana, regies com maior acumulao de capital,
com tecnologia mais evoluda e, portanto, com maior explorao do
trabalho; no se deve confundir explorao do trabalho com pobreza.
Afinal, de onde Santos retirou esse juzo de que algumas regies
mandam e outras obedecem ou que as primeiras exploram as
segundas? Indiretamente foi de Lnin, do marxismo-leninismo pela via
de autores posteriores ao lder bolchevique. Como se sabe, Santos
retornou ao Brasil no final dos anos 1970, aps um exlio voluntrio no
exterior, e trouxe com ele, atravs de inmeras publicaes e cursos ou
orientaes de alunos, uma viso estruturalista influenciada pelo
marxismo althusseriano (ou seja, de Luis Althusser e discpulos, to em
moda na Paris da primeira metade dos anos 1970). Sem dvida que no
Brasil, nos crculos mais enfronhados com as discusses marxistas ou
ps-marxistas, j se havia superado essa leitura empobrecida do
13
MARX, K. O Capital. Livro 1, volume 2. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira, 1975, p. 696-
704, passim.
Ensaios de geografia crtica
153
marxismo. Alguns intelectuais brasileiros tinham escrito cidas crticas
ao althusserianismo (Giannotti, por exemplo, que era tido nos meios
uspianos como o mais proeminente marxista brasileiro; hoje, ele
afirma ter superado essa sua fase da vida
14
); tambm o importante texto
do historiador ingls Thompson, que evidenciou o stalinismo insidioso
que existe na leitura althusseriana do marxismo, era amplamente
conhecido
15
. Mais ainda, nessa poca j trabalhvamos com outros
autores, crticos embora no-marxistas, na geografia brasileira:
Foucault, principalmente, como tambm Lefort, Castoriadis e outros,
que Santos nunca admitiu no seu esquematismo terico, provavelmente
porque isso implicaria numa imploso do seu edifcio conceitual
fechado e alicerado na ideia de totalidade. Do althusserianismo Santos
incorporou a ideia de totalidade enquanto formao scio-espacial e o
espao como uma instncia dessa sociedade total. Outra grande
influncia que sofreu e assimilou na sua obra foi da fase neomarxista de
Henri Lefbvre, por sinal um crtico de Althusser e um dos poucos
marxistas (depois de Gramsci) que valorizou o espao na anlise do
capitalismo. Lefbvre, nos seus trabalhos a partir do final dos anos
1960 (ocasio em que deixou de ser o principal terico do Partido
Comunista Francs, sendo substitudo pelo seu desafeto Althusser), no
mais admitia uma totalidade fechada e esquematizada, mas isso no
impediu que Santos pinasse algumas ideias de suas obras para
construir uma espaciologia fundamentada na formao scio-espacial e
na percepo do espao como um sujeito. Enfim, Santos aproveitou
uma ou outra coisa desse autor como a noo de produo do
espao e principalmente a luta de lugares, de contradies do
espao e no apenas no espao , mas sempre encaixando todas
essas noes no seu edifcio estrutural, na sua leitura althusseriana de
instncias e de formao scio-espacial.
14
GIANNOTTI, J. A. Contra Althusser. In: Teoria e Prtica n.3, So Paulo, 1968; e Certa
herana marxista, So Paulo, Companhia das Letras, 2000. No primeiro texto, o ento filsofo
marxista reprocha Althusser por fazer uma leitura cientificista e anti-historicista de Marx
centrada na oposio (que seria estranha para o criador do materialismo histrico) entre
objeto de conhecimento e objeto real. J no recente livro, o pensador ps-marxista e em tese
pluralista afirma que Marx apenas um clssico como outro qualquer e que sua leitura do real
cometeu o equvoco de confundir contradio com contrariedade.
15
THOMPSON, E. P. A misria da teoria. Rio de Janeiro, Zahar, 1981.
Jos William Vesentini
154
Uma leitura frgil e equivocada. No porque denuncia as desigualdades
regionais ou territoriais, algo trivial e teorizado com mais propriedade
pelos filsofos e cientistas sociais desde pelo menos o sculo XIX (E
mesmo pelos economistas brasileiros que, desde no mnimo os anos
1950, j tinham feito diagnsticos das desigualdades regionais do pas
muito mais ricos e operacionais que o amontoado de informaes
dspares coletadas por Santos. Basta lembrar da obra de Celso Furtado
de 1959, A operao Nordeste); mas, sim, porque amide cai num
discurso meramente prolixo e vazio, inclusive panfletrio. Nem tem a
sofisticao do marxismo, no qual supostamente se apia, porque no
consegue teorizar a transferncia interespacial de valor, base da
explorao. Fica apenas no que Marx denominava aparncias: tantos
aeroportos, agncias bancrias ou shopping-centers aqui nesta regio,
outros tantos ali na outra regio, um nmero menor que, dessa forma,
comprova uma apropriao desigual do espao, logo uma explorao.
Simplista, no? Mas isso mesmo.
Enfim, um quiproqu sobre a hipottica explorao de alguns lugares
sobre outros. Mas explorao uma categoria social, inter-humana, que
no pode existir entre coisas, entre espaos. por isso que grande parte
dos pensadores marxistas ou neomarxistas, desde as ltimas dcadas,
deixou de lado a ideia leninista de naes exploradas ou mesmo de
classes exploradas para os casos dos desempregados, dos sem teto, dos
sem terra etc. Pois, para haver explorao, necessrio existir trabalho
no pago, ou seja, gerao de mais-valia. Ningum explorado porque
no tem emprego, terra ou capital. Tampouco porque no tem na sua
localidade um aeroporto ou um shopping-center. Por isso a noo de
excludos tornou-se mais usada para se referir a essa situao social,
regional ou internacional de pobreza ou de carncia
16
.
16
Um importante intelectual brasileiro [que nada tem a ver com Santos, exceto por um
grupelho de sequazes em comum] encetou uma crtica noo de excluso, argumentando
que todo excludo de uma forma ou de outra til ao sistema ou, em outras palavras, a
excluso seria uma expresso da contradio do desenvolvimento capitalista (MARTINS, J.
de S. Excluso social e a nova desigualdade. S. Paulo, Paulus, 1997). Considero equivocado
esse ponto de vista devedor da filosofia de Hegel e de seu maior discpulo, Marx que
sempre parte de uma totalidade imaginada explicando tudo, como algo onipresente e com um
destino pr-fixado, o que implica em desconsiderar as anomalias, o contrapoder que no se
subsome pretensa luta de classes, o contingente e o surgimento do novo. Ademais, esse
Ensaios de geografia crtica
155
A categoria explorao pressupe trabalho, atividade produtiva,
extrao de riquezas, mais-valia enfim, enquanto a noo de excluso
significa apenas no estar includo, estar margem de alguma coisa
seja do trabalho, do acesso escola ou sade gratuitas e/ou de boa
qualidade, do acesso moradia ou terra etc. Essa percepo terica
mais sofisticada algo que falta a Santos. Mas, no fundo, ele nunca se
preocupou com isso, pois aparentemente o que objetivava era gerar
impacto, ser promovido na mdia e na academia, publicar dezenas de
livros em pouco tempo e ter uma trupe ao seu redor ajudando na sua
promoo. Um conto de Machado de Assis um dilogo entre pai e
filho, com conselhos daquele para este retrata bem o seu objetivo
plenamente alcanado:
O meu desejo que te faas grande e ilustre, ou pelo
menos notvel [...] Nenhum [ofcio] me parece mais til e
cabido que o de medalho [...] Sentenas latinas, ditos
histricos, versos clebres, brocardos jurdicos, mximas,
de bom-tom traz-los consigo para os discursos de
sobremesa, de felicitao ou de agradecimento. Melhor
que tudo isso, porm, que no passa de mero adorno, so
as frases feitas, as locues convencionais, as frmulas
consagradas pelos anos, incrustadas na memria individual
e pblica. Essas frmulas tm a vantagem de no obrigar
os outros a um esforo intil [...] No te falei ainda dos
benefcios da publicidade. A publicidade uma dona
loureira e senhoril, que tu deves requestar fora de
pequenos mimos [...] Que Dom Quixote solicite os favores
dela mediante aes hericas ou custosas [mas] o
verdadeiro medalho tem outra poltica. Quanto matria
do discurso, tens escolha: ou os negcios midos ou a
metafsica. Mas se puderes adota a metafsica. Um
discurso de metafsica poltica apaixona naturalmente os
argumento apenas retoma as crticas feitas pela sociologia latino-americana dos anos 1970
contra a ideia de marginalidade, identificada sem mais com a excluso como se esta ltima
fosse apenas uma nova roupagem daquela, como se no tivesse pressupostos diferentes.
Longe de ser um estado, uma coisa fixa e irremedivel, como o autor interpreta, a excluso
uma noo tica no sentido dado por Richard Rorty que implica em ao afirmativa, em
demanda por novos direitos.
Jos William Vesentini
156
partidos e o pblico, chama os apartes e as respostas. E
depois no obriga a pensar e descobrir. Neste ramo dos
conhecimentos humanos tudo est achado, formulado,
rotulado, encaixotado; s prover os alforjes da memria.
Em todo caso, no transcendas nunca os limites de uma
invejvel vulgaridade. Foge a tudo o que possa cheirar a
reflexo, originalidade etc
17
.
17
MACHADO DE ASSIS. Teoria do Medalho, publicado originalmente in Gazeta de Notcias,
Rio de Janeiro, 1881.
Ensaios de geografia crtica
157
158
A questo da natureza na geografia e no seu ensino
*
Uma grande verdade uma verdade cujo oposto tambm
verdadeiro. (NIELS BOHR).
O processo histrico da humanidade como um todo
consiste em uma gradual apropriao da natureza pelo
esprito, a qual encontra-se fora dele, mas tambm de certa
maneira dentro dele. (GEORG SIMMEL).
I
A natureza histrica e, portanto, social. A natureza uma realidade
objetiva independente do social-histrico. Essas duas afirmaes
aparentemente contraditrias so verdadeiras, embora parciais se
entendidas isoladamente. Elas se complementam e podemos mesmo
dizer que formam um conjunto complexo, que costumava ser
denominado dialtico, enfim, um processo contraditrio de oposio
e, ao mesmo tempo, complementao. A natureza histrica enquanto
discurso(s), enquanto percepo pelo conhecimento humano, que
logicamente varia no tempo e no espao. histrica tambm enquanto
*
Texto elaborado com vistas a ser apresentado numa reunio de professores de geografia de
colgios de aplicao de diversas partes do Brasil, a ser realizada em outubro de 1995 e que
acabou no ocorrendo por falta de verbas. O convite que os organizadores fizeram para que
realizssemos uma fala sobre esse tema acabou, portanto, sendo desfeito, mas o texto foi
redigido, aps inmeras leituras e reflexes, e acreditamos que merea uma discusso por
parte dos gegrafos e, especialmente, dos professores de geografia.
Ensaios de geografia crtica
159
relao com a sociedade, na qual, mesmo influenciando alguns aspectos
do social, ela com frequncia modificada pela ao humana. Mas a
natureza igualmente uma realidade objetiva, um encadeamento de
processos naturais (ou seja, fsico-qumicos e biolgicos) que possui a
sua dinmica prpria e autnoma. Como realidade objetiva, a natureza
um complexo que inclusive originou, num certo momento, a vida
humana, que continua a fazer parte dela enquanto organismo que nasce
e morre, que necessita de oxignio, comida, repouso, que possui, enfim,
um ritmo biolgico independente do social apesar de intimamente
interligado a ele.
Justamente o grande problema da cincia geogrfica, e em particular do
seu ensino, o entendimento desse processo contraditrio, desse ser e
no ser concomitante da natureza. Para alguns e isso desde os
clssicos do sculo XIX, que em sua maioria tinham uma viso
empirista e objetivista do real , s existe o aspecto material e
autnomo da natureza. Ela seria apenas uma coisa em si, uma realidade
objetiva e margem do social-histrico. Nesses termos, quer a natureza
seja vista como um palco (ou a terra) que o homem vai ocupar, ou
mesmo quer ela seja entendida como recurso para a sociedade moderna,
trata-se de algo pr-definido e cuja objetividade nunca posta em
questo. J outros, em contrapartida, vem somente o subjetivo, o(s)
discurso(s) sobre a natureza, como se ela fosse essencialmente uma
ideologia no sentido mais vulgar dessa categoria. A primeira natureza,
ou natureza original e independente da ao humana, no mais existiria
e, no seu lugar, haveria to somente uma segunda natureza ou natureza
humanizada, reelaborada pela sociedade moderna. O grande desafio,
aqui, seria o de estudar as contradies da sociedade, sendo a natureza
compreendida como um subproduto destas.
Na primeira interpretao, a emprico-objetivista, a realidade uma s
(o universo enquanto categoria mais abrangente do ponto de vista das
coisas que existem), mas sem a preocupao com a conceituao de
totalidade ou de globalidade. Seria uma somatria de fenmenos na
qual o importante no partir do todo e, sim, das partes, analisando ou
at descrevendo cada uma isoladamente e depois, se possvel,
realizando snteses provisrias. E, na segunda interpretao, a
Jos William Vesentini
160
ideolgico-subjetivista, a realidade tambm uma s (a sociedade
moderna ou capitalista, com suas ideias sobre universo, natureza,
formao scio-espacial etc.) e existe uma grande preocupao com a
conceituao de sua unidade, ou melhor, de sua totalidade. O ideal aqui
partir do todo para se chegar s partes, sendo que uma lgica pr-
determinada de totalidade (as contradies do modo de produo
capitalista) que determina a dinmica de cada parte e mesmo a da
natureza, que afinal de contas nada mais seria que recurso(s)
instrumentalizado(s) pelo social.
Para superarmos esses dois vieses, temos que absorver o que h de
verdadeiro em cada um, procurando compatibiliz-los e tentando ir
alm deles. o que iremos encetar neste ensaio. Nossa inteno
mostrar que a natureza uma realidade objetiva, obviamente que
dinmica e complexa, e ao mesmo tempo um (ou vrios) discurso(s) ou
interpretao(es). Indo mais alm, procuraremos avaliar em que
medida a natureza e no social, o que, por um lado, d certa razo
aos que advogam uma separao ou at oposio entre o natural e o
social-cultural e, por outro lado, tambm justifica a ideia de uma certa
unidade ou complementaridade entre a sociedade e a natureza. Por fim,
no tocante ao ensino da geografia, justamente o campo no qual essa
problemtica se coloca de forma mais aguda, iremos demonstrar que o
ponto de partida no a concepo de natureza como normalmente se
pensa e, sim, a realidade do educando, podendo-se, dessa forma,
enfocar a dinmica natural desta ou daquela maneira, com ou sem
integrao imediata com o social, tudo dependendo do contedo a ser
estudado e, principalmente, do nvel de desenvolvimento intelectual e
da realidade existencial dos alunos.
II
Que a natureza seja uma realidade objetiva parece haver poucas
dvidas. Uma realidade extremamente complexa e, provavelmente, at
contraditria em vrios aspectos, certo, mas com sua(s) prpria(s)
dinmica(s) que independe(m) do pensamento ou da ao humanos.
Imaginar o contrrio, que a natureza s discurso ou interpretao,
seria regredir at um idealismo j h muito superado pela histria da
Ensaios de geografia crtica
161
filosofia e, em particular, pelos avanos das cincias naturais nestes
ltimos dois ou trs sculos. A histria da cincia nesses sculos pode
ser vista como uma longa narrativa de lutas contra a religio e o
idealismo, como uma afirmao cada vez mais categrica da autonomia
dos fenmenos naturais frente aos ideais humanos. Sabemos dos
escndalos ocasionados pelo desmanche do sistema geocntrico, pela
teoria da evoluo biolgica, pelas novas ideias sobre a origem do
universo e da Terra, pela gentica com as suas aplicaes...
Pode-se argumentar que a ideia de natureza uma abstrao e o que
conhecemos de fato so coisas ou fenmenos isolados, que os cientistas
fazem uso de paradigmas diferentes e at antinmicos de acordo com o
aspecto do real a ser estudado, que nossa interpretao sobre o mundo
plena de reviravoltas. Tudo isso correto, ao menos parcialmente. S
que nada disso elimina o fato segundo o qual a categoria natureza
essencial para a cincia moderna, que busca cada vez mais abordagens
integradoras sejam interdisciplinares, transdisciplinares ou at
holsticas e produz no s teorias e, sim, resultados concretos
incontestveis.
Alguns afirmam que o estudo de um rio ou de um relevo com sua
estrutura geolgica s tem sentido quando o relacionamos com a
dinmica social, com o uso que o homem faz desses recursos seja
poluindo o rio e/ou usando suas guas para abastecimento urbano, seja
construindo uma estrada ou um tnel nessa unidade de relevo, ou
explorando algum minrio no subsolo. Creio que ningum discorda que
esse uso importantssimo, notadamente no ensino elementar e mdio.
No entanto, convm no esquecer que a humanidade s constri
modernas estradas, tneis ou mecanismos de captao e filtragem de
guas fluviais porque existem estudos cientficos sobre o rio em si e
enquanto parte das guas e da sua dinmica no planeta, sobre os
minrios ou as unidades de relevo em si, como dinmicas prprias e
autnomas frente lgica social. O estudo da natureza em si, de
processos naturais em sua autonomia, condio sine qua non para o
seu uso pela sociedade moderna. Mais ainda, um pr-requisito
indispensvel para se resolver os enormes problemas ambientais
colocados por esse uso de forma intensiva, um dos grandes desafios do
Jos William Vesentini
162
sculo XXI. Como afirmou com propriedade o filsofo e cientista
poltico italiano Norberto Bobbio, sempre melhor uma anlise sem
sntese do que uma sntese sem anlise. Alguns gegrafos no
compreendem isso e pensam, de forma simplista, que pode existir uma
sntese sem anlises prvias.
A viso de natureza que a geografia herdou e reproduziu no seu ensino
foi a cartesiano-newtoniana, na qual a fsica a cincia chave para se
explicar o universo, categoria que nessa leitura se confunde com a de
natureza em seu nvel mais abrangente. Da o estudo geogrfico da
natureza ter sido denominado geografia fsica e as escassas tentativas
de abordagens globalizantes ou de criar snteses tinham por base
princpios da fsica clssica: causalidade simples, analogia, espao
absoluto, natureza como fenmenos fsicos em primeiro lugar, que no
tm vida consciente, mas, quando muito, vida vegetativa ou passiva,
isto , determinada pelo meio abitico. No fundo, nem poderia ter sido
diferente, pois a geografia moderna nasceu na poca da Primeira
Revoluo Industrial, no sculo XIX, destinada essencialmente, por um
lado, a mapear e descrever territrios para que o emergente Estado-
nao pudesse control-los de forma mais eficaz, e, por outro lado,
destinada a reproduzir uma ideologia nacionalista para as crianas e
adolescentes que cursavam o ensino de massas que se expandia na
poca e passava a se tornar obrigatrio.
Ocorre que o contexto histrico-social dos nossos dias a nova ordem
mundial com uma revalorizao da questo ambiental, a revoluo
tcnico-cientfica com as profundas mudanas que ocasiona na
sociedade moderna e nos seus valores dominantes exige uma reviso
nessa concepo de natureza. Pouco a pouco, no discurso cientfico em
geral (e no somente na geografia em particular), a viso cartesiano-
newtoniana de natureza, na qual os fenmenos fsicos constituem a
chave para a sua unidade e dinmica, vai cedendo lugar a uma viso
mais ecolgica, na qual a natureza-para-o-Homem passa a ser entendida
como a biosfera e os processos de vida comeam a ganhar terreno nas
explicaes da dinmica e mesmo da unidade dessa natureza em nosso
planeta, que, afinal de contas, a nica que interessa ao estudo da
geografia.
Ensaios de geografia crtica
163
interessante registrar, sem nenhuma pretenso de estabelecer nexos
de causalidade linear, que essa mudana ocorre paralelamente
passagem da Segunda para a Terceira Revoluo Industrial. De fato, na
Primeira e na Segunda Revoluo Industrial os avanos da humanidade
sobre a natureza a criao de uma segunda natureza, de acordo com
as formulaes clssicas de Marx tinham um forte contedo
mecnico: a mquina a vapor como smbolo dos primrdios da
industrializao original, as mquinas eltricas e o automvel como
smbolos da segunda etapa desse processo industrial. Durante muito
tempo, os notveis avanos da cincia e da tecnologia moderna, que no
fundo sempre permitiram ao homem libertar-se cada vez mais (embora
nunca totalmente) das amarras da natureza, estiveram bastante
identificados com as descobertas e aplicaes da fsica (e, em segundo
lugar, da qumica, que alguns epistemlogos dizem ser praticamente
um segmento da fsica). Isso vlido para o desenvolvimento dos
meios de transportes e comunicaes, para o aperfeioamento das
mquinas industriais, para as construes de edifcios e outras obras de
engenharia, para o aprimoramento dos armamentos etc. Quando
consultamos qualquer obra a respeito da histria da cincia moderna
com nfase em suas aplicaes, com nfase na tecnologia que gerou,
logo notamos que a maior parte das referncias ser para descobertas
fsicas da eletricidade energia nuclear, do estudo da atmosfera e sua
dinmica aos avies e satlites artificiais, do estudo dos materiais s
construes ou s explicaes sobre o centro da Terra. Desde Galileu
Galilei (e Descartes como o seu complemento em nvel terico) at
os grandes nomes da cincia do sculo XX (Einstein, Mach, Bohr,
Heisenberg e outros), o progresso tcnico do capitalismo confunde-se,
em grande parte, com as aplicaes das descobertas fsicas. No
pretendemos com essa constatao ideologizar a fsica, o que seria
ridculo frente aos inegveis avanos que ela suscitou no conhecimento
humano, e, sim, mostrar a sua eficcia para a modernidade e, ao mesmo
tempo, o porqu de sua primazia na viso capitalista de natureza, viso
pragmtica e mecnica que entende a natureza basicamente como
recurso(s) e objeto(s) sem vida.
O novo paradigma nos estudos sobre a natureza, a respeito do qual
tanto se especula desde as obras de Kuhn e de Capra, provavelmente
Jos William Vesentini
164
no vai derivar da relatividade ou da teoria dos quanta, como
geralmente se imagina, e, sim, da biotecnologia, em particular da
ecologia e da gentica. No devido a um pretenso equvoco daquelas
duas primeiras teorias longe disso! e, sim, em razo de uma maior
aplicabilidade, nos moldes da revoluo tcnico-cientfica em
andamento, da abordagem ecolgica e da engenharia gentica. Cada
vez mais a natureza (repito: natureza-para-o-Homem) deixa de ser vista
como o universo ou como um complexo sistema fsico e passa a ser
entendida como um encadeamento de ecossistemas o que leva at a
biosfera ou, segundo alguns, at Gaia , como um imenso complexo
vivo no qual o homem pode intervir, no mais apenas fazendo
mquinas ou obras de engenharia, no mais desmatando e/ou
aplainando de forma acelerada e construindo cidades ou monoculturas,
e, sim, agindo de acordo com os princpios da ecologia (controlando
biologicamente as pragas, conservando certos ecossistemas ou
espcimes etc.) e/ou com os princpios da gentica (mapeando e
manipulando genes, criando novos organismos e substncias). Alis, ao
contrrio do que pensam certos militantes ambientalistas ingnuos,
ecologia e gentica no se contradizem (sendo uma voltada para a
conservao dos seres vivos e a defesa dos alimentos naturais e a outra
apregoando a modificao dos seres vivos e criando alimentos
artificiais), mas, sim, se complementam no avanar da Terceira
Revoluo Industrial. A ecologia, entendida como
pesquisa/conservao de ecossistemas e seres vivos em sua mxima
diversidade, condio bsica para o avano da gentica, do estudo de
genomas dos seres vivos e da criao artificial de novos seres vivos ou
organismos geneticamente modificados. E, como veremos a seguir,
ambas so fundamentais para esta nova fase de expanso industrial (ou
ps-industrial, como advogam alguns), que a revoluo tcnico-
cientfica.
A ao do homem na natureza, a partir do advento do capitalismo e da
sua viso pragmtica sobre o mundo, sempre foi a de um conquistador
frente aos domnios que anexou. Dominar a natureza foi o lema
bsico da modernidade desde no mnimo o sculo XVII. Neste final de
sculo e de milnio, comea a haver uma mudana significativa nessa
viso e tambm, embora de forma mais tmida, nessa ao. Os motivos
Ensaios de geografia crtica
165
para isso so vrios: crescente conscincia ecolgica ou ambiental da
humanidade, que teve como marcos importantssimos a Primeira
Conferncia Mundial sobre o Meio Ambiente (Estocolmo, 1972) e,
vinte anos depois, a Eco-92 no Rio de Janeiro; o acmulo de problemas
ambientais (buraco na camada de oznio, efeito-estufa com o acmulo
de CO
2
na atmosfera, acidentes nucleares e advento novas armas letais
produzidas em massa nos anos 1960 e 1970, intensos desmatamentos
nas poucas reservas florestais ainda originais, crescente carncia de
gua potvel em diversas regies do planeta, ampliao das reas
desrticas ou semiridas em inmeros lugares etc.), juntamente com a
percepo de que eles no tm uma dimenso meramente local ou
regional, como se imaginava at o incio dos anos 70, e, sim, planetria
ou global; e, por fim, a crise da bipolaridade e da Guerra Fria, entre
1989 a 1991, com o advento da nova ordem mundial, na qual a
preocupao dos pases ricos com uma hipottica guerra mundial, em
grande parte, desloca-se para os problemas ambientais planetrios.
lgico que essa cada vez mais aguda preocupao dos pases ricos
com a questo ambiental planetria no se fundamenta apenas nos
riscos de catstrofes, ou nas possibilidades de empobrecimento da
diversidade biolgica e cultural para as futuras geraes, mas tem,
igualmente, um motivo bastante prtico: a biodiversidade vem se
transformando num negcio lucrativo (e com um vastssimo campo de
expanso), com o desenvolvimento da biotecnologia e com todos os
demais aspectos interligados, quais sejam: as indstrias de novos
materiais, as pesquisas biolgicas de novas fontes de energia, os novos
remdios e tratamentos mdicos com a engenharia gentica, a nova
agropecuria com o melhoramento gentico de animais e plantas,
inclusive com a futura produo in vitro numa escala gigantesca etc.
Se destruir a natureza foi um princpio essencial da modernidade
nestes ltimos sculos, agora o imperativo de a conservar vem cada
vez mais ganhando terreno. Mas no conservar como guardar ou no
usar e, sim, como utilizar de outra forma, como banco de dados
genticos, como ecoturismo, como reserva de expanso da
biotecnologia. De uma ao semelhante ao de um exrcito conquistador
que extermina grande parte da populao dominada, que procura
Jos William Vesentini
166
arrasar o terreno e reconstruir tudo, a estratgia da sociedade moderna
frente natureza passa atualmente por uma transio no sentido de
tornar-se semelhante ao do colonizador que conserva e utiliza as
populaes nativas, que procura no elimin-las e, sim, redirecion-las
para seus valores e interesses (mesmo que, para isso, tenha tambm que
fazer transigncias ou adaptaes de seus prprios valores em funo
da realidade do colonizado). a que a engenharia gentica se encontra
com a ecologia: para manter essa nova expanso com a criao de
novos seres vivos, de novas substncias resultantes da manipulao
gentica, torna-se necessrio dispor de organismos selvagens ou
originais, que constituem uma espcie de reserva ou de banco de dados
para as presentes ou futuras necessidades de correes ou
melhoramentos dos organismos j manipulados, os quais sempre
necessitam de proteo do homem, de constantes introdues de novos
genes em funo de novas pragas ou agentes patognicos que
inevitavelmente surgem. Exemplificando, podemos dizer que a
agropecuria avanada, que tem por base a engenharia gentica e at
dispensa grandes extenses de solo ou de espaos naturais, que
prescinde mesmo das boas condies naturais, e que, por esse motivo,
representa um novo patamar no domnio do homem sobre a natureza
(no qual se chega at a criar novos seres vivos, algo que at a pouco
era tido como atributo apenas de Deus), na realidade precisa mais do
que nunca de reservas de natureza nativa ou selvagem, de grande
diversidade biolgica enquanto condio mesmo de sobrevivncia a
longo prazo. Esse fato deixa patente que nunca haver somente a
segunda natureza, que sempre deve haver reservas de primeira natureza
como elemento indispensvel para a sobrevivncia da sociedade
moderna e da prpria humanidade. No seu limite, como se percebe
hoje, a produo humana de uma segunda natureza necessita e at
depende da existncia de reservas da primeira natureza, de ecossistemas
nativos. Da ser completamente absurda aquela ideia marxista
infelizmente reproduzida por alguns gegrafos que se dizem crticos
sobre o final da primeira natureza, ou sua pouca importncia na
sociedade moderna, enfim, sobre um pretenso domnio absoluto do
homem frente natureza original.
Ensaios de geografia crtica
167
Dessa forma, a nossa viso atual sobre a natureza passa por uma
transio no sentido de consider-la no mais essencialmente como um
sistema fsico sem vida e, sim, como um complexo (e um
encadeamento de processos) biolgico, no qual logicamente tambm
entram os fenmenos abiticos ou fsico-qumicos, mas no qual o
fundamental passa a ser a diversidade orgnica como essncia da
permanncia e da dinmica das coisas. De uma interpretao
cartesiano-newtoniana, fundada na causalidade e no espao e tempo
absolutos, passamos a uma viso ecolgica (um encadeamento de
ecossistemas ou paisagens naturais que sempre vivem um equilbrio
instvel) que valoriza bastante a probabilidade e at o acaso (o caos, a
indeterminao, o papel da contingncia nas mudanas), que revaloriza
a vida em sua diversidade e onde o espao e o tempo, categorias
indissociveis, so normalmente relativizados. Do universo infinito
passamos biosfera com seus limites tangveis. No que isso signifique
que a biosfera deixe de fazer parte do universo, cuja finitude
constantemente demonstrada, mas com suas caractersticas prprias e
talvez at sem paralelo no cosmos, como a verdadeira natureza-para-o-
Homem enfim.
Isso tudo exige, no o final do estudo geogrfico da natureza em si,
como apregoam aqueles que pretendem reduzir tudo ao econmico ou
ao modo de produo, e, sim, uma passagem da geografia fsica para
uma verdadeira geografia da natureza, algo que por sinal j vem
ocorrendo nos ltimos anos ou dcadas, como comprovam os
estudos/propostas sobre geossistemas, as anlises integradoras do meio
ambiente ou de paisagens naturais, a renovada preocupao com a
dimenso temporal nos fenmenos naturais.
III
Isso posto, podemos agora voltar nossa ateno para o ensino da
geografia. Tambm, aqui, temos que considerar o atual contexto
histrico-social da nova ordem mundial, da globalizao e da revoluo
tcnico-cientfica. Ensino de geografia para qu? Para formar cidados,
afirma-se comumente com certa razo. Mas cidados de um novo
mundo no sculo XXI, no qual o mais importante no inculcar um
Jos William Vesentini
168
patriotismo exacerbado (o que a geografia tradicional fazia muito bem)
e, muito menos, fornecer informaes (sobre unidades de relevo, rios,
cidades, cultivos etc.) para serem memorizadas ou assimiladas.
Tampouco conscientizar o aluno, naquela perspectiva de haver uma
conscincia verdadeira ou revolucionria que o professor deveria
transmitir ou ensinar. Tudo isso so valores ou princpios j superados,
de outros momentos histricos ou de outros papis sociais para a
escola. O mais importante hoje, na escola para a Terceira Revoluo
Industrial e, provavelmente, no haja outro caminho para a
modernidade neste final de sculo , ensinar o aluno a aprender, a
pesquisar, a ter autonomia, pois a reciclagem constante e um novo
papel mais valorizado do conhecimento, que sempre se renova, uma
caracterstica marcante da nova fora de trabalho (e at do cidado
pleno neste mundo cada vez mais globalizado) sob a revoluo tcnico-
cientfica.
O fundamental no ensino da geografia, que se revaloriza com a
globalizao atual, deixar o educando conhecer o mundo em que vive,
desde a escala local at a regional, a nacional e a planetria. Deix-lo
conhecer o mundo em que vive no significa meramente transmitir
informaes e, sim, orientar pesquisas, discusses, interpretao de
bons textos e mapas, elaborar e operacionalizar com frequncia
trabalhos de campo (estudos do meio, excurses, visitas a fbricas,
museus, bairros especficos etc.). A grande preocupao do ensino da
geografia, em nvel fundamental e mdio, no com a
unidade/dicotomia entre o social e o natural, como insistem alguns (que
no fundo esto apenas levando at as crianas ou adolescentes uma
velha e talvez j superada discusso da geografia acadmica), e, sim,
com o desenvolvimento intelectual do educando, com o aprender a
aprender sendo mais importante que o contedo especfico a ser
ensinado. A geografia escolar, cabe recordar, um instrumento e no
um fim em si no processo de desenvolvimento intelectual dos alunos
do ensino fundamental e mdio. Entender isso bsico para se
posicionar frente questo da natureza no ensino da geografia.
No existe uma frmula ou um modelo nico de estudo da natureza no
ensino da geografia. Tudo depende do contedo a ser ensinado e da
Ensaios de geografia crtica
169
realidade (econmica, social, cultural, psicogentica e at espacial, no
sentido de local onde residem) dos alunos com os quais se trabalha.
Caso estejamos lecionando uma realidade regional, por exemplo seja
a Amaznia, o Nordeste ou o sul da sia , ento, lgico que teremos
que integrar (e no embaralhar ou fundir) os contedos referentes ao
social e ao natural, sem a preocupao em um ter que vir
necessariamente antes do outro, ou que cada uma dessas partes tenha
exatamente 50% do espao das aulas, o que seria ridculo e artificial na
medida em que o importante motivar o educando e faz-lo se
interessar pelo conhecimento dessas realidades e no ficar
reproduzindo no ensino fundamental ou mdio as picuinhas dos
departamentos de geografia das universidades (nos quais, normalmente,
h constantes brigas por contrataes de novos professores, por maior
ou menor carga horria das disciplinas de geografia fsica e humana,
que, no fundo, nada mais so que disputas por poder).
No d para se estudar o sul da sia sem fazer referncias s mones e
s chuvas torrenciais, por exemplo, assim como no possvel lecionar
o Nordeste brasileiro sem discutir o clima semirido e as secas (mesmo
que seja para desmistific-las enquanto fator explicador para a pobreza
ou as migraes), e tampouco possvel um estudo adequado da
Amaznia sem uma especial ateno para o meio natural com nfase na
floresta e sua diversidade. S que esses elementos ou processos naturais
no devem ser necessariamente o ponto de partida desses estudos e,
muito menos, ocupar metade de todo o contedo a ser ensinado. Seria
muita ingenuidade ou falta de bom senso negar que os processos sociais
(a luta pela terra e os desmatamentos na Amaznia, os choques
culturais-religiosos e a herana da dominao colonial no sul da sia, a
concentrao das riquezas no Nordeste e o poderio das oligarquias
tradicionais) so muito mais importantes para a compreenso de todas
essas realidades regionais mencionadas. Mas o estudo dos processos
naturais em si no deve ser omitido, pois ele tambm possui a sua
parcela de contribuio para o conhecimento dessas realidades.
J, no caso de estarmos trabalhando com crianas de 5
a
ou 6
a
sries, o
ideal partir do concreto para se chegar ao abstrato, a melhor forma
para deix-las descobrir ou construir os conceitos bsicos da geografia.
Jos William Vesentini
170
Nesse ensino no tem sentido pretender fundir a parte humana com a
fsica, pois os conceitos elementares seja o de coordenadas
geogrficas, de mapa, de densidade demogrfica, de tipos de clima, de
espao geogrfico, de lugar, de regio ou de Estado-nao so muito
mais facilmente compreendidos quando estudados isoladamente, com
exemplos e, na medida do possvel, com experincias ou trabalhos de
campo, e s depois que podem ser interligados com os demais
aspectos do real. No se pode fazer snteses a todo momento, pois antes
delas devem existir anlises. No h nada de incorreto em se estudar a
natureza em si, o clima, por exemplo (com observaes das nuvens, da
direo dos ventos, com visitas a estaes meteorolgicas etc.), ou a
vegetao (inclusive com excurses a bosques ou matas para examinar
as plantas, os solos, a hidrografia local etc.). O importante , sempre
que possvel, estabelecermos relaes dos elementos naturais entre si
(numa viso globalizante da paisagem ou do ecossistema) e tambm
deles com a ocupao humana (real ou potencial); mas existem alguns
momentos em que o estudo ou explicao de um aspecto do real,
isoladamente, torna-se necessrio.
A ideia de nunca separar o social do natural fantasiosa, sem nexo do
ponto de vista cientfico. Existe o momento de separar e o de unir, o
momento de isolar um elemento para melhor estud-lo e o de relacion-
lo com outros fatores, da mesma forma que tanto a anlise quanto a
sntese so imprescindveis ao avano do conhecimento. E no adianta
ficar repetindo que a lgica dialtica supera a lgica formal e a
cincia moderna (que a tem como alicerce), pois isso apenas um
chavo que s foi levado a srio de fato na Unio Sovitica dos anos
1930, na poca urea do stalinismo e que, por sinal, ocasionou um
enorme atraso no desenvolvimento cientfico sovitico. A dialtica no
nenhuma teoria ou lgica redentora ou messinica, mas to somente
uma questo filosfica bastante polemizada na segunda metade do
sculo XX. No ser a partir dela que iremos reavaliar o estudo da
natureza no ensino da geografia e, sim, em funo dos objetivos da
geografia escolar, da realidade dos alunos e dos avanos do
conhecimento cientfico, o qual no deve ser meramente reproduzido
no ensino elementar e mdio e, sim, adaptado, reelaborado em funo
da necessidade do educando pesquisar e construir conceitos.
Ensaios de geografia crtica
171
Jos William Vesentini
172
173
A atualidade de Kropotkin, gegrafo e anarquista
*
Piotr Ayexeyevich Kropotkin viveu entre 1842 e 1921. Foi um
moscovita de famlia rica e aristocrtica que decidiu viver
modestamente de seu prprio trabalho como gegrafo e secretrio,
durante alguns anos, da Sociedade Geogrfica Russa, como professor,
como jornalista e at como tipgrafo. Sua vasta obra, que procura
incorporar ou integrar determinadas ideias libertrias na geografia, bem
como sua peculiar concepo do que a geografia deveria ser, representa
seguramente um dos principais captulos ainda no escritos de uma
histria crtica do pensamento geogrfico. Sem nenhuma dvida, ele foi
o principal omitido em quase todas as obras que discorreram sobre esta
tradio discursiva. Sua fala e seus inmeros escritos, via de regra,
foram solenemente ignorados e, assim, silenciados, e isso numa
proporo muito maior do que em relao a lise Rclus, seu grande
amigo. Mesmo a geografia crtica francesa, que em grande parte
nasceu ao redor da revista Hrodote, buscou recuperar certas ideias de
Rclus principalmente por ele ter sido francs e deixou Kropotkin
de lado. E a geografia radical norte-americana, que o homenageou
com um nmero especial da revista Antipode, em 1976, na realidade
incorporou muito pouco seus ideais e proposies, preferindo aquilo
que ele denominava socialismo autoritrio, ou seja, as teorias
econmicas marxistas e o princpio da planificao no lugar da
autogesto.
*
Artigo originalmente escrito como introduo para uma coletnea de textos de Kropotkin
por ns organizada e publicada pela Associao dos Gegrafos Brasileiros, seo So Paulo
(AGB-SP): Seleo de Textos n.13, Piotr Kropotkin, maro de 1986, 80 pginas. Fizemos vrias
alteraes e acrscimos nesta verso, mas boa parte do texto de 1986 foi mantida.
Jos William Vesentini
174
Por outro lado, no entanto, esse anarquista russo constitui
provavelmente o gegrafo que, desde Humboldt, recebeu o maior
nmero de citaes elogios, crticas ou referncias oriundas de no-
gegrafos: inmeros bilogos, antroplogos, filsofos, cientistas
polticos, socilogos, militantes polticos de esquerda, escritores etc., de
vrias partes do globo, o mencionaram. Juntamente com Proudhon,
Bakunin, Godwin e Stirner, Kropotkin representa um dos cinco grandes
nomes do anarquismo. Ele sempre exaustivamente analisado nos
trabalhos que abordam as ideias socialistas do sculo XIX e dos
primrdios do XX. Ao contrrio de Rclus, que costuma ser lembrado
apenas de passagem e nem sempre , Kropotkin com frequncia
objeto de captulos inteiros nas obras de autores que analisam o
anarquismo, tais como Daniel Gurin, George Woodcock, Ivan
Ivakumovic, Paul Avrich, I. L.Horowitz, James Joll e vrios outros.
Tambm os estudiosos que trabalharam com as ideias urbansticas
como so os casos de Lewis Munford e de Franoise Choay , que
tratam da metodologia das cincias como Paul Feyerabend ou que
abordam a evoluo humana como Ashley Montagu, dentre outros ,
costumam fazer longas referncias a esse gegrafo e anarquista que
abordou de forma original essas questes, alm de outras, em seus
estudos. Literatos eminentes escreveram sobre Kropotkin: desde Leon
Tolstoi (que influenciou Gandhi) at Noam Chomsky, passando por
autores to diferentes como Bernard Shaw, Paul Goodman, Oscar
Wilde e Hebert Read, podemos encontrar em seus livros e artigos
consideraes elogiosas sobre o prncipe anarquista. (Kropotkin
recebeu esse apelido, por parte de alguns bigrafos, devido ao fato de
descender da antiga Casa Real de Rurik, que governara a Rssia antes
dos Romanov; todavia, desde os 22 anos de idade que ele decide no
mais receber auxlio da famlia, passando a ser autossuficiente e
inclusive contrrio s ideias aristocrticas, na medida em que opta por
ser um militante da luta contra as desigualdades sociais e a dominao
social). E as ideias de Kropotkin exerceram uma inegvel influncia em
vrios movimentos populares com nfase na autonomia, com especial
destaque para as experincias de autogesto na Espanha revolucionria
de 1936-7.
Ensaios de geografia crtica
175
Qual teria sido o motivo dessa excluso de Kropotkin na geografia? Por
que esse gegrafo (e militante poltico), que chegou a receber uma
medalha de ouro na Sociedade Geogrfica Russa pelas suas
investigaes sobre aspectos da geografia fsica da Sibria, que at o
fim de sua vida preocupou-se com (e escreveu sobre) o ensino da
geografia, com as relaes sociedade/natureza e outros temas
congneres, acabou sendo marginalizado pela geografia acadmica em
praticamente todas as suas vertentes? Por que, at mesmo nos ltimos
anos e dcadas, as anlises ditas crticas ou radicais relutam em
incorporar ou recuperar Kropotkin, preferindo normalmente a cmoda
(mas incorreta) atitude de identific-lo com Rclus, passando ento a
falar quase que exclusivamente deste ltimo?
Provavelmente, isso tenha ocorrido porque Kropotkin difcil de ser
enquadrado, classificado, delimitado nos moldes da epistemologia
tradicional da geografia, seja ela positivista ou dialtica como
muitos gostam de diferenciar, de forma maniquesta e simplificadora.
Geografia e anarquismo (ou socialismo libertrio), cincia e militncia
a favor dos interesses populares (algo que no se confunde com o
iderio de qualquer partido ou burocracia), para Kropotkin, eram
elementos indissociveis. J em lise Rclus possvel, ou pelo
menos menos difcil, separar o joio do trigo, isto , a cincia da
no-cincia, a geografia do anarquismo. Suas obras libertrias, tais
como o relato sobre a Comuna de Paris de 1871 (da qual participou e
inclusive foi um dos lderes) ou a exposio dos princpios anarquistas,
no so apresentadas como geografia e, de fato, diferem bastante dos
trabalhos geogrficos tais como LHomme et la Terre ou a Nouvelle
Gographie Universelle
1
. Em Kropotkin, ao contrrio, salvo em raras
1
bem verdade que Rclus, especialmente na obra LHomme et la Terre (cujo ttulo, por si
s, j representa uma inverso do rtulo que simbolizava o paradigma da geografia
tradicional: a Terra e o Homem), aborda temas avanados para o discurso geogrfico da sua
poca, tais como a luta de classes, a educao e as cincias, as formas de propriedade, a
colonizao e a dominao dos pases desenvolvidos em relao aos demais. Todavia, apesar
de Rclus proclamar o seu ideal libertrio na introduo e/ou na concluso das suas obras
geogrficas, predomina em LHomme et la Terre, e principalmente nos 19 volumes da sua
Nouvelle Gographie Universelle, um discurso geogrfico separvel do anarquismo e na qual
os elementos fsicos, em especial as bacias hidrogrficas e as unidades de relevo que servem
como seus divisores, tm destaque como agentes definidores das regies estudadas. Mas esse
Jos William Vesentini
176
excees como em trabalhos de juventude, em particular sobre
geomorfologia; ou na colaborao com Rclus na parte sobre a Rssia na
enciclopdia deste, na qual se procurou respeitar o esprito da obra , os
aspectos geogrficos e os libertrios entrelaam-se, so de fato
inseparveis. Para ele, a filosofia anarquista, vista como um ser-em-
construo, caminha junto e enleada com a cincia moderna tanto na
perspectiva metodolgica quanto na contribuio conjunta para a
libertao da humanidade do reino da necessidade e da opresso de
alguns sobre muitos
2
. Quando Kropotkin critica no sentido moderno
da palavra crtica: percebendo sua originalidade e seu carter inovador
na cincia e, ao mesmo tempo, apontando limitaes Darwin e
especialmente a leitura de Huxley sobre a evoluo das espcies,
mostrando como a ajuda mtua (expresso que criou) to ou mais
importante que a luta pela sobrevivncia no processo evolutivo
3
, ou
quando critica a diviso do trabalho e a hierarquizao das tarefas,
propondo uma reordenao societria e espacial baseada em comunas
autogeridas e sem os poderes institudos nos Estados nacionais
4
, ele
logra ser ao mesmo tempo anarquista e gegrafo. Ou melhor,
Kropotkin apesar de reconhecer as diferenas individuais e as
aptides de cada um, que deveriam ser respeitadas e at estimuladas
argumenta que a verdadeira liberdade pressupe a supresso da
autor, longe de representar uma geografia descritiva que teria se tornado ultrapassada com
o surgimento da obra de Vidal de La Blache, como argumentaram alguns trabalhos sobre a
histria do pensamento geogrfico, na realidade aponta para caminhos negligenciados at
muito recentemente nesta disciplina, como demonstraram muito bem LACOSTE, Yves
Gographicit et gopolitique: lise Reclus (in: revista Hrodote n.22, 1981), e GIBLIN,
Batrice Rclus: um cologiste avant lheure? (in: revista Hrodote n. 22, 1981).
2
Cf. KROPOTKIN, P. La ciencia moderna y el anarquismo. In: HOROWITZ, I.L (org.). Los
Anarquistas. Madrid, Alianza, 1975, p. 181-202. (Trata-se de uma parte da obra de Kropotkin
publicada originalmente em francs no ano de 1913).
3
Cf. KROPOTKIN, P. El apoio mutuo, um factor de evolucion. Buenos Aires, Proyeccin, 1970.
(Original, em ingls, de 1902, com o ttulo de mutual aid). Neste importante livro, Kropotkin
acrescenta algo teoria da evoluo, posteriormente reconhecido por Darwin embora no
pelo agressivo Huxley, o buldogue de Darwin: a ajuda mtua entre os animais. Ao mesmo
tempo ele critica Marx por ser demasiado darwinista no mal sentido, isto , algum que s
v a luta de classes e no a cooperao, a auto-ajuda intra e entre as classes, alm das no-
classes (mulheres, etnias ou raas subjugadas etc.).
4
Cf. KROPOTKIN, P. Campos, fabricas y talleres. Madris, Ediciones Jcar, 1978. (Original de
1898, em ingls).
Ensaios de geografia crtica
177
oposio entre o trabalho manual e o intelectual, assim como a
supresso de toda compartimentao rgida que a diviso capitalista do
trabalho engendra no conhecimento cientfico
5
.
Alm disso, Kropotkin abominava o Estado-nao (assim como
qualquer forma de Estado), as fronteiras polticas, os chauvinismos e a
glorificao da ptria. Ao se referir aos objetivos do ensino da
geografia, Kropotkin assinalou:
tarefa da geografia mostrar que a humanidade uma s,
que as diferenas nacionais ou locais no devem servir
para ocultar a imensa semelhana que existe especialmente
entre as classes trabalhadoras de todo o mundo, que as
fronteiras polticas so relquias de um passado brbaro e
que os nacionalismos exarcebados, as guerras e os
preconceitos entre naes ou em relao s raas
inferiores s servem para manter ou reforar os interesses
de grupos ou classes dominantes
6
.
Como se percebe, alguns dos escopos que ele propunha geografia
colidiam frontalmente com as determinaes essenciais que originaram
a institucionalizao da cincia geogrfica. Essa institucionalizao
acadmica em meados do sculo XIX ou, pela tica oficial, o
nascimento da geografia moderna e cientfica , esse lugar ento
conseguido junto diviso capitalista do trabalho intelectual,
fundamentalmente pela via dos patrocnios estatais, foi inseparvel do
engendramento dos Estados-naes e da escolarizao das sociedades.
Naquele contexto de rpida industrializao e urbanizao, a
construo dos Estados tipicamente capitalistas, isto , os Estados
nacionais, foi um processo no qual o papel desempenhado por
instituies que impunham uma unidade nacional como a escola e o
exrcito foi crucial. A consolidao de uma certa geografia no
sistema escolar em expanso, desde as universidades at o ensino
5
Cf. KROPOTKIN, P. Campos, fabricas y talleres, op.cit., especialmente captulo VIII, p. 142-64.
6
KROPOTKIN, P. What geography ought to be. In: Antipode: a Radical Journal of Geography,
vol.10-11, n.1-3, 1976, p. 6-15. (Ensaio foi publicado originalmente in The Nineteenth Century,
Londres, dezembro de 1885).
Jos William Vesentini
178
elementar, ligou-se naturalizao do Estado nacional, nfase no
territrio em sua conceituao. O pas, com o seu territrio e as suas
fronteiras, com a sua populao e a sua economia, com a sua
organizao poltico-administrativa nacional e as suas tradies (em
geral inventadas), passa a ser entendido como um ente telrico, fruto de
um processo natural
7
.
No por acaso que inmeros gegrafos ilustres, tidos como
fundadores de escolas geogrficas, sempre foram bem relacionados
com importantes personagens ligados unificao nacional via
expanso da escola enquanto instituio subordinada ao Estado que se
redefinia e fortalecia. Por exemplo, o linguista e educador Wilhem von
Humboldt, irmo mais velho de Alexander, o forjador ou
sistematizador da geografia moderna, foi o escolhido pelas autoridades
prussianas da poca (1810) para construir um modelo de universidade
cume de todo o sistema escolar apropriado ao Estado-nao que se
unificava, ou melhor, que estava sendo construdo. Vidal de La Blache,
tido como o fundador da escola geogrfica francesa, elaborou um
modelo de geografia caracterizado pela sua eficcia no sistema escola
francs reformulado por Jules Ferry. Tambm sir Halford Mackinder, o
grande nome da geografia britnica no final do sculo XIX e incios do
XX, foi um dos responsveis pela introduo da disciplina escolar
geografia no sistema escolar do Reino Unido.
Kropotkin, em contraponto, trilhou um caminho inverso. Ele tambm
defendia a introduo e/ou expanso da geografia nos currculos
escolares, mas com outros objetivos completamente diferentes da
promoo do nacionalismo. Mesmo tendo origens nobres, tendo
cursado as melhores escolas de Moscou, onde sempre foi o aluno mais
brilhante, chegando at a receber elogios do Tzar Nicolau I, e com um
eventual futuro garantido como um dos mais jovens generais do
exrcito russo (atividade na poca reservada nobreza), Kropotkin,
para decepo da famlia, resolve tornar-se gegrafo e, posteriormente,
o que ainda mais grave, anarquista, inimigo declarado de qualquer
forma de autoridade e, principalmente, do Estado. Sua opo de vida
7
Cf. HOBSBAWN, E. e RANGER. T. (org). A inveno das tradies. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1984; e tambm HOBSBAWN, E. A era do capital. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1979, p. 101-116.
Ensaios de geografia crtica
179
acabou por lev-lo, em 1874, priso-fortaleza de Pedro-e-Paulo, por
incentivar e participar de algumas revoltas camponesas. Dois anos
depois ele consegue fugir desse crcere, indo para alguns pases da
Europa Ocidental (Sua, Frana e finalmente Inglaterra, onde acaba se
estabelecendo), nos quais viveu durante cerca de 40 anos e onde
escreveu e publicou as suas obras mais importantes. Sua concepo
libertria fez com que ele acabasse sendo marginalizado pela geografia
acadmica da sua poca, j que ela era organicamente ligada ao
Estado
8
. E tambm quase todas as obras sobre a histria do pensamento
geogrfico omitiram a importncia de Kropotkin, o que no
surpreendente se atentarmos para o fato de que toda histria linear ou
evolutiva, como nos ensina Walter Benjamin, sempre um discurso
dos vencedores
9
.
Posto que os vencidos representam sempre alternativas possveis mas
no efetivadas, o continuum da histria, o procedimento historicista de
estabelecer conexes casuais (como se tal processo tivesse
necessariamente que resultar naquilo que ocorreu), subsume-se
indefectivelmente na memria construda pelos vencedores. nesse
sentido que Walter Benjamin refere-se cumplicidade dos vencedores
de todas as pocas. Por outro lado, no possvel uma histria linear
dos vencidos, mas apenas crticas a momentos especficos nas quais
se recuperam fragmentos de alternativas que romperiam com esse
continuum. Dessa forma, apesar das diferenas terico-metodolgicas
entre os inmeros autores que construram esse objeto denominado
histria do pensamento geogrfico, todos eles reproduziram por
distintos vieses o discurso do poder na medida em que fixaram essa
histria como um processo linear, como algo que possui um sentido
unvoco. Kropotkin no tem, assim, lugar nesse tipo de construo a
no ser como curiosidade, ou ento como caricatura, como discpulo
de Rclus, o qual, afinal, no teria dito coisas muito diferentes de seus
contemporneos , pois ele foi um dos que combateram contra a
histria, para usar uma expresso de Nietzsche e, portanto, seria uma
8
Cf. VESENTINI, J. W. A capital da geopoltica. So Paulo, tica, 1987, captulo 1; e tambm
RAFESTIN, C. Por uma geografia do poder. So Paulo, tica, 1993.
9
Cf. BENJAMIN, W. Tesis de filosofia de la historia. In: Discursos interrumpidos I, Madris,
Taurus, 1972, p. 177-191.
Jos William Vesentini
180
fala que, ao ser registrada com fidelidade, implodiria essa imagem de
evoluo, esse sentido histrico construdo a partir de (pretensas)
necessidades inelutveis.
Kropotkin representou, no interior do anarquismo, o principal terico
de uma corrente denominada anarco-comunismo ou comunismo
libertrio. Outros nomes representativos dessa tendncia foram Enrico
Malatesta (o mais importante aps Kropotkin), Carlo Cafiero, Franois
Dumartheray e os irmos Elie e lise Reclus, entre outros. O
anarquismo, que como se sabe tem como caracterstica bsica uma
recusa radical do Estado (mesmo que provisrio ou de transio) e de
qualquer forma de autoridade, sempre foi marcado pela pluralidade, por
tendncias ou correntes bem diferenciadas, por posies extremas que
vo do individualismo mais arraigado at um coletivismo social, alm,
evidentemente, da clssica oposio entre os que apregoam a violncia,
os atos terroristas, os assassinatos de personagens ligados ao poder, e
aqueles que condenam esse tipo de violncia e defendem um pacifismo,
uma rebelio no-violenta no estilo da desobedincia civil.
Se o anarquismo foi individualista e at simptico ao egosmo com
Max Stirner (que chegou a exercer certa influncia em Nietzsche), por
outro lado, foi tambm coletivista ou mutualista com Proudhon,
passando por posies intermedirias que se manifestam de forma
especial no contraditrio (mas sempre frtil intelectualmente)
Bakunin
10
. Dentro desse emaranhado de posies, Kropotkin ganhou
um lugar de destaque por dois motivos principais. Pelo seu pacifismo e
recusa de mtodos violentos e individualistas, pela sua crena na
solidariedade humana e no progresso da cincia, ele contribuiu para que
o anarquismo deixasse de ser identificado como uma doutrina de
violncia e destruio indiscriminadas para se consolidar como um
projeto de reordenao societria pela via da ao conjunta dos povos
11
.
E a sua inspirao baseada nas comunas, assemblias ou sovietes,
possui como finalidade a criao de uma sociedade comunista (esse
10
Cf. ARVON, H. El anarquismo. Buenos Aires, Paidos, 1971; e GURIN, Daniel. Anarquismo.
Rio de Janeiro, Germinal, 1968.
11
Cf. WOODCOCK, George. Anarquismo uma histria das ideias e movimentos libertrios.
Porto Alegre, L&PM, 1983, vol.I, p. 163-70.
Ensaios de geografia crtica
181
termo vem de comuna, tendo como grande exemplo a de Paris de 1871,
embora Kropotkin tenha feito algumas crticas a esta pelo fato de ter
aplicado, em alguns casos, o sistema representativo ao invs da
democracia direta
12
).
Kropotkin foi vtima de um grande mal terico do sculo XIX: o
cientificismo. Bastante prximo ao marxismo neste ponto, ele
acreditava que a sociedade seria regida por leis conceito inspirado
na metodologia das cincias naturais da poca e que esse mecanismo
oculto que determinaria o funcionamento e a evoluo histrica do
social tenderia naturalmente para o comunismo, que seria uma
sociedade sem classes e sem Estado. Influncia do iluminismo, sem
dvida, com sua concepo de progresso inevitvel da humanidade.
E tambm uma crena na cientifizao progressiva da sociedade
humana e da sua ao sobre a natureza. Portanto, assim como Marx, ele
tinha uma concepo de sentido unvoco para a histria, de
progresso.
Contudo, diferentemente do socialismo autoritrio ( assim que ele
denominava o marxismo), o socialismo libertrio que propunha no
fazia qualquer concesso ao Estado, nem conhecia nenhum perodo de
transio entre o capitalismo e o socialismo. Comunismo e socialismo,
dessa forma, para ele eram sinnimos. Nesses termos, o Estado no
deveria ser tomado ou instrumentalizado por qualquer classe
revolucionria, mas pura e simplesmente extinto. No seu lugar deveria
ser construda uma nova forma de gesto do social, que iria das
comunas autogeridas isto , com democracia direta, onde todos se
conhecessem e tivessem os mesmos direitos de falar, fazer as leis,
participar da administrao etc. , at uma federao mundial formada
por vrias naes (mas no Estados-naes), que no fundo nada mais
seria do que a reunio das comunidades autnomas
13
.
Ele manifestou uma grande sensibilidade, e isso ainda no final do
sculo XIX, para a situao das mulheres. Inclusive essa um das
12
Cf. KROPOTKIN, P. A Comuna de Paris, 1871. In: WOODCOCK, G. (org.). Os grandes escritos
anarquistas.
13
Cf. KROPOTKIN, P. La conquista del pan. In: ZEMLIAK, M. (org.). KROPOTKIN Obras.
Barcelona, Anagrama, 1977, p. 80-126.
Jos William Vesentini
182
crticas que fez a Marx, que s enxergava o proletariado. De nada
adiantaria uma libertao do homem frente ao capital, afirmou, se as
mulheres continuassem subordinadas na sociedade e na famlia,
ocupando posies subalternas e fazendo os servios domsticos. Ele
propunha que esses servios fossem mecanizados e que fossem
realizados tanto pelas mulheres quanto pelos homens, e que aqueles
tivessem tambm uma participao igualitria no trabalho extralar e na
conduo das questes polticas
14
.
Era radicalmente contrrio a qualquer forma de hierarquia e diferenas
nos rendimentos, alm de abominar o sistema de assalariamento. Uma
das mais cidas crticas que fez a Marx refere-se questo da
hierarquia dos rendimentos numa sociedade socialista: para Marx,
deveria existir, provisoriamente, uma diferenciao salarial entre o
trabalho manual e o intelectual, entre, por exemplo, um engenheiro
(que teria um custo de produo maior devido sua formao) e um
faxineiro, que teria que ganhar menos. Kropotkin no aceitava essa
diferenciao nos rendimentos e muito mesmo essa diviso do trabalho
entre um indivduo que fosse permanentemente faxineiro e outro que
apenas trabalhasse como engenheiro: para ele, as pessoas deveriam
realizar atividades tanto manuais quanto intelectuais e, se ocorressem
longas diferenciaes de atividades, estas deveriam ser produzidas
naturalmente pelos gostos e aptides de cada um e nunca de forma
premeditada, sendo que, dessa forma, no poderiam implicar em
diferenas em nvel de rendimentos
15
.
Frente a Marx, Kropotkin adota uma posio crtica, mas de respeito
obra intelectual desse autor, apesar de considerar o pai do socialismo
cientfico como um revolucionrio de gabinete, que apenas prope
autoritariamente os seus esquemas tericos para a classe proletria
vista como revolucionria. A seu ver, em grande parte, Marx ainda
estaria ligado aos valores mentais do capitalismo (pela aceitao da
diviso do trabalho e pela atitude dbia em relao ao poder poltico
institudo, ao Estado, entre outras coisas). Entretanto, o terico do
socialismo libertrio cita com frequncia O capital em suas obras,
14
Cf. KROPOTKIN, P. La conquista del pan, op.cit., p. 119-126.
15
CF KROPOTKIN, P. Campos, fabricas y talleres, op.cit.
Ensaios de geografia crtica
183
algumas vezes de forma elogiosa, com um respeito que advm do
reconhecimento do esforo intelectual de Marx, da dedicao deste aos
estudos da realidade social. Kropotkin tambm foi um investigador
infatigvel provavelmente, o maior dentro do anarquismo e um
crtico da neutralidade do labor cientfico. Da, ento, essa sua simpatia
(ou identificao) para com o autor de O capital, mesmo possuindo
srias divergncias com este no tocante ao significado de socialismo e
de revoluo. Sua obra de maior vigor terico Mutual aid: a factor of
evolution, trabalhada de 1888 at 1902
16
, por exemplo, representa um
tour de force intelectual que dificilmente encontra paralelos. Nessa
obra, Kropotkin cita documentos e livros de cerca de uma dzia de
idiomas diferentes, do russo ao francs, ingls, polons, italiano e
alemo, passando pelo latim e por dialetos medievais (como certas
lnguas eslavas ou latinas faladas no sculo XI em cidades que
interessavam a Kropotkin devido organizao comunitria que
adotavam), alm de citar e, em alguns casos, realizar pesquisas
avanadas, na poca, de biologia e antropologia. Mas Kropotkin no foi
apenas um terico. Ele com frequncia se disfarava de campons ou
de operrio, adotando pseudnimos, trabalhando na lavoura ou na
indstria e participando, nessa condio, de revoltas e movimentos
populares. Quando foi preso, em 1874, ele estava usando a
identificao de o campons Borodin para encobrir agitaes que
promovia, junto com amigos anarquistas, em bairros operrios e reas
rurais vizinhas a So Petersburgo.
Frente ao marxismo posterior a Marx, principalmente frente ao
bolchevismo, Kropotkin assume uma posio de crtica radical, que
ficou patente no seu posicionamento por ocasio da Revoluo russa de
1917. Para ele, a revoluo de fato ocorreu em fevereiro, ocasio em
que houve uma multiplicao espontnea dos sovietes com o correlato
enfraquecimento do poder do Estado. O poder margem do Estado,
criado pela expanso dos sovietes ou comunas de operrios,
marinheiros, soldados ou moradores, alm das cooperativas
espontneas de camponeses, competia com a autoridade estatal e, em
muitos locais, at prescindia desta. Quando os bolcheviques chegaram
16
KROPOTKIN. El apoyo mutuo, un factor de evolucion, op. cit.
Jos William Vesentini
184
ao poder estatal em outubro, com o apoio de grande parte dos setores
populares e at mesmo da maioria dos anarquistas (devido promessa
de acabar com a guerra e ao slogan oportunista de Lnin: Todo poder
aos sovietes), Kropotkin, ao saber da notcia por um amigo eufrico,
declarou, para decepo deste: Isso enterra a revoluo
17
.
Tal posio compreensvel, tendo-se em vista a ideia kropotkiana de
revoluo como uma ao popular contra (e nunca via) o Estado. A
prpria noo de governo revolucionrio era para ele um absurdo,
uma verdadeira contradio nos termos, uma vez que o objetivo de uma
revoluo social seria o de abolir o governo e fundar uma nova forma
de gesto do social com base na democracia direta
18
. As palavras que
Kropotkin proferiu em 1919, relativas atuao dos bolcheviques pelo
fortalecimento do Estado, foram exemplares:
A Rssia mostrou a maneira como o socialismo no dever
ser feito [...] A ideia de conselhos operrios para controle
da vida poltica e econmica do pas , em si mesma, de
extraordinria importncia [...] mas, enquanto o pas
estiver dominado por uma ditadura de partido, os
conselhos de operrios e camponeses perdem naturalmente
o significado. Esto degradados num papel passivo
idntico ao que desempenhavam os representantes dos
estados na monarquia absolutista
19
.
Kropotkin, por sinal, j havia desenvolvido em 1905, num verbete
sobre anarquismo que escreveu para a Enciclopdia Britnica, um
conceito de capitalismo de Estado, que aplicou posteriormente Rssia
sob o domnio dos bolcheviques:
Os anarquistas consideram, portanto, que entregar ao
Estado todas as fontes principais da vida econmica (a
terra, as minas, as ferrovias, os bancos, os seguros, etc.),
17
Citado por WOODCOCK, George. Anarquismo uma histria das ideias e movimentos
libertrios, op.cit., p.193.
18
Cf. JOLL, James. Anarquistas e anarquismo. Lisboa, Publicaes Dom Quixote, 1977, p.
177-80.
19
Citado por CHOMSKY, Noam. O poder americano e os novos mandarins. Lisboa, Portuglia,
s/d, p. 33.
Ensaios de geografia crtica
185
assim como o controle de todos os principais ramos da
indstria, alm de todas as funes que acumula j em suas
mos (educao, defesa do territrio, etc.), significaria
criar um novo instrumento de domnio. O capitalismo de
Estado no faria mais que incrementar os poderes da
burocracia e o prprio capitalismo. O verdadeiro progresso
consiste na descentralizao, tanto territorial quanto
funcional, em desenvolver o esprito local e de iniciativa
pessoal, e numa federao livre que esteja construda de
baixo para cima, ao invs da hierarquia atual que vai do
centro para a periferia
20
.
No incio de 1919, Kropotkin enviou uma carta aberta aos
trabalhadores da Europa ocidental explicando a situao russa e
solicitando aos trabalhadores que pressionassem os seus governos no
sentido de evitar intervenes armadas na Rssia, pois esse cerco,
essas invases e o apoio ocidental aos militares tzaristas revoltosos, a
seu ver, iria to somente resultar no fortalecimento dos bolcheviques (e
do poder estatal), devido unio frente ao inimigo comum e ao
enaltecimento da ideologia nacionalista
21
. Percepo sem dvida
alguma bastante perspicaz, pois o que ocorreu naquele momento foi de
fato um fortalecimento do Estado russo e, portanto, dos bolcheviques
e um correlato enfraquecimento dos sovietes e demais rgos
populares de gesto da economia ou de microespaos. Esse
fortalecimento do Estado e da burocracia, junto com o atrelamento dos
sovietes, das cooperativas espontneas e dos sindicatos, ao partido
nico (os demais foram declarados ilegais), alm da proibio de
qualquer forma de greve, das violentas restries liberdade de
imprensa, da implantao do taylorismo na indstria e do
fortalecimento do exrcito e da polcia (a Tcheca, precursora da KGB),
realmente muito se beneficiou da guerra civil e das invases ocidentais
na Rssia. A ptria em perigo foi uma palavra de ordem e de
mobilizao muito utilizada pelos bolchevistas para reforar os
20
KROPOTKIN, P. Folletos revolucionarios II. Barcelona, Tusquets editor, 1977, p. 126, grifos
nossos.
21
KROPOTKIN, P. Carta a los trabajadores de la Europa occidental. In: Folletos
revolucionarios II, op.cit., p. 87-93.
Jos William Vesentini
186
aparatos estatais de represso e o seu controle sobre esse poder
institudo que renascia aps ter sido semidestrudo pela revoluo dos
sovietes. por demais sabido que esse perodo de 1918 a 1921, com
um certo caos na economia e no abastecimento agrcola s cidades,
com a guerra civil e as invases, significou uma quase total liquidao
do operariado russo mais avanado politicamente: a produo industrial
do pas caiu para menos de 20% do seu total em 1916, o operariado
passa de cerca de 3 milhes, em 1917, para menos de 1,5 milho em
1921. Nesse contexto, a preocupao de Kropotkin, em 1919,
demonstra uma acuidade espantosa, uma lucidez mpar em relao ao
que estava acontecendo e ao provvel futuro da Rssia. Salvo engano,
somente Rosa Luxemburgo teve na mesma poca uma percepo to
aguda do que ocorria na revoluo russa. Para ela, a concepo
leninista de partido, se levada s ltimas consequncias, tenderia
ditadura de uma minoria de burocratas sobre a massa. Sua percepo de
ditadura do proletariado implicava numa afirmao radical da
democracia: A liberdade reservada apenas aos membros do partido,
por mais numerosos que eles sejam, no liberdade. A liberdade
sempre a liberdade de quem pensa diferentemente
22
. Mas Kropotkin,
ao inverso de Rosa Luxemburgo, que escreveu essa sua obra sobre a
revoluo russa em 1918, no raciocinava em termos de partido e de
tomada do poder (isto , do governo e da mquina estatal). Ele
percebia claramente um antagonismo entre o projeto de revoluo
alicerado em partidos (e organizao nacional via Estado) e o projeto
de revoluo oriundo dos sovietes, das comunas, dos conselhos (com
organizaes locais, regionais e at mundial, com base na destruio do
Estado e a estruturao de mltiplas formas de autogesto).
Enfim, encerrando esta sucinta apresentao sobre a obra de Kropotkin,
cabe deixar claro que, para ele, geografia e liberdade devem caminhar
juntas, so mesmo inseparveis. Uma geografia libertria? Talvez,
embora esse rtulo nunca tenha sido usado por Kropotkin. Mas a sua
percepo de cincia expressa um engajamento do sujeito do
conhecimento na libertao dos homens frente aos imperativos da
natureza e, principalmente, frente dominao de alguns sobre muitos.
22
LUXEMBURGO, R. A revoluo russa. Lisboa, Ulmeiro, 1975, p. 65.
Ensaios de geografia crtica
187
No se trata apenas do combate ao capital, da ingnua (mas
politicamente realista, num realismo burocrtico) ideia de que a
socializao dos meios de produo vai trazer naturalmente a sociedade
sem classes e sem explorao. Trata-se, antes de mais nada, de dar
primazia s relaes de dominao, de combater qualquer forma de
autoridade
23
e, principalmente, o Estado. At o final de sua vida,
Kropotkin foi coerente com a sua filosofia poltica: em fevereiro de
1917, Kerensky lhe ofereceu um cargo de ministro no seu governo,
oferta recusada; e, logo em seguida, em novembro desse ano, Lnin lhe
solicitou uma colaborao com o governo revolucionrio, tendo
proposto uma edio em russo das principais obras de Kropotkin, que
ele recusou por no aceitar ajuda ou alianas com qualquer tipo de
governo. Apesar de j velho e debilitado na poca, a grande
preocupao de Kropotkin na revoluo russa foi contribuir para que os
sovietes e as cooperativas espontneas se desenvolvessem livremente,
de baixo para cima, sem subordinao ao Estado e a qualquer partido
poltico.
Em que as ideias kropotkianas poderiam subsidiar uma geografia
crtica? Ora, neste momento em que a problemtica de uma construo
da geografia crtica se coloca, surgem j certos percalos ou
descaminhos
24
. Um marxismo vulgar e mecanicista em muitos casos
substitui a criticidade ou tenta encobrir a ausncia de uma adequada
reflexo filosfica, e um certo stalinismo mesmo que renovado via
Althusser ou via o velho Luckcs algumas vezes serve apenas como
amparo para frgeis crticas geografia tradicional que mal conseguem
esconder o desejo de dominao, de instrumentalizao desse nova
geografia para fins burocrtico-estatais. Uma recuperao crtica da
obra de Kropotkin e tambm, bom ressaltar, de outros autores
fecundos, crticos e no autoritrios, tais como Foucault, Lefort,
23
No prprio enterro de Kropotkin em 1921, em Moscou, acompanhado por cerca de 100
mil pessoas (foi talvez o ltimo movimento de massas tolerado ou no controlado pelos
bolcheviques), havia inmeras faixas onde se lia uma das ideias mais veementemente
defendidas por ele: Onde h autoridade no h liberdade.
24
Cf. VESENTINI, J. W. Percalos da geografia crtica: entre a crise do marxismo e o mito do
conhecimento cientfico. In: Anais do 4
o
Congresso Brasileiro de Gegrafos. So Paulo, AGB,
1984, livro 2, v. 2, p. 423-432.
Jos William Vesentini
188
Habermas, Castoriadis
25
etc. bem que poderia contrabalanar esse
dogmatismo que se faz presente, essa crena soteriolgica na unidade,
na uniformidade, na recusa das diferenas.
Kropotkin, apesar de um otimismo acrtico em relao ao
conhecimento cientfico e ao progresso da humanidade, manifestou,
j no sinal do sculo XIX, uma salutar sensibilidade frente s
diferenas e particularidades, assim como uma aguda compreenso do
fato de que a questo do poder transcende (e incorpora) o problema
econmico stricto sensu. Pode-se, ainda, mencionar que na vasta obra
kropotkiana existe muita novidade, em relao ao discurso geogrfico
clssico ou tradicional, que poderia ser retomada ou recuperada. Por
exemplo, a sua preocupao com os jovens e com os conflitos de
geraes, a sua preocupao com o ensino e com a degradao
ambiental. Sua percepo de natureza j superava a querela sobre quem
domina quem, o homem ou a natureza. Para ele, era evidente que a
evoluo tecnolgica trazia um domnio da humanidade sobre a
natureza circundante; o problema que via nessa questo era que essa
instrumentalizao da natureza pela sociedade moderna tambm
acarreta consequncias negativas para o social e, o que considerava
crucial, agrava ou se soma s diferenas sociais.
ADENDO KROPOTKIN E O ENSINO DA GEOGRAFIA
Uma das grandes preocupaes de Kropotkin era o ensino, que para ele
deveria ser universal, gratuito e igual para todas as classes, para toda a
populao. Esse posicionamento, hoje, pode parecer banal e
indiscutvel, mas at os primrdios do sculo XX era comum a ideia
que deveria existir um ensino diferenciado para a elite, mais completo,
25
Por sinal, visvel a proximidade de inmeros escritos de Castoriadis principalmente
aqueles dos anos 1950 e incios dos 60, publicados inicialmente na revista Socialisme ou
barbarie, sobre o contedo do socialismo, as crticas burocracia e a necessidade de
autogesto com as ideias de Kropotkin.
Ensaios de geografia crtica
189
ao lado de outro mais simples para a maioria da populao, para os
trabalhadores manuais. Mackinder, por exemplo, advogava esse ponto
de vista elitista. Kropotkin arrolou as seguintes ideias, numa
conferncia sobre o que a geografia (escolar) deveria ser:
A criana busca em todas as partes o homem, a atividade
humana, as lutas contra os obstculos. Os minerais e as
plantas deixam-na fria; ela est atravessando uma etapa em
que prevalece a imaginao. Quer dramas humanos, o que
significa que a melhor maneira de suscitar-lhe o desejo de
estudar a natureza pelos relatos de pescadores e
caadores, de navegantes, de enfrentamentos com os
perigos, de costumes e hbitos, de tradies e migraes
[...] Esta a tarefa da geografia na primeira infncia:
tomando a humanidade como intermediria, desenvolver
nas crianas o interesse pelos grandes fenmenos da
natureza, despertar seu desejo de conhec-los e explic-
los. A Geografia deve cumprir, tambm, um servio muito
mais importante. Ela deve nos ensinar, desde nossa mais
tenra infncia, que todos somos irmos,
independentemente da nossa nacionalidade. Nestes tempos
de guerras, de ufanismos nacionais, de dios e rivalidades
entre naes, que so habilmente alimentados por pessoas
que perseguem seus prprios e egosticos interesses,
pessoais ou de classe, a geografia deve ser na medida em
que a escola deve fazer alguma coisa para contrabalanar
as influncias hostis um meio para anular esses dios ou
esteretipos e construir outros sentimentos mais dignos e
humanos. Deve mostrar que cada nacionalidade contribui
com sua prpria e indispensvel pedra para o
desenvolvimento geral da humanidade, e que somente
pequenas fraes de cada nao esto interessadas em
manter os dios e rivalidades nacionais [...] Existe uma
terceira, que talvez o seja ainda mais: a de combater os
preconceitos que nos foram inculcados em relao s
chamadas raas inferiores e isto numa poca que tudo
nos leva a crer que os contatos que vamos ter com elas vo
ser cada vez mais intensos. Quando um poltico francs
proclamava recentemente que a misso dos europeus
Jos William Vesentini
190
civilizar essas raas ou seja, com as baionetas e as
matanas [genocdios] no fazia mais do que elevar
categoria de teoria esses mesmos fatos que os europeus
esto praticando diariamente [notadamente na frica e na
sia, no final do sculo XIX]. E no poderia ser de outra
maneira, pois desde a mais tenra infncia inculca-se o
desprezo pelos selvagens, ensina-se a considerar como se
fossem verdadeiros crimes determinados hbitos e
costumes dos pagos, a tratar as raas inferiores, como
so chamadas, como se fossem um verdadeiro cncer que
somente deve ser tolerado enquanto o dinheiro ainda no
penetrou. At agora os europeus tm civilizado os
selvagens com whisky, tabaco e sequestros; os tm
inoculado com seus vcios; os tm escravizado. Porm,
chegado o mo mento em que nos devemos considerar
obrigados a oferecer-lhes algo melhor isto , o
conhecimento das foras da natureza, a cincia moderna, a
forma de utilizar o conhecimento cientfico para construir
um mundo melhor. Assim, o ensino da Geografia deve
perseguir trs objetivos principais: despertar nas crianas a
afeio pela cincia natural em seu conjunto; ensinar-lhes
que todos os homens so irmos, quaisquer que sejam as
suas nacionalidades; e deve ensinar-lhes a respeitar as
chamadas raas inferiores [...] Existe atualmente na
pedagogia uma tendncia no sentido de cuidar
demasiadamente da mente infantil, at o ponto de frear o
raciocnio individual e de restringir a originalidade; e
existe tambm uma tendncia dirigida no sentido de
facilitar em demasia a aprendizagem, at o ponto de
produzir uma criana desacostumada a realizar qualquer
esforo intelectual prprio [...] Concedamos a nossos
educandos mais liberdade para seu desenvolvimento
intelectual! Deixemos mais espao para o seu trabalho
independente, sem mais ajuda do professor do que a
estritamente necessria
26
.
26
KROPOTKIN. What geography ought to be. Op. cit. Os grifos so do autor.
Ensaios de geografia crtica
191
Esse um texto, a nosso ver, exemplar. Mesmo tendo sido elaborado
em 1885, ele continua sendo de uma grande atualidade e importncia.
Para entendermos a sua originalidade e profundidade, temos que
lembrar o contexto que o cerca. Afinal, que tipo de escola existia e
que tipo de geografia era ensinada e o que Kropotkin prope de
novo? Com quem ele dialogava?
Temos que recordar que o final do sculo XIX era um momento de
colonialismo, de partilha da sia e especialmente da frica pelas
potncias europias, que justificavam essa dominao que implicava
at mesmo em genocdios, no uso do trabalho exaustivo e compulsrio,
na tentativa de imposio aos colonizados dos idiomas, valores e
hbitos dos colonizadores atravs da ideia de que os europeus tinham
a nobre misso de levar a verdadeira civilizao para os demais
povos ou raas, termo bastante empregado naquele momento
histrico. Alm disso, havia um clima de nacionalismos exarcebados,
de ferrenhas disputas entre as potncias europias por terras e
mercados, algo que se refletia at mesmo no ensino. Basta lembrar dos
livros didticos de geografia dessa poca, que normalmente
estereotipavam os outros, os estrangeiros, e supervalorizavam a sua
nao, chegando at mesmo a arrolar o nmero de soldados ou de
navios de guerra que cada pas importante tinha, sempre
subestimando o potencial dos eternos adversrios (por exemplo: a
Alemanha e a Inglaterra, no caso da Frana, e vice-versa) e inflando os
dados sobre a nossa ptria. Inmeros gegrafos, que em grande parte
eram mais viajantes ou exploradores a servio do colonialismo,
participavam intensamente dessa aventura expansionista, seja
produzindo ideias pretensamente cientficas sobre a superioridade do
modelo civilizatrio europeu, seja pela compilao de dados sobre os
recursos naturais e humanos de uma dada regio: mapeamentos e
estudos sobre minrios, rios e lagos, relevo e solos, climas, povoamento
e suas caractersticas etc. A Royal Geographical Society of London,
onde Kropotkin proferiu essa fala, tinha concorridas reunies com a
presena de membros da famlia real, comerciantes, banqueiros,
industriais interessados no alargamento de seus negcios etc. A ttulo
de parntesis, poderamos lembrar do filme Mountains of the Moon (As
montanhas da Lua, de Bob Rafelson, de 1989 e j amplamente
Jos William Vesentini
192
disponvel em vdeo ou DVD nas locadoras), que mostra algumas
dessas reunies dessa instituio com nfase na polmica entre dois
gegrafos (Richard F. Burton e John H. Speke) a respeito da nascente
do rio Nilo. Kropotkin participou em vrias dessas reunies da Royal
Geographical Society e este seu texto foi uma interveno nessa
sociedade, depois publicada numa revista cientfica. Uma fala,
portanto, destinada no apenas aos gegrafos como tambm elite
britnica da poca, aquela que decidia os rumos da poltica externa e
educacional.
Como se deduz facilmente, Kropotkin era uma voz vencida, algum
visto com um misto de benevolncia e curiosidade afinal ele era de
uma aristocrtica famlia russa e, ao mesmo tempo, de forma paradoxal,
anarquista e, consequentemente, um utopista que apostava numa
humanidade sem guerras e sem as intensas desigualdades de classe, de
gnero, de etnias etc. Como um exilado russo que viveu em Londres
durante dcadas, ele polemizou com os grandes nomes da geografia
britnica do perodo a comear por sir Halford Mackinder. Mackinder
apregoava, de forma realista, que a geografia deve servir aos
homens do Estado e aos comerciantes, embora tambm deva satisfazer
os reclames do sistema escolar
27
. Kropotkin, ao contrrio, exorcizava
qualquer tipo de servio para o Estado e, principalmente, para os
comerciantes (ou seja, os interesses colonialistas) e tinha uma clara
averso ao tipo de geografia descritiva e chauvinista que era ensinado
nas escolas fundamentais e mdias. Ele acreditava no progresso como
algo inexorvel e na cincia moderna como o modelo por excelncia
do conhecimento e no princpio de que os seres humanos so iguais
por natureza e que as divises em naes, classes, gneros, grupos
tnicos ou religiosos etc, seriam apenas provisrias e tenderiam a se
anular com o desenrolar da histria humana. Da a sua ideia de que a
educao deveria combater qualquer forma de ufanismos nacionalistas,
de preconceitos ou esteretipos, qualquer tipo de racismo ou de
discriminao por etnias ou raas; e tambm a sua ideia de que, ao
invs de civilizar os asiticos e africanos, a melhor coisa que a
27
Cf. MACKINDER, H. J. On the Scope and Methods of Geography. In: Proceedings of the
Royal Geographical Society, IX, 1887, p. 159-60.
Ensaios de geografia crtica
193
Europa poderia lhes fornecer seria a cincia moderna, o conhecimento
da dinmica da natureza como uma forma da humanidade controlar
sem depredar o seu meio e construir uma sociedade mais rica e mais
justa. E como um bom seguidor das ideias de Pestalozzi e de Frbel,
educadores de vanguarda na poca, Kropotkin advogava um ensino que
no fosse meramente discursivo e, sim, alicerado em trabalhos de
campo, em observaes da realidade, em uma gradativa construo
pelos educandos de conceitos, valores e atitudes. Nota-se, no final
desse trecho, que reproduzimos um apelo aos professores para que
deixem os alunos descobrir as coisas, para no facilitarem em demasia
a aprendizagem, para que os educandos enfrentem desafios que
contribuam para desenvolver sua imaginao, sua inteligncia, sua
criatividade.
Como avaliar a importncia das ideias de Kropotkin para a sua poca?
E qual seria a sua possvel atualidade? Sem dvida que Kropotkin deve
ser visto como uma das vozes daquele rico e diversificado grupo de
pensadores de esquerda, tal como eles se posicionavam a partir do
exemplo da Revoluo Francesa: os socialistas em geral os
anarquistas, socialistas utpicos, marxistas da segunda metade do
sculo XIX e das primeiras dcadas do sculo XX. Ele foi amigo de
lise Reclus, tambm gegrafo e anarquista e um dos lderes da
Comuna de Paris de 1871. Ele leu com ateno as principais obras
socialistas desse perodo, desde as de Marx at as de Phoudon e
Bakunin, passando pelos escritos de Owen, Fourier e outros. Mas esse
grupo, convm reiterar, era extremamente heterogneo e possua ideias
muitas vezes antinmicas. Por exemplo: Marx e tambm alguns outros
pensadores de esquerda da poca, ao contrrio de Kropotkin, no
criticavam o colonialismo europeu na frica e na sia e at mesmo
chegaram a defender as brutalidades e as matanas com o argumento de
que, apesar dos pesares, isso seria progressista no sentido de acelerar
a histria isto , o desenvolvimento do capitalismo e, posteriormente,
do socialismo nessas regies do globo
28
. E tambm o sistema escolar
era visto por alguns (Owen, Fourier, Kropotkin) como progressista
28
Cf. MARX, K. O domnio britnico na ndia. In: Sobre o colonialismo. Op. cit., p. 47-8 e
103-4.
Jos William Vesentini
194
no sentido de possibilitar uma maior igualdade entre as pessoas e a
inculcao de novos valores e atitudes mais igualitrios, sendo que,
para outros (como Marx, por exemplo), a luta pela universalizao e
democratizao do ensino por ele tido como burgus era algo
superficial e at mesmo histrinico
29
.
Kropotkin jamais professou a crena numa classe predestinada a
fazer a revoluo, o proletariado, mas, pelo contrrio, sempre realou
os inmeros sujeitos ou campos de lutas que deveriam ser levados em
considerao com a mesma nfase: a natureza com a sua dinmica e o
seu equilbrio, que deveria ser respeitado (e nunca aquele desprezo
absoluto pela natureza em si que existe em alguns socialistas desse
perodo), as classes trabalhadoras (no plural), as crianas e os jovens, as
mulheres, as etnias minoritrias e as raas tidas como inferiores, os
povos estrangeiros, em especial aqueles mais diferentes de ns e,
dessa forma, mais discriminados etc. Neste sentido, ser que
poderamos ver em Kropotkin um pensador mais prximo daquilo que,
a partir dos anos 1970, seria rotulado como ps-modernidade?
O pensamento de Kropotkin, inegavelmente, tem atualidade. Quando
consultamos algum bom texto sobre como deve ser a educao no
sculo XXI por exemplo, o excelente trabalho de Edgar Morin
30
ou,
ento, o relatrio de um grupo de pesquisadores/educadores realizado a
pedido da UNESCO
31
logo notamos que h uma nfase na educao
no enquanto um mero ensinamento de conceitos, mas, sim, como
atividades direcionadas para o educando aprender a aprender, a ser, a
conviver (combatendo, assim, todas as formas de preconceitos) e a
fazer. Mais importante do que levar o aluno a assimilar um conceito ou
mesmo a aprender a escrever corretamente faz-lo perceber o absurdo
dos preconceitos e esteretipos, contribuir para nele desenvolver
atitudes democrticas e o hbito do dilogo. E o sistema escolar nada
tem de burgus, mas, pelo contrrio, deve, sim, ser visto como um
passaporte para a cidadania, que inclusive deveria ser global ou
29
Cf. MARX, K. Critica ao Programa de Ghota. Porto, Portucalense Editora, 1971, p. 32-3.
30
MORIN, E. Os sete saberes necessrios educao do futuro. So Paulo, Cortez/Unesco,
2000.
31
DELORS, J. (Org.). Educao, um tesouro a descobrir. Braslia, MEC/Unesco, 1998.
Ensaios de geografia crtica
195
planetria segundo Edgar Morin, ou ento como a maior herana ou
tesouro da humanidade, como aparece naquele mencionado estudo da
UNESCO. Um importante filsofo francs, estudioso da democracia
moderna, j havia observado que Marx se enganou cabalmente quando
menosprezou tanto a democracia quanto o ensino como instrumentos de
mudana social no final do sculo XIX:
A democracia que conhecemos instituiu-se por vias
selvagens, sob o efeito de reivindicaes que se mostraram
indomesticveis. E todo aquele que tenha os olhos
voltados para a luta de classes, se deixasse os sendeiros
marxistas ( verdade que se finge, s vezes, no mais
segui-los, mas conserva-se a direo), deveria convir que
ela foi uma luta para a conquista de direitos [...] Seus
representantes mais ativos [da burguesia], na Frana,
tentaram de mil maneiras atravancar sua dinmica [da
democracia em sua expanso] no sculo XIX. Viram no
sufrgio universal, no que era, para eles, a loucura do
nmero, um perigo no menor que o socialismo. Durante
muito tempo julgaram escandalosa a extenso do direito de
associao e escandaloso o direito de greve. Procuraram
circunscrever o direito educao e, de modo geral,
fechar, longe do povo, o crculo das luzes, da
superioridade e das riquezas
32
.
As propostas de Kropotkin para o ensino da geografia tm uma grande
atualidade. Como ele j preconizava no final do sculo XIX, ensino
deve levar o aluno a adquirir uma paixo pela natureza e pela sua
conservao racional, e isso sem entrar num atrito cego ou mtico com
a cincia moderna. Deve ter como uma de suas preocupaes essenciais
mostrar ou melhor, como preconizada Kropotkin, deixar o aluno
descobrir oferecendo a ele desafios que a humanidade uma s
apesar das diferenas, que todos ou povos ou culturas (Kropotkin
falaria em raas, mas esse termo era absolutamente normal na sua
poca) contribuem sua maneira para a rica complexidade de toda a
humanidade.
32
LEFORT, C. A inveno democrtica. So Paulo, Brasiliense, 1983, p. 26.
Jos William Vesentini
196
197
A crise da geopoltica brasileira tradicional:
existe hoje uma nova geopoltica brasileira?
*
Durante grande parte do sculo XX existiu no Brasil uma verdadeira
escola geopoltica com um peso significativo nos destinos do pas. A
nosso ver, ela se encontra em crise desde os anos 1980. Ser que existe
uma nova geopoltica brasileira? Se existir, mesmo que
potencialmente, quais seriam os seus pressupostos? Examinaremos essa
ideia nas linhas a seguir.
H praticamente um consenso, entre os acadmicos que estudam esta
temtica, que existiu, no Brasil, uma importante (inclusive em termos
internacionais) escola geopoltica que incluiu nomes como o de
Golbery do Couto e Silva (o mais famoso de todos, devido sua forte
presena nos governos militares), Mario Travassos, Everardo
Backeuser, Octvio Tosta, Lysia Rodrigues, Carlos de Meira Mattos,
Therezinha de Castro, Jos E. Martins, Juarez Tvora e vrios outros.
Existem inmeras teses, livros, artigos de revistas acadmicas e at
atlas geopolticos e geoestratgicos que realam a importncia desta
escola de geopoltica, tais como apenas para citar alguns os de
Tambs, Chaliand e Rageau, Vesentini, Costa, Miyamoto, Mello e
Lorot
1
.
*
Texto publicado com o ttulo La crisis de La geopoltica brasilea tradicional. Existe hoy uma
nueva geopoltica brasilea?, na revista Poltica y Estrategia, Santiago de Chile, n.108, outubro
de 2007.
1
TAMBS, L. A. Latin American geopolitics: a basic bibliography. In: Revista Brasileira de
Geografia, Rio de Janeiro, IBGE, n.73, 1970, p. 71-105; CHALIAND, G. e RAGEAU, J. P. Atlas
estratgico y geopoltico. Madrid, Alianza Editorial, 1983; VESENTINI, J. W. A capital da
geopoltica. So Paulo, tica, 1987; COSTA, W. M. Geografia poltica e geopoltica. So Paulo,
Jos William Vesentini
198
Essa escola geopoltica brasileira produziu uma rica e vasta
bibliografia sob a forma de livros, artigos e ensaios em revistas,
principalmente militares, planos e projetos a serem operacionalizados
pelo Estado etc. desde a dcada de 1920 at os anos 1980, quando
ingressou numa fase de declnio. Nosso objetivo, aqui, mostrar
sucintamente no que consistiu essa escola geopoltica brasileira, quais
foram suas preocupaes e temas bsicos, quando e porque entrou em
crise e, principalmente, como ficou o pensamento geopoltico brasileiro
a partir de ento.
O emprego do termo escola geopoltica requer algumas explicaes.
comum, por parte de vrios autores o uso desse vocbulo, mas sem
nenhuma preocupao justificatria. Um recente estudo voltou a
empregar essa palavra, mas em parte alguma surge alguma explicao
para o seu uso; existe nesse livro to somente uma descrio embora
bastante cuidadosa dos temas e anlises desenvolvidos por trs
geopolticos brasileiros daquele perodo que mencionamos (Castro,
Golbery e Meira Mattos), uma escolha, por sinal, subjetiva e
questionvel
2
. O mesmo poderia ser dito em relao aos demais autores
que empregaram essa expresso, escola geopoltica brasileira, que na
verdade nunca foi muito bem explicitada. Apesar disso, a nosso ver
essa denominao tem a sua razo de ser. Acreditamos que , de fato,
possvel falar numa escola geopoltica brasileira devido s seguintes
razes. Em primeiro lugar, porque todos os autores representativos de
uma forma ou de outra dialogaram entre si, se complementaram,
mesmo que eventualmente tenham discordado em determinados itens
tais como, por exemplo, na questo de como integrar o territrio
brasileiro, seja atravs de rodovias, para alguns, seja por ferrovias, para
outros, ou por hidrovias, para uns poucos; ou, ento, na maior ou menor
nfase na regio platina ou na Amaznia; ou ainda, no perodo da
guerra fria, entre uma clara opo pelo campo ocidental e norte-
americano ou uma tentativa de alcanar alguma liderana no mundo em
desenvolvimento, particularmente na Amrica do Sul e nas naes
Edusp, 1988; MIYAMOTO, S. Geopoltica e poder no Brasil. Campinas, Papirus, 1995; MELLO, L.
I. A. A geopoltica do Brasil e a bacia do Prata. S.Paulo, Annablume, 1997; LAROT, P. Histoire
de la gopolitique. Paris, Econmica, 1995.
2
FREITAS, J. M. C. Escola geopoltica brasileira. Rio de Janeiro, Biblioteca do Exrcito, 2004.
Ensaios de geografia crtica
199
africanas onde se fala o portugus. Contudo, apesar das discordncias
pontuais, existiu algo em comum a todos eles: a preocupao com as
fronteiras e com a integrao nacional ou territorial, uma crtica ao
federalismo com uma correlata defesa de um Estado centralizado e,
principalmente, uma preocupao ou uma aspirao sobre o futuro do
pas, consubstanciado na ideia de um Brasil, grande potncia, seja ela
regional (na Amrica do Sul ou, eventualmente, na Amrica Latina e no
Atlntico Sul) ou mundial.
Indo um pouco alm, e aqui talvez resida a principal razo para o uso
dessa expresso, acredito que existiu um projeto geopoltico para o
Brasil, ou melhor, um projeto de reestruturao poltico-territorial
pensado pelos geopolticos brasileiros daquele perodo dos anos 1920
aos anos 1980 e que, se implementado, faria com que o pas se
modernizasse caminhando rumo ao status de uma potncia regional ou
at global. Destarte, aqueles geopolticos formaram uma verdadeira
escola de pensamento porque tinham um projeto em comum, tinham os
seus autores clssicos ou inspiradores (Alberto Torres, Oliveira Viana
e, um pouco mais tarde, Mario Travassos), alm de abordarem temas
comuns, que foram muito bem arrolados por Miyamoto
3
, quais sejam: a
geografia dos transportes e das fronteiras, a mudana da capital federal
para o interior e a rediviso territorial do pas. Poderamos, ainda,
acrescentar um tema central, a segurana nacional (entendida
essencialmente como segurana do Estado e no da sociedade), alm da
integrao nacional, da necessidade do pas se tornar autossuficiente
em armamentos, da presena do Brasil no mundo e na Amrica do Sul.
Sabemos que esse pensamento geopoltico brasileiro ou melhor, esse
projeto para o pas no ficou s no papel. Da teoria ele se incorporou
prtica. A partir do Governo Getlio Vargas, que chegou ao poder em
1930, o iderio geopoltico foi sendo cada vez mais implementado. J
mostramos num estudo anterior que esse projeto geopoltico, por volta
de 1927-30, se encontrou e se amalgamou com os reclames do
empresariado industrial, basicamente paulista, que naquele momento
comeava a tomar conscincia dos seus interesses especficos e dos
3
MIYAMOTO, S. Geopoltica e poder no Brasil , op. cit.
Jos William Vesentini
200
rumos que gostaria que o Brasil trilhasse
4
. Tambm aos empresrios
industriais desagradava o regime federativo da chamada Repblica
Velha (de 1889 a 1930), principalmente os impostos que cada estado
cobrava para os produtos oriundos dos demais. Em resumo, o governo
Vargas foi o primeiro que colocou em prtica, pelo menos em grande
parte, algumas ideias dessa escola geopoltica e do empresariado
paulista: a marcha para o oeste, a construo de estradas com vistas
integrao nacional (e no mais visando to somente interligar alguma
rea agropecuria ou mineradora a um porto de exportao), o final dos
impostos alfandegrios entre os estados e, por fim, um notvel
fortalecimento do governo federal e tambm das foras armadas, que
passaram a ter o monoplio de certos armamentos que antes eram
utilizados tambm pelas milcias estaduais que se sobreps aos
estados e municpios, os quais, durante a Repblica Velha, tiveram
maior poder e autonomia.
Depois de Vargas, inmeras propostas geopolticas foram
operacionalizadas pelo governo de Juscelino Kubitscheck (1956-60),
principalmente a interiorizao da capital federal (e tambm a
construo de inmeras rodovias que permitiram a ocupao efetiva do
Brasil central e parte da Amaznia) e, sem a menor dvida, pelo regime
militar que se instalou em 1964 e perdurou at 1985. Uma boa parte
dos dirigentes desse regime militar era de geopolticos, inclusive alguns
presidentes da Repblica e vrios ministros. Cabe aqui, mais uma vez,
recordar que o nome mais famoso foi o do general Golbery do Couto e
Silva, que exerceu uma influncia notria nos governos Castelo Branco
(1964-67), Ernesto Geisel (1974-79) e Figueiredo (1979-85). Durante o
regime militar, houve uma expanso da indstria blica no Brasil, com
fortes subsdios estatais, a ponto de o pas ter se tornado num grande
exportador mundial de armamentos. No podemos esquecer que
quando do trmino da ditadura militar no Brasil, em 1985, foi
descoberto na Serra do Cachimbo, no sul do Par, um fosso
perfuraes de 320 metros de profundidade revestidas de concreto
destinado a ser o local de experincia da primeira bomba atmica do
pas, uma informao a princpio desmentida pelas autoridades, mas
4
VESENTINI, J. W. A Capital da Geopoltica. Op. cit., p. 123-33.
Ensaios de geografia crtica
201
depois confirmada pelas anlises de cientistas inclusive pela
Sociedade Brasileira de Fsica e at mesmo, passados vrios anos, por
entrevistas de militares que participaram do programa. Tambm
durante o regime militar ocorreu uma maior ocupao da Amaznia
brasileira, com a construo de rodovias e com a criao da SUDAM
(superintendncia para o desenvolvimento da Amaznia), alm de ter
havido o trmino e a consolidao de Braslia como capital federal de
fato
5
.
Por que esse pensamento geopoltico, com o seu iderio, entrou em
crise nos anos 1980? Por que depois da morte de Golbery, em 1987,
praticamente no foram criadas novas ideias nessa escola geopoltica?
(Alguns poucos sobreviventes, mesmo que aposentados ou na reserva,
como o general Meira Mattos, falecido em 2007, continuaram a
propagar as ideias geopolticas clssicas, mas, a meu ver, sem se
adequarem de fato ao novo mundo ps-guerra fria, s novas tecnologias
da terceira revoluo industrial, que, conforme esmiuamos em outro
trabalho
6
, mudaram inclusive os conceitos de guerra e de grande
potncia).
Acreditamos que isso ocorreu devido a vrios fatores, mas o principal
deles que ficou evidente, a partir da dcada de 1980, que esse projeto
para o Brasil tinha pressupostos questionveis, enfim, que ele deveria
ser radicalmente repensado. Sem dvida que tambm a crise do
modelo econmico aplicado pelo regime militar contribuiu para isso.
O final dos fceis emprstimos internacionais baseados nos eurodlares
e notadamente, a partir de meados dos anos 1970, nos petrodlares,
junto com a conscincia na nova conjuntura internacional dos anos
1980 de que a enorme dvida externa do pas deveria ser paga, a par do
progressivo declnio de determinados parmetros da segunda revoluo
industrial produo em massa, sem controle de qualidade, o uso
massivo de uma fora de trabalho no qualificada etc. fizeram com
que o modelo de desenvolvimento do Brasil, que havia sido a
economia com maior crescimento em todo o mundo nos anos 1970,
entrasse em crise. Desde os anos 1980 que o Brasil conhece medocres
5
Cf. VESENTINI, J. W. Op. cit., p.163-9.
6
VESENTINI, J. W. Novas geopolticas. So Paulo, Contexto, 2000.
Jos William Vesentini
202
taxas anuais de crescimento da economia, em geral inferiores mdia
mundial e at mesmo mdia dos pases latino-americanos. Tambm
nos anos 80 ficou evidente que o crescimento econmico no foi
acompanhado por melhorias sociais ao contrrio, a distribuio social
da renda se tornou cada vez mais concentrada a partir da dcada de
1960. E, nos anos 1980 como tambm, infelizmente, malgrado ter
ocorrido algumas melhorias, nos dias de hoje , o Brasil no estava
preparado para as novas demandas exigidas pela revoluo tcnico-
cientfica em andamento. Um sistema escolar com uma qualidade em
franca decadncia desde o final dos anos 1960 apesar de uma sensvel
expanso quantitativa , que resulta numa fora de trabalho em geral
pouco qualificada e com baixssimo nvel de escolaridade em termos
internacionais, a par de um poder aquisitivo mdio extremamente
reduzido para a imensa maioria da populao, fez com que o pas
perdesse inmeras oportunidades no mundo globalizado.
Sem dvida que isso tudo e muitos outros processos, que no
caberiam neste ensaio contribuiu para o final do regime militar. Mas a
crise da geopoltica no foi apenas um subproduto da crise desse
regime; ela foi tambm um resultado de sua prpria aplicao.
Paradoxalmente, pode-se dizer que a geopoltica brasileira entrou em
crise porque, tendo sido operacionalizada em grande parte, em suma,
no produziu os resultados que prometia. Depois de vrias dcadas de
implementao do iderio geopoltico, o Brasil no se transformou num
pas de fato moderno e desenvolvido, numa potncia indiscutvel na
Amrica do Sul e no mundo. O Brasil quase chegou a possuir a bomba
atmica algo que no teria alterado praticamente em nada seu status
na comunidade internacional e muito menos melhorado o padro de
vida da populao , mas continua a ser um pas problemtico, com
uma sociedade carcomida, com desigualdades sociais bem maiores que
a imensa maioria das demais naes do globo, e ainda dependente de
investimentos e tecnologia estrangeiros.
De fato, o iderio geopoltico da escola brasileira era alicerado numa
concepo ultrapassada de potncia, de segurana, de modernizao e
de desenvolvimento. Uma concepo geopoltica sem dvida clssica,
que poderamos chamar de napolenica, coerente com as ideias dos
Ensaios de geografia crtica
203
grandes nomes da geopoltica clssica (Kjelln, Mackinder, Mahan
ou Haushofer), mas completamente equivocada por no valorizar
minimamente os chamados recursos humanos, o poder cerebral na
denominao de alguns economistas. Havia uma viso militarista de
potncia, que levou em conta apenas a dimenso do territrio, com sua
localizao e suas caractersticas, o tamanho da populao e sua
distribuio no espao, os recursos econmicos brutos e o poder
militar; mas que ignorou a importncia da educao e da melhor
qualidade de vida e at mesmo do poder aquisitivo da maioria da
populao isso sem falar na expanso das liberdades, fundamental
para o desenvolvimento, segundo o premio Nobel Amartya Sen
7
. Em
suma, uma concepo de potncia mundial ou regional e no de uma
sociedade democrtica e com um desenvolvimento sustentvel que,
sem dvida, a nosso ver, fracassou no porque tenha sido desvirtuada
ou aplicada de forma incorreta, como diriam alguns, e, sim, exatamente
porque foi operacionalizada e no deu nem poderia dar, em face de
seus pressupostos os resultados almejados.
A partir da, ser que existe uma nova geopoltica brasileira, com
novos pressupostos, com novas ideias, enfim, uma nova escola ou uma
nova safra de bons geopolticos? Minha resposta no. No mundo
poltico e governamental pode-se dizer que existe um momento de
perplexidade a esse respeito. As ideias geopolticas foram durante
dcadas criticadas de forma radical por praticamente todos os espectros
da esquerda, que agora est no poder (seja via PT ou PSDB) e que, na
verdade, nunca teve, e continua a no ter, nenhum projeto vivel ou
realista para o futuro do pas. Teve, sim, o sonho ou devaneio de que
combater o capitalismo seria suficiente para garantir a construo de
uma sociedade igualitria e no dependente, sempre pensando apenas
em termos de luta de classes e modos de produo, nunca em termos de
relaes internacionais ou do papel do Brasil no mundo. Da a
perplexidade e a falta de um projeto para o sculo XXI.
Quanto ao mundo acadmico, nele ocorreu, a partir dos anos 1980, uma
multiplicao de estudos sobre geopoltica ou de geografia poltica,
de relaes internacionais, de cincia poltica com nfase no espao e
7
SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. So Paulo, Cia das Letras, 2000.
Jos William Vesentini
204
no papel do Brasil no mundo etc. , por sinal, com trabalhos de boa
qualidade. Mas no estudos de fato geopolticos no sentido de pensar o
Brasil como potncia regional ou mundial. Por sinal, uma boa parte
desses estudos histrica, isto , prope-se a historiar ou analisar a
geopoltica brasileira, e no a recri-la. No existe mais nenhum projeto
coerente (a no ser propostas casusticas e oportunistas de criao de
novos Estados) de reordenao poltico-espacial para o pas. A escola
geopoltica brasileira virou uma fonte de pesquisas, s que ela no
existe mais. Talvez surja uma nova escola geopoltica (ou de
geoeconomia, como dizem alguns) que refaa um projeto para o Brasil,
mas, at o momento, desde os anos 1980 at esta primeira dcada do
sculo, o que existe so estudos em geral isolados, que pouco dialogam
entre si e, via de regra, de natureza histrica, que esmiam tal ou qual
ideia ou proposta de ao, que comparam este e aquele autor, mas sem
o carter abrangente ou genrico, sem o pragmatismo da velha
geopoltica.
A geopoltica clssica sempre implicou numa forte identificao com o
Estado, que subsumia a nao e a sociedade, que as incorporava e
comandava. Sempre pensou o mundo como um palco de disputas e
guerras entre os Estados, esse ator privilegiado e quase exclusivo, uma
espcie de selva onde s os fortes sobrevivem. Muitos continuam a
pensar dessa maneira, s vezes at reproduzindo ainda hoje velhas
propostas (como a do Brasil desenvolver armas nucleares, voltar-se
mais para o interior, ou numa outra leitura para a Amrica do Sul e o
mundo subdesenvolvido, deixando de lado o chamado Norte
geoeconmico), mas no creio na seriedade nem no alcance dessas
ideias. Dificilmente elas conseguiro lograr a influncia que a escola
geopoltica brasileira teve, que praticamente chegou a ser um partido
poltico margem da disputa eleitoral mas disputando o poder do
Estado por outras vias e que se tornou vitorioso em vrios momentos
e circunstncias.
A escola geopoltica brasileira alcanou tamanha repercusso e teve
tanta influncia na vida poltica do pas, em grande parte, devido ao
fato de ter sido produzida quase que exclusivamente por militares os
poucos civis que colaboraram via de regra eram professores em
Ensaios de geografia crtica
205
colgios militares. Os militares no Brasil, pelo menos durante boa parte
do sculo XX formaram um grupo coeso e fortemente politizado, quase
um partido poltico no sentido de proporem mudanas, terem um
projeto, um iderio, e lutarem pela sua implementao pelo Estado
8
.
Podemos, talvez, afirmar que a geopoltica representou uma espcie de
porta de entrada dos militares brasileiros na vida poltica, isto , uma
forma de teorizarem e pressionarem sobre os destinos do pas, ao
mesmo tempo em que aparentemente estavam apenas discutindo
questes militares ou geoestratgicas, pois a geopoltica tinha os
conflitos armados no seu mago (o poder era sempre visto, antes de
tudo, como relaes de fora) e contava com inmeros militares entre
seus autores clssicos (Haushofer, Mahan e vrios outros). A partir de
1985, com a redemocratizao do pas, mesmo que indiscutivelmente
capenga ou relativa, os militares se retraram, passaram a se ocupar
basicamente dos seus problemas corporativos ou ento das questes
especficas de estratgia militar e, ao mesmo tempo, comea a
predominar uma percepo de que seriam os verdadeiros partidos
polticos que deveriam se encarregar dessa tarefa de produzir iderios
ou projetos para o futuro do pas.
Mas, para encerrar, no poderamos afirmar que algumas ideias da
escola geopoltica continuam a nortear a poltica do governo federal
brasileiro? Certos analistas parecem sugerir essa ideia, ao afirmarem
que no governo Lula a poltica econmica neoliberal, uma
continuao do governo anterior, ao passo que a poltica externa seria
nova e ousada, uma espcie de atualizao do terceiro-mundismo ou
meridionalismo, como querem alguns. Existem, de fato, certas
evidncias que poderiam corroborar essa ideia. Por exemplo: logo no
incio do primeiro governo Lula, em 2003, o ministro da cincia e
tecnologia afirmou que o Brasil deveria buscar o conhecimento
necessrio para a fabricao da bomba atmica. Ele durou pouco no
cargo. Mas a imprensa constantemente noticia que, nesse mesmo
governo, muitos esto apregoando a ideia de que o Brasil deve retomar
o intento que existia como parte do projeto nuclear paralelo
brasileiro, cujo grande escopo era a bomba de fazer um submarino
8
Cf. STEPAN, A. Os militares na poltica. So Paulo, Artenova, 1975.
Jos William Vesentini
206
movido a reatores nucleares. Isso, sem contar com as tentativas do
governo brasileiro de liderar a Amrica do Sul e a Amrica Latina
como um todo, que resultou em inmeras concesses ao Peru, ao
Uruguai e at nas rediscusses sobre tarifas do Mercosul
Argentina
9
. Mas esse assistencialismo internacional na Amrica do Sul,
com vistas a alcanar uma liderana natural nas palavras do
chanceler Celso Amorim , logo foi atravancado pela poltica externa
do governo Hugo Chaves da Venezuela, que dispe de fartos recursos
oriundos dos altos preos internacionais do petrleo. Mas h tambm os
esforos diplomticos consubstanciados com criao do G-4 no
sentido do Brasil se tornar o pas latino-americano que dispe de uma
cadeira permanente no Conselho de Segurana da ONU numa possvel
reestruturao desta. Ou ainda o envio de tropas brasileiras para ajudar
na pacificao do Haiti, em 2004. Ou uma pretensa nfase no
fortalecimento do Mercosul, como uma tentativa de se contrapor
influncia norte-americana nesta parte do mundo. Ou ainda, segundo
alguns, uma nova poltica externa que procura mais e mais se
aproximar dos pases do Sul ndia, China, frica do Sul e,
principalmente, pases latino-americanos ao mesmo tempo em que,
supostamente, amplia sua independncia em relao a Washington.
No entanto, todas essas evidncias ou algumas outras no mesmo
sentido no comprovam que a escola geopoltica brasileira continua
ativa e, muito menos, a existncia de um novo iderio geopoltico. So,
de fato, ocorrncias mais de poltica externa do que domstica. Nesta
ltima, na poltica stricto sensu, predomina um populismo de carter
assistencialista que, na substncia, pouco difere dos antigos regimes
populistas de Vargas, Kubitschek ou Jango. Na poltica econmica
prossegue o modelo, construdo no governo anterior (de Fernando
Henrique Cardoso), que alguns equivocadamente denominam
neoliberal: uma nfase na busca de credibilidade perante o mercado
financeiro internacional, com juros altos para atrair capitais externos e,
ao mesmo tempo, conter a inflao, um notvel esforo no sentido de
9
Cf. FERREIRA, O. S. A poltica externa do governo Lula. Palestra proferida em agosto de
2004 na PUC-SP e disponvel in http://br.monografias.com/trabalhos/politaca-externa-
governo/politaca-externa-governo.shtml.
Ensaios de geografia crtica
207
ampliar o volume das exportaes, com vistas a acumular divisas,
determinadas polticas populistas e assistencialistas para a populao
mais carente etc. Mas, na poltica externa, segundo a leitura de alguns,
existiria algo de novo e radicalmente diferente dos governos anteriores.
Essa leitura de natureza dualista, que enxerga uma poltica interna
ortodoxa e uma poltica externa nova ou at revolucionria,
extremamente duvidosa. Primeiro, porque ambas as polticas se
imbricam, j que em grande parte a externa por exemplo, a busca de
novos parceiros comerciais depende da interna. Segundo, porque
esses fatos novos na poltica exterior pelo menos uma boa parte
deles podem ser vistos como atitudes ou orientaes isoladas, muitas
vezes movidas pelas circunstncias e no por um projeto de longo
prazo. Eles no constituem um verdadeiro projeto geopoltico para o
sculo XXI, tampouco um projeto de desenvolvimento, no sentido de
se forjar uma grande potncia. A bem da verdade, a maior parte desses
procedimentos so j antigos uma constante no Estado brasileiro,
independente deste ou daquele governo tal como, por exemplo, o fato
de que, desde a criao da Liga das Naes, em 1919, o pas j
pleiteava uma vaga como membro permanente do Conselho de
Segurana daquela organizao. E o envio de tropas brasileiras para o
Haiti, no atual governo, foi precedido pelo envio de tropas para o
Timor Leste, no governo anterior. Tambm no se pode esquecer que o
Mercosul, visto por alguns como o smbolo de uma nova geopoltica
regional, foi criado em 1991 ou seja, muito antes do atual governo
e, por sinal, nos anos recentes anda meio estagnado e necessitando de
uma reformulao. Ademais, o Mercosul surgiu como uma decorrncia
da reproduo de uma tendncia mundial, a partir da globalizao e do
sucesso da Unio Europia, de constituir mercados supranacionais em
vrias partes do mundo. Embora importantssimo, ele representou mais
um mimetismo do que uma nova e efetiva iniciativa local, ou seja, uma
geopoltica regional mais empurrada pelos ventos da globalizao do
que por uma vontade prpria e deliberada com vistas a unir o Cone Sul.
Quanto a uma maior aproximao com alguns pases do Sul se que
a China pode continuar a ser includa nesse grupo , no se deve ver
nisso nenhuma nova geopoltica ou mesmo uma radicalmente nova
Jos William Vesentini
208
poltica externa, pois, por um lado, consequncia do notvel
crescimento da China, a qual, a bem da verdade, estreita seus laos com
praticamente todos os pases do mundo, inclusive e principalmente com
os Estados Unidos e a Unio Europia, e no apenas com os do Sul; por
outro lado, temos que lembrar que, apesar da impresso em contrrio,
ou dos textos panfletrios, em mdia as economias do Sul desde que
se inclua neste grupo a ndia, a China, os tigres asiticos etc.
cresceram percentualmente bem mais que as do Norte nas ltimas duas
ou trs dcadas. Com isso, vrias dessas economias chamadas de
emergentes inclusive a brasileira se tornam cada vez mais
complexas e industrializadas, o que vem gerando uma nova diviso
internacional do trabalho na qual os intercmbios Sul-Sul em geral ou
seja, no apenas os do Brasil com outros pases meridionais
cresceram enormemente nesse perodo de tempo.
Por sinal, ao mesmo tempo em que amplia suas relaes de troca com
outros pases do Sul, o Brasil, de forma insistente e pragmtica,
tambm procura embora nem sempre consiga encetar acordos
especiais de comrcio e/ou de transferncia de tecnologia com a
Europa, com o Japo e at com os Estados Unidos. No existe nem
deveria existir, pois seria puro idealismo desprovido de senso de
realidade qualquer orientao no sentido de dar primazia aos pases
do Sul, como sonham alguns. Existe, sim, uma notvel mobilizao,
desde pelo menos o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002),
com vistas abertura do mercado, especialmente das exportaes, algo
que tem sido particularmente bem-sucedido nos ltimos anos. Bem-
sucedido, convm aclarar, no devido a um pretenso novo
direcionamento da poltica externa, mas basicamente em funo da
crescente procura internacional por certas commodities como a soja e
seus derivados, as carnes, os minrios e seus derivados etc. que o
Brasil produz em grande quantidade e que, alm do mais, conheceram
um sensvel aumento nos seus preos nestes ltimos anos (isto , entre
2004 e meados de 2008).
Em resumo, no existe uma nova geopoltica para o Brasil no sentido
de um projeto coerente para os desafios do sculo XXI. Uma
geopoltica diferente da clssica, alicerada em novos pressupostos: no
Ensaios de geografia crtica
209
mais o poderio militar e, sim, o econmico-social, que depende
fundamentalmente do softpower e dos chamados recursos humanos
educao, tecnologia, poder aquisitivo para a populao em geral,
influncia cultural em outros pases etc. e tambm da expanso das
liberdades, de uma maior participao dos cidados nas decises e no
controle dos gastos pblicos, enfim, da implementao de uma
democracia entendida como processo permanente
10
. Ser que algum
partido poltico engendrar um novo projeto com esses pressupostos?
Duvido muito, pois todos eles esto preocupados apenas com cargos e
vantagens sejam legais ou ilegais , com o uso da mquina pblica
em benefcio pessoal e de apadrinhados. Surgir esse novo projeto na
academia? Talvez, mas foroso reconhecer que o mundo mudou to
radicalmente desde o final do sculo passado e os intelectuais
acadmicos, salvo rarssimas excees, so demasiadamente lentos em
rever as suas ultrapassadas ideias. Uma boa parte deles, no Brasil, ainda
vive sob a ideologia da guerra fria, raciocinando em termos de
derrubar o capitalismo. (Com vagas propostas de um socialismo
democrtico, que soam estranhas vindas de vozes que no admitem
contestaes ou crticas, que no admitem outros caminhos que no os
seus, e que, de forma declarada ou disfarada, continuam a ter como
norte o marxismo-leninismo). Ou, ento, de se vingar da derrocada
do antigo mundo socialista, como se o mundo fosse um campeonato de
futebol no qual neste ano ganha o time X e no ano seguinte o Y. Uma
outra parte, a que se voltou para a geopoltica antes repudiada, recupera
de forma entusiasta e no crtica determinadas ideias de
geopolticos militares como Mrio Travassos, Meira Mattos ou Golbery
do Couto e Silva, como se no vivssemos em uma nova realidade na
qual os pressupostos dessa geopoltica clssica j se tornaram
superados. Mas o mundo intelectual rico e complexo, pleno de
aporias e controvrsias, e em alguns casos aberto para o mundo, para
pensar as mudanas. Por isso mesmo constitui um campo no qual
podem surgir novas ideias ou um novo paradigma geopoltico.
10
Cf. LEFORT, C. A inveno democrtica. S. Paulo, Brasiliense, 1983.
Jos William Vesentini
210
211
Golbery do Couto e Silva, o papel das foras armadas e
a defesa do Brasil
*
Este ensaio procura analisar criticamente alguns aspectos do
pensamento geopoltico do general brasileiro Golbery do Couto e Silva
(1911-1987). Como amplamente conhecido, Golbery foi um dos
principais nomes da chamada escola geopoltica brasileira. No foi o
grande idelogo dessa escola posio normalmente atribuda a Mario
Travassos
1
, mas, sem dvida, se tornou na sua figura mais conhecida
aps ter participado, como uma espcie de conselheiro do Prncipe,
dos governos militares de Castelo Branco (de 1964 a 67), Geisel (de
1974 a 79) e Figueiredo (1980-81)
2
. Em face do seu desempenho como
uma espcie de intelectual orgnico desses referidos governos, ele
*
Texto elaborado em 2008 a pedido de uma revista militar chilena. Publicao no prelo.
1
TRAVASSOS, M. Projeo continental do Brasil. So Paulo, Brasiliana, 1935.
2
O governo do general Figueiredo prosseguiu at 1985, mas Golbery solicitou a sua demisso
como Chefe da Casa Civil em 1981, aps a recusa do executivo em apurar com rigor o episdio
conhecido como Riocentro. Nesse pavilho, o Riocentro, milhares de pessoas comemoraram o
Dia do Trabalho quando uma bomba explodiu no estacionamento. A exploso ocorreu no
carro de um militar, matando o seu ocupante, um capito lotado nos chamados rgos de
inteligncia, na verdade um membro da linha dura dos rgos de represso da poca. Ao
que tudo indica, ele pretendia detonar a bomba no meio da multido para culpar os
terroristas de esquerda, fato que justificaria a continuidade e maiores verbas e pessoal
para a organizao na qual trabalhava. Mas, por um acidente qualquer, o artefato explodiu no
seu carro e as tentativas de incriminar uma suposta rede terrorista de oposio ao regime
ficaram completamente desmoralizadas. Malgrado o receio de Figueiredo em apurar com
rigor o fato e punir os responsveis, a abertura lenta e controlada imaginada por Golbery,
com o apoio de Geisel (foram eles que escolheram Figueiredo para ser o ltimo presidente
militar), prosseguiu e, em 1985, a presidncia da Repblica no Brasil foi novamente ocupada
por um civil. Veja-se, sobre isso, as anlises de STEPAN, Alfred. Os militares: da abertura
Nova Repblica. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1986, p. 44-55.
Jos William Vesentini
212
recebeu os eptetos de satnico Doutor Go, mago ou feiticeiro,
alm de outros.
O papel de conselheiro ou consultor de governo, exercido por Golbery,
muitas vezes foi exagerado pela mdia ou pelos comentaristas.
sempre mais fcil e cmodo criar ou hipostasiar um personagem
maligno e onipotente, que manipula tudo, do que estudar os diversos
grupos em oposio e dilogo numa conjuntura, enfim, o entrechoque
de interesses que resulta numa ao muitas vezes diferente do
pretendido por qualquer grupo isoladamente. Existe ainda a carncia de
fontes, ou a dificuldade de acesso a elas, inclusive hoje, passados mais
de vinte anos do final da ditadura militar no Brasil. Apesar disso, no
h dvidas de que Golbery desempenhou um papel importante naqueles
trs governos militares citados, embora tenha sido execrado e colocado
no ostracismo pelos outros dois, os governos mais linha dura dos
generais Costa e Silva (1967-69) e Mdici (1969-74). Como assinalou
um influente jornalista brasileiro, no prefcio reedio de textos
variados de Golbery: Numa poca em que o poder poltico esteve em
poucas mos, as de Golbery esto entre as que mais poder tiveram
3
.
Tambm um acadmico, especialista em cincia poltica e relaes
internacionais, lembrou com propriedade a importncia das ideias de
Golbery para a chamada abertura controlada que ocorreu no Brasil no
incio dos anos 1980, quando os militares, aps uma fase transitria de
distenso ou afrouxamento e negociao a respeito de anistia de
ambos os lados (governo militar e oposio) e a escolha de pessoas
confiveis entre os civis , entregaram novamente o poder para os
civis
4
. E, por fim, uma dissertao de mestrado assinalou o seguinte:
Golbery foi uma das principais personagens da histria
brasileira, desde os anos 50. Unia perfeitamente as
qualidades de intelectual e homem prtico era um
intelectual orgnico da burguesia brasileira. Sua
3
GASPARI, Elio, Prefcio, in COUTO E SILVA, Golbery. Geopoltica e Poder. Rio de Janeiro,
Universidade, 2003, p. X.
4
MELLO, Leonel I. A. Golbery Revisitado: da democracia tutelada abertura controlada in
MOISS e ALBUQUERQUE - Dilemas da Consolidao da Democracia. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1989.
Ensaios de geografia crtica
213
peculiaridade: agir nas sombras. Mas o fato de atuar quase
sempre nos bastidores no diminui sua, s vezes,
dramtica importncia para a histria do Brasil
5
.
A nosso ver, pode-se afirmar que toda a obra de Golbery est norteada
por duas preocupaes maiores: o futuro desejvel do Brasil e o papel
dos militares na sua concretizao. O futuro do pas entendido como
algo complexo, decorrente de uma quase fatalidade geopoltica
localizao, tamanho e caractersticas do territrio (e logicamente
tambm das fronteiras, vistas como a epiderme do territrio), populao
com seus valores, especialmente o nacionalismo, sua distribuio
geogrfica, sua coeso, suas lideranas aliada a um planejamento
estratgico que procure explicitar e direcionar os recursos e os esforos
do pas no sentido da sua vocao geopoltica. Justamente aqui entra
o papel dos militares, que seriam os guardies da integridade territorial,
os responsveis pela resoluo dos inevitveis conflitos externos e
tambm pela paz interna, alm dos tericos do planejamento
estratgico.
Logicamente, existe toda uma filosofia da histria por trs desse
entendimento. O mundo todo atomizado, compartimentado em
Estados, nos quais existem as naes (mas, hierarquicamente, aqueles
primeiros precederiam e dirigiriam estas ltimas), numa anarquia
internacional onde reinam as disputas, os conflitos, as guerras por
expanso ou engrandecimento. Trata-se, fundamentalmente, de uma
concepo hobbesiana segundo a qual:
Francamente no entendemos [...] que algum possa
acreditar hoje nos velhos sonhos de uma paz mundial
estvel, fundada [...] na justia internacional, na inatingvel
liberdade das naes, reconhecida e respeitada por todos, e
nesse princpio to lgico, to moral, mas no menos
irreal, da autodeterminao e absoluta soberania dos
povos, o qual, nem por no se poder nele confiar de forma
alguma, importa que se deixe de us-lo e defend-lo a todo
5
ASSUNO, Vnia N. F. O satnico Doutor Go. A ideologia bonapartista de Golbery do Couto
e Silva. Dissertao de Mestrado. So Paulo, PUC, 1999.
Jos William Vesentini
214
custo com argumento nico, que , dos fracos contra os
fortes. O ideal da renncia guerra como instrumento da
poltica, proclamado ingenuamente [...], viu-se
inteiramente ultrapassado pela realidade indiscutvel dos
fatos
6
.
Mas o avano da histria, dos direitos democrticos e dos tratados
internacionais, alm da tecnologia moderna, no teria amenizado essa
luta de todos contra todos? Golbery acredita que no. Da mesma forma
que inmeros pensadores gregos (por exemplo, Plato ou mesmo
Aristteles), Golbery pensa que a prpria democracia em especial
com a demagogia j conhecida pelos gregos acrescida hoje pela
expanso de uma imprensa livre encerraria os perigos do uso da
palavra para ludibriar as massas e chegar ao poder, desvirtuando os
verdadeiros objetivos nacionais permanentes. Ademais, a tecnologia
moderna na verdade coloca meios mais poderosos para conquistar ou
subjugar outros Estados. Em suas palavras:
Os progressos surpreendentes da tcnica e da
industrializao acelerada rompem, pela continuidade do
ar e pela permeabilidade do ter, a escala de todas as
compartimentaes espaciais em que se educara o esprito
moderno. Abre-se a era da histria continental que Ratzel
predissera. Os pases fortes tornam-se cada vez mais fortes
e os fracos dia a dia mais fracos; as pequenas naes se
vem, da noite para o dia, reduzidas condio humilde de
Estados pigmeus [...] E num mundo em que as distncias
dia a dia mnguam, em que os continentes viram ilhas ou
pennsulas e os mares tornam-se apenas lagos [...] em que
todas as barreiras fsicas vo perdendo sua histrica
significao de obstculos intransponveis, a vida de
relao dos Estados pela interdependncia [...] sobrepe-se
sua vida prpria
7
.
6
COUTO E SILVA, Golbery. Geopoltica do Brasil. 2 edio. Rio de Janeiro, Jos Olmpio, 1967,
p. 21-2.
7
Idem, p. 22-3.
Ensaios de geografia crtica
215
O mundo, portanto, uma espcie de lei da selva na qual os povos ou
naes, organizados sob a forma civilizada de Estado, devem procurar
sobreviver e se fortalecer. Existem ameaas tanto internas (a falta de
coeso e de nacionalismo, a luta de classes, a demagogia de certas
lideranas polticas) quanto principalmente externas (os outros Estados
com os seus propsitos, vistos como absolutamente naturais e at
inevitveis, de expanso ou engrandecimento). Nesse sentido, deve-se
elaborar um planejamento estratgico para pensar o papel do pas no
mundo, o seu futuro desejvel. Esse futuro ou vocao deve
alicerar-se na geopoltica, isto , como esclarece o autor, na poltica
feita em decorrncia das condies geogrficas
8
.
O planejamento estratgico, tendo por base uma anlise geopoltica,
deve indicar os Objetivos Nacionais Permanentes, deve avaliar com
critrio a conjuntura (interna e internacional), deve medir os potenciais
e as ameaas, para, enfim, definir as diretrizes governamentais. Neste
ponto, o autor envereda por uma discusso terico-geogrfica sobre a
(pretensa) antinomia entre determinismo e possibilismo
9
, para em
seguida concluir que, malgrado no mais haver lugar para um
monocausalismo nas cincias sociais, no h dvidas que o Estado
uma espcie de organismo e, como tal, deve crescer para se
desenvolver profundamente interdependente com o seu meio
geogrfico, que oferece ou permite determinadas potencialidades, as
quais o Estado deve despertar ou desenvolver:
A antiga luta entre deterministas e possibilistas transcende
os limites restritos da geografia para o mbito da filosofia
poltica. Mais uma vez a fora telrica do meio fsico o
pomo de discrdia, segundo nela se queira enxergar a
verdadeira modeladora do homem, da sociedade e do
Estado [...] ou se entenda ao contrrio apenas como um
condicionamento mais ou menos elstico que sempre
8
COUTO E SILVA, Golbery. Geopoltica e poder, op. cit., p. 537.
9
J demonstramos anteriormente (ver o captulo 2 deste livro) que essa querela entre
deterministas e possibilistas, na verdade, no existiu e foi inventada por pensadores franceses
(Durkheim, Vidal de La Blache e especialmente Lucien Febvre) no incio do sculo XX. Em todo
o caso, muitas vezes ela apenas um pretexto para retomar essa antiga discusso entre a
determinao das circunstncias, inclusive o meio fsico, versus o livre arbtrio humano.
Jos William Vesentini
216
faculte, com maior ou menor largueza, o direito de livre
escolha, a natureza como um reservatrio de energias
que ao homem cabe despertar [...] De qualquer forma,
porm, avaliando a conjuntura internacional luz de
objetivos nitidamente nacionais [...] os dois mestres da
geopoltica prtica um marinheiro [Mahan] e o outro
gegrafo e estadista [Mackinder] o que realmente
fizeram foi estratgia, no apenas estratgia militar ou
naval, mas estratgia em sua mais elevada acepo. por
isso que na obra de ambos encontramos de fato no s
formulados, mas debatidos e defendidos os verdadeiros
conceitos estratgicos que sugeriam aos respectivos
governos: Mahan [queria] afirmar a hegemonia norte-
americana no continente ocidental e no Extremo Oriente,
visando no futuro suceder a Inglaterra na liderana do
mundo; e Mackinder [queria] conservar a supremacia
britnica, impedindo a emergncia no continente de um
poder capaz de controlar o corao do mundo [...]
impedir qualquer aliana entre a Alemanha e a Rssia,
estabelecendo entre as duas uma cintura de pases-
tampes, o clebre cordo sanitrio
10
.
Assim, caberia ao estrategista pensar as diretrizes nacionais com base
numa anlise das condies geogrficas e da conjuntura, especialmente
a internacional. Esta a tarefa qual se dedica o autor. Seguindo a
trilha iniciada, ou pelo menos identificada, com o general Gis
Monteiro
11
uma figura mitolgica nas foras armadas brasileiras,
idelogo do papel poltico ativo dos militares, que foi a principal base
de apoio militar para a chamada revoluo de 1930 (isto , a deposio
pelas armas do governo de Washington Luis) e importante sustentculo
da manuteno de Getlio Vargas no presidncia de 1930 at 45, assim
como da sua deposio nesta ltima data , Golbery, desde que era
coronel, j vinha atuando como um intelectual militar preocupado com
os rumos da poltica. Ele escreveu o famoso Memorial dos Coronis, de
10
Idem, p. 25-6.
11
GIS MONTEIRO. A Revoluo de 30 e a finalidade poltica do Exrcito. Rio de Janeiro,
Andersen, 1932.
Ensaios de geografia crtica
217
1954, assinado por 81 oficiais do exrcito que, por meio desse
manifesto, expressaram publicamente a sua insatisfao com a vida
poltica no Brasil, protestando contra determinadas medidas
legislativas, contra a inflao e a corrupo, contra o clima de
negociatas que envolve a vida poltica e contra o abandono de certos
quartis, com escassez de soldados e de equipamentos, fatos que
colocariam em risco a segurana nacional
12
. Apesar de na ocasio ter
apenas a patente de tenente-coronel (portanto, inferior de coronel),
nesse mesmo ano ele ainda redigiu o Manifesto dos Generais, assinado
por 30 generais, que pedia a renncia do Presidente da Repblica do
Brasil, que novamente era Getlio Vargas
13
. J despontava, assim, a
sua vocao como escriba e estrategista, como um intelectual dos
militares encarregado de elaborar e redigir manifestos, ideias e planos
para o pas.
Por sinal, as principais preocupaes de Golbery sempre foram a
Segurana Nacional, junto com os Objetivos Nacionais Permanentes,
que aparecem com destaque em todos os inmeros textos, depois
reunidos em livros, que escreveu desde 1952 at incios dos anos 1980.
Muito mais do que o Desenvolvimento (tambm um objetivo a
alcanar, mas sempre dentro da ordem ou da segurana) ou do que a
Democracia (tambm valorizada, embora no a liberal e, sim, a
responsvel, isto , que no coloque em risco a Segurana). Por sinal,
a democracia s apregoada pelo autor na medida em que seria um
contrapeso ao arbtrio, ao totalitarismo que gera divises e tenses e
produz uma espcie de panela de presso que pode estourar a qualquer
momento. No estaria aqui justamente a ideia na qual germinou a
abertura lenta e controlada da segunda metade dos anos 1970 e
primeira metade dos anos 1980 no Brasil? A concepo de democracia
do autor deixa claro que:
Na verdade, sem controle social no haveria sequer
sociedade [...] O mtodo democrtico caracteriza-se na
verdade por um jogo balanceado de sanes e de
estmulos, nunca interditando nem abafando, antes
12
COUTO E SILVA, G. Op. cit., p. 503-10.
13
Apud GASPARI, Elio. A Ditadura Derrotada. So Paulo, Companhia das Letras, 2003, p. 133.
Jos William Vesentini
218
revigorando, um pleno e salutar exerccio da iniciativa
individual, tornando este tanto mais benfico e til para o
prprio cidado quanto mais se enquadre nos objetivos
visados [...] No sou, estou longe de ser, um esquerdista,
mas acho que as contradies so, at certo ponto, o sal
da vida, porque elas obrigam a buscar solues aos
problemas [...] Eu tambm penso, como Huntington e
antes dele Toynbee, que as elites precisam ter desafios
pela frente para que sejam capazes de manter a
criatividade a conduo dos negcios do pas. Elite sem
contestao acaba perdendo inteiramente o poder criador
14
.
Qual seria o papel do Brasil no mundo, de acordo com Golbery? Um
papel importante em face de sua dimenso territorial (quase metade da
Amrica do Sul), de sua localizao (distante da arena conturbada da
Eursia e controlando todo o Atlntico sul) e de seu efetivo
populacional (cerca de metade da Amrica do Sul). Analisando a
conjuntura internacional no ps-1945, Golbery assinala que existem
dois campos em luta, o Ocidente democrtico e cristo, liderado
pelos Estados Unidos, e o Oriente comunista, capitaneado pela
Rssia ou pela Unio Sovitica (o autor usava essas duas denominaes
como sinnimas). Sua opo claramente por um alinhamento
brasileiro ao mundo ocidental e cristo, como um guardio na
Amrica do Sul e tambm no Atlntico Sul (o que inclui boa parte da
frica), dos ideais deste mundo. Ao contrrio do entendimento da
imensa maioria dos pensadores que comentou essa opo de Golbery,
acreditamos que ele a assumiu no por uma questo de princpio isto
, uma ferrenha ideologia anticomunista e pr-capitalismo e, sim, por
pragmatismo, por acreditar ser esse o melhor alinhamento para os
interesses nacionais do Brasil. A seu ver, os Estados Unidos
representavam um campo virtualmente ganhador mais eficiente em
sua estratgia militar, com uma economia mais slida e dinmica ,
alm de geograficamente mais prximo do Brasil. Especulando um
pouco, creio no ser incorreto afirmar que Golbery como quase toda a
14
COUTO E SILVA, G. Planejamento estratgico, 2 edio. Braslia, Editora da UNB, 1981
p.408 e p.509.
Ensaios de geografia crtica
219
sua gerao de militares autoritrios e preocupados com a subverso
social, com os distrbios ou a anarquia que minariam a coeso da
nao at mesmo preferia um regime poltico do tipo sovitico
democracia liberal (que detestava!), pois aquele primeiro exercia um
maior controle sobre a sociedade civil
15
. Mas a anlise geopoltica,
junto com os interesses econmicos em comum (os investimentos
norte-americanos no Brasil), alm de outros fatores como a luta
conjunta contra o fascismo na Itlia, a assuno da religiosidade crist
(apesar das diferenas do catolicismo brasileiro frente ao
protestantismo norte-americano) em contraposio ao atesmo
declarado do regime sovitico, o treinamento de vrios oficiais do
exrcito, inclusive Golbery, nos Estados Unidos no ps-guerra, ocasio
em que ficaram impressionados com a eficincia militar daquele pas
etc. , induziram o autor a apregoar um alinhamento com os Estados
Unidos ou com o Ocidente. Um alinhamento pragmtico e
conjuntural, portanto, e no uma posio permanente norteada por
algum princpio inquebrantvel.
Entretanto, no se tratava de um alinhamento passivo, de um liderado
que somente espera e eventualmente acompanha as iniciativas do
lder, e, sim, de um posicionamento ativo na defesa da Amrica do Sul
e do Atlntico Sul, uma regio do globo que estaria destinada a uma
hegemonia brasileira. Nas suas palavras:
Se a geografia atribuiu costa brasileira e a seu
promontrio nordestino um quase monoplio de domnio
do Atlntico Sul, esse monoplio brasileiro e deve ser
exercido exclusivamente por ns, por mais que estejamos
sem tergiversaes dispostos a utiliz-lo em benefcio dos
15
Evidncias disso so as constantes invectivas do autor contra a democracia vista como
liberal. Ademais, um colega seu e companheiro de ministrio em dois governos militares,
que ele recomendou para cargos nesse regime , o coronel Jarbas Passarinho, que em 1984
chefiou a delegao brasileira nas cerimnias do funeral de Yuri Andropov, ficou encantado
com o que viu na Unio Sovitica. A ordem aparente e sem contestaes (greves proibidas,
sindicatos controlados, um partido nico no poder, uma polcia poltica supostamente
eficiente e bem informada sobre tudo) encantou o coronel, que chegou a afirmar algo
amplamente noticiado nos jornais na poca que exatamente isso que ele sempre sonhou
para o Brasil.
Jos William Vesentini
220
nossos irmos do norte, a quem nos ligam tantos e to
tradicionais laos de amizade e de interesses, e em defesa
ao mesmo tempo da civilizao crist, que a nossa,
contra o imperialismo comunista de origem extica [...] E
se a velha Inglaterra soube reconhecer, desde cedo, o
destino norte-americano, facilitando-lhe uma poltica de
mos livres no continente ocidental, sombra protetora da
esquadra britnica [...] no parece demais que os EUA
reconheam tambm aquilo que devemos defender, a todo
custo, como um direito inalienvel, traado pela prpria
natureza no mapa do Atlntico Sul
16
.
Por sinal, o Brasil visto como uma potncia regional ao mesmo tempo
martima (no Atlntico Sul) e continental (na Amrica do Sul). Nesse
contraponto existiria inclusive um dilema brasileiro: que entre essas
duas se situa um grande dilema brasileiro, muito mais importante
amanh do que mesmo hoje o do antagonismo entre as foras
continentais e as atraes martimas
17
.
O Brasil deveria se preparar para agir principalmente contra as
ameaas da expanso socialista tanto na Amrica Latina,
especialmente na Amrica do Sul, como tambm na frica, a comear
pelas ento colnias de Portugal. Um apoio luta maior, guerra fria
liderada pelos Estados Unidos. Mas com cautela, sem ser subordinado
em demasia, pois no se admite qualquer ingerncia estrangeira, nem
mesmo norte-americana, no Brasil e no seu entorno:
Mas, na hiptese acima figurada [expanso comunista na
Amrica do Sul] no s no devemos contar com qualquer
apoio exterior, antes, tudo devemos fazer para que este
venha a ser inteiramente desnecessrio, evidentemente
suprfluo e at mesmo injustificado, a fim de que a
ocupao estrangeira, sob pretextos quaisquer ou
quaisquer razes por muito ponderveis que sejam, no se
torne a preo desmesurado de uma segurana que no
16
COUTO E SILVA, G. Geopoltica do Brasil, op. cit., p. 52, grifos nossos.
17
Idem, p. 61.
Ensaios de geografia crtica
221
tenhamos sabido manter como homens [...] E, alm disso,
prepararmo-nos, na Amrica Latina, para dar uma mo a
qualquer de nossos vizinhos na defesa de um inigualvel
patrimnio comum, contra quaisquer investidas exticas
18
.
Em sntese, a defesa do Brasil pensada por Golbery no contexto do
mundo ps-1945 at incios dos anos 1980, qual seja, o mundo da
guerra fria e da luta do capitalismo contra o pretenso expansionismo
sovitico. Ele no prestou muita ateno Amaznia, embora na
citao anterior ela fique implcita quando se refere defesa de um
inigualvel patrimnio comum. Ele tambm no se referiu expanso
do crime organizado e em especial do narcotrfico, praticamente
inexistente ou pouco visvel at a sua morte, em 1987. Tampouco fez
qualquer meno aos problemas territoriais e diplomticos ocasionados
pelos milhares de brasileiros que adquiriram terras nas faixas de
fronteira no territrio do Paraguai, os brasiguaios, atualmente
ameaados por invases de movimentos sem terra e/ou por
desapropriaes no pas vizinho; assim como no viu ou preferiu se
calar sobre os milhares de brasileiros que, da mesma maneira,
adquiriram terras na regio de Santa Cruz de La Sierra, na Bolvia.
Quanto Argentina, tradicional rival ou adversrio do Brasil na
Amrica do Sul, em especial no Cone Sul, o autor tambm no dedica
nenhuma ateno especial. O contrrio que verdadeiro, pois a obra
de Golbery repercutiu bastante nos geopolticos do pas vizinho
19
. Ele
considerava as fronteiras no sul e sudoeste do Brasil, com a Argentina,
Uruguai e Paraguai, como j consolidadas, oferecendo poucos riscos,
dando maior ateno para as fronteiras a oeste e ao norte, prescrevendo
novas etapas de ocupao demogrfica e militar do territrio em
18
Idem, p. 194.
19
Um general argentino no esconde a sua contrariedade quando analisa a obra de Golbery:
El autor brasileo se muestra como um pensador de imaginacin y hbil expositor [...] Pero lo
que es grave desde un punto de vista geopoltico es que sua anlisis, especialmente cuando se
refiere a la Amrica del Sur o al frica Suroccidental, es francamente tendencioso. Lo que
sucede es que Golbery trata de presentar al Brasil como el ncleo central de la Amrica del Sur,
rea este sobre cual debe ejercer um destino manifesto que non choca con los intereses
norteamericanos. (GUGLIALMELLI, J. E. Geopoltica Del Cono Sur. Buenos Aires, El Cid Editor,
1979, p. 212. Os grifos so do autor).
Jos William Vesentini
222
direo do centro-oeste e ao norte do pas (a Amaznia). Mas o maior
risco no tocante defesa do Brasil, a seu ver, era o expansionismo
sovitico com a sua busca de possveis aliados na Amrica do Sul.
Acreditava piamente que a geografia reservou ao Brasil um destino
grandioso, de potncia regional na Amrica do Sul e de partes da frica
por via do Atlntico Sul, cabendo apenas aos brasileiros em especial
ao governo no deixar escapar as oportunidades criadas pela sua
geopoltica.
Você também pode gostar
- Laudo Neuropsicologico Wais IIIDocumento3 páginasLaudo Neuropsicologico Wais IIIAna Paula Leite Carvalho94% (18)
- Feuerstein e A Construção Mediada Do Conhecimento - Reuven FeuersteinDocumento190 páginasFeuerstein e A Construção Mediada Do Conhecimento - Reuven FeuersteinRafael da Rocha100% (3)
- Lewis R Binford - em Busca Do PassadoDocumento153 páginasLewis R Binford - em Busca Do PassadoVinícius Teles Córdova100% (5)
- Texto 5 - Escolas Do Pensamento EstrategicoDocumento4 páginasTexto 5 - Escolas Do Pensamento EstrategicoRoberto Faustino Faustino100% (1)
- Stewart - 1-1 - Quatro Maneiras de Representar Uma Função PDFDocumento10 páginasStewart - 1-1 - Quatro Maneiras de Representar Uma Função PDFmelguzellaAinda não há avaliações
- Stewart - 1-2 - Modelos Matemáticos PDFDocumento13 páginasStewart - 1-2 - Modelos Matemáticos PDFmelguzellaAinda não há avaliações
- IT503 Cap 9 - 2011pDocumento8 páginasIT503 Cap 9 - 2011pmelguzellaAinda não há avaliações
- Radioat OceanosDocumento5 páginasRadioat OceanosmelguzellaAinda não há avaliações
- Aula 02Documento26 páginasAula 02melguzellaAinda não há avaliações
- A Teoria Pós Moderna Das Relações Internacionais Uma DiscussãoDocumento20 páginasA Teoria Pós Moderna Das Relações Internacionais Uma DiscussãoAna Beatriz BarataAinda não há avaliações
- O Papel Da Teoria Na Estetica - em O Que E - Morris WeitzDocumento17 páginasO Papel Da Teoria Na Estetica - em O Que E - Morris WeitzJorge Sayão100% (3)
- Questoes KantDocumento20 páginasQuestoes KantBrizio CostaAinda não há avaliações
- VALENTIM (Org) Atuacao Profissional Na Area de Informacao PDFDocumento193 páginasVALENTIM (Org) Atuacao Profissional Na Area de Informacao PDFDani FerriAinda não há avaliações
- Ementa Avaliação Da Aprendizagem UspDocumento2 páginasEmenta Avaliação Da Aprendizagem UspSueli OliveiraAinda não há avaliações
- Teorias de Aprendizagem FisicaDocumento40 páginasTeorias de Aprendizagem Fisicaapi-280528136100% (1)
- 6361-Texto Do Trabalho-16300-1-10-20150103 PDFDocumento11 páginas6361-Texto Do Trabalho-16300-1-10-20150103 PDFRosyane de MoraesAinda não há avaliações
- Caderno 15Documento60 páginasCaderno 15Carol MenzlAinda não há avaliações
- Aulão EnemDocumento31 páginasAulão EnemAna Ana AnaAinda não há avaliações
- FERNANDES, Florestan - A Ciência Aplicada e A Educação Como Fatores de Mudança Social Provocada PDFDocumento37 páginasFERNANDES, Florestan - A Ciência Aplicada e A Educação Como Fatores de Mudança Social Provocada PDFGuilherme SchnekenbergAinda não há avaliações
- Lógica Informal - Aires AlmeidaDocumento18 páginasLógica Informal - Aires Almeidaatls23Ainda não há avaliações
- ArquivoDocumento9 páginasArquivoVictor AugustoAinda não há avaliações
- Teoria e Prática Do BasquetebolDocumento5 páginasTeoria e Prática Do BasquetebolPatricia DiasAinda não há avaliações
- IntencionalidadeDocumento3 páginasIntencionalidadeJuliana JunqueiraAinda não há avaliações
- BRITO, A. N. Nomes Próprios Semântica e Ontologia PDFDocumento12 páginasBRITO, A. N. Nomes Próprios Semântica e Ontologia PDFAlisson Do ValesAinda não há avaliações
- Assim Falava Nietzsche - Teoria Da ConspiraçãoDocumento9 páginasAssim Falava Nietzsche - Teoria Da Conspiraçãogeanph4Ainda não há avaliações
- O Vídeo Na Sala de AulaDocumento11 páginasO Vídeo Na Sala de AulaSamira TavaresAinda não há avaliações
- Rudolf Steiner - Verdade e CienciaDocumento25 páginasRudolf Steiner - Verdade e CienciaCarlos Roberto de SousaAinda não há avaliações
- Fatores Que Influenciam o Desenvolvimento Da LinguagemDocumento6 páginasFatores Que Influenciam o Desenvolvimento Da LinguagemMaria FrancieleAinda não há avaliações
- Curso 7853 Aula 04 v1Documento79 páginasCurso 7853 Aula 04 v1jose antonio carroAinda não há avaliações
- Resenha - Ciência e História o Nascimento de Uma Nova Área - Allen G. DebusDocumento2 páginasResenha - Ciência e História o Nascimento de Uma Nova Área - Allen G. DebusThiago Luz100% (1)
- Da Educação de Qualidade para Os Desafios CurricularesDocumento17 páginasDa Educação de Qualidade para Os Desafios CurricularesInércio Israel Macamo100% (1)
- A Formacao Estrategica Da Como Um Processo Emergente - InCREMENTALISMO LÓGICODocumento24 páginasA Formacao Estrategica Da Como Um Processo Emergente - InCREMENTALISMO LÓGICOJair AraújoAinda não há avaliações
- O Que É ConhecimentoDocumento18 páginasO Que É ConhecimentoKELLY MILENA FREITAS FONSECA SILVAAinda não há avaliações
- FilosofiaDaEducacao Exercicio11Documento2 páginasFilosofiaDaEducacao Exercicio11leo_dh100% (1)
- 03-Logica Proposicional SemanticaDocumento36 páginas03-Logica Proposicional SemanticamaclaudioAinda não há avaliações