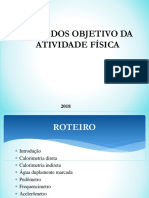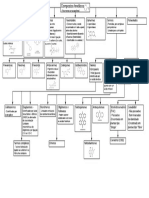Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Evolução
Evolução
Enviado por
Luiza Formiga0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações16 páginasTítulo original
evolução
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
12 visualizações16 páginasEvolução
Evolução
Enviado por
Luiza FormigaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 16
unction in rural environments.
Agriculture, Ecosystems and Environment,
v.74, p.425-441, 1999.
CASTELLETTI, C.H.M.; SANTOS, A.M.M.; TABARELLI, M. et al. Quanto ainda
resta da Caatinga? Uma estimativa preliminar. In: LEAL, I. R.; TABARELLI,
M.; SILVA, J. M. C. (Eds.). Ecologia e Conservao da Caatinga. Recife:
Universidade Federal de Pernambuco, 2003. p.719-734.
CORREIA, M.E.F. Potencial de utilizao dos atributos das comunidades de
fauna do solo e de grupos chave de invertebrados como bioindicadores do
manejo de ecossistemas. Seropdica, Embrapa Agrobiologia, 2002. 23 p.
(Embrapa Agrobiologia. Documentos, 157).
COSTA, C.; IDE, S.; SIMONKA, C.E. Insetos imaturos: metamorfoses e
identificao. Ribeiro Preto: Holos, 2006. 249p.
DRESCHER, M.S.; ELTZ, F.L.F.; ROVEDDER, A.P.M. et al. Mesofauna como
bioindicador para avaliar a eficincia da revegetao com Lupinus
albescens em solo arenizado do sudoeste do Rio Grande do Sul. In: XXXI
CONGRESSO BRASILEIRO DE CINCIA DO SOLO, 31., 2007, Gramado. Anais...
Gramado, SBCS, 2007. CD-ROM.
ELTZ, F.L.F.; ROVEDDER, A.P.M. Revegetao e temperatura do solo em reas
degradadas no sudoeste do Rio Grande do Sul. Revista Brasileira de
Agrocincia, v.11, n.2, p.193-200, 2005.
FERNANDES, M.M.; MAGALHES, L.M.S.; PEREIRA, M.G. et al. Influncia de
diferentes coberturas florestais na fauna do solo no municpio de
Seropdica-RJ. Floresta, Curitiba, v.41, p.533-40, 2011.
FERNANDES, M.M.; FERNANDES, M.R.M.; LIMA, R.P. et al. Fauna do solo em
rea degradada revegetada com Enterolobium contortisiliquum no sul do
Piau. Geoambiente On-line, n.19, p.86-96, 2012.
FORNAZIER, R.; GATIBONI, L.C.; WILDNER, L.P. et al. Modificaes na fauna
edfica durante a decomposio da fitomassa de Crotalaria juncea L. In:
XXXI Congresso Brasileiro de Cincia do Solo, Gramado. Anais... Gramado,
SBCS, 2007. CD-ROM.
GARCIA, M.R.L.; NAHAS, E. Biomassa e atividades microbianas em solo sob
pastagem com diferentes lotaes de ovinos. Revista Brasileira de Cincia
do Solo, v.31, p.269-276, 2007.
GHANI, A.; DEXTER, M.; PERROTT, K.W. Hot-water extractable carbon in
soils: a sensitive measurement for determining impacts of fertilisation,
grazing and cultivation. Soil Biology and Biochemistry, v.35, n.4,
p.1231-1243, 2003.
GIRACCA, E.M.N.; ANTONIOLLI, Z.I.; ELTZ, F.L.F. et al. Levantamento da
meso e macrofauna do solo na microbacia do Arroio Lino, Agudo/RS. Revista
Brasileira de Agrocincia, v.9, n.3, p.257-261, 2003.
HODKINSON, I.D.; JACKSON J.K. Terrestrial and aquatic invertebrates as
bioindicators for environmental monit1o1r1i1n1g1,1 1w1i1t1h1
1p1a1r1t1i1c1u1l1a1r1 1r1e1f1e1r1e1n1c1e1 1t1o1 1m1o1u1n1t1a1i1n1
1e1c1o1s1y1s1t1e1m1s1.1 1E1n1v1i1r1o1n1m1e1n1t1a1l1
1M1a1n1a1g1e1m1e1n1t1,1 1v1.1 13151,1 1p1.1 1614191 616161,1 121010151.1
1J1O1N1E1S1,1 1C1.1G1.1 1O1r1g1a1n1i1s1m1s1 1a1s1 1e1c1o1s1y1s1t1e1m1
1e1n1g1i1n1e1e1r1s1,1 1O1i1k1o1s1,1 1v1.16191,1 1p1.1317131-1318161,1
111919141.1
1J1O1U1Q1U1E1T1,1 1P1.1;1 1D1A1U1B1E1R1,1 1J1.1;1 1L1A1G1E1R1L11F1,1
1J1.1;1 1e1t1 1a1l1.1 1S1o1i1l1 1i1n1v1e1r1t1e1b1r1a1t1e1s1 1a1s1
1e1c1o1system engineers: Intended and accidental effects on soil and
feedback loops, Apllied Soil Ecology, v.32, p.153-164, 2006.
LAVELLE, P.; BIGNEL, D.; LEPAGE, M.; et al. Soil function in a changing
world: the role of invertebrate ecosystem engineers, European Journal
Soil Biology, v.33, p.159-193, 1997.
LAVELLE, P.; SPAIN, A. V. Soil ecology. Dordrecht: Kluwe Academic Pub.,
2001. 654p.
LIMA, S.S. et al. Relao entre macrofauna edfica e atributos qumicos
do solo em diferentes agroecossistemas. Pesquisa Agropecuria Brasileira,
v.45, n.3, p.322-331, 2010.
MELO, F.V.; BROWN, G.G.; CONSTANTINO, R. et al. A importncia da meso e
macrofauna do solo na fertilidade e como biondicadores. Boletim
Informativo da SBCS, jan.-abr. 2009. Disponvel em
<http://sbcs.solos.ufv.br/solos/boletins/biologia%20macrofauna.pdf.>
Acesso em: 19 out. 2013.
MELO, L.A.S. Recomendaes para amostragem e extrao de microartrpodes
de solo. EMBRAPA. Circular Tcnica, n.3. 2002. p.1-5.
MERLIM, A.O.; GUERRA, J.G.M.; JUNQUEIRA, R.M.; et al. Soil macrofauna in
cover crops of figs grown under organic management. Scientia Agricola,
v.62, p.57-61, 2005.
MERLIM, A.O.; GUERRA, J.G.M.; JUNQUEIRA, R.M.; et al. Soil macrofauna in
cover crops of figs grown under organic management. Scientia Agricola,
v.62, p.57-61, 2005.
MORAIS, R.M.; OTT, R.. OTT, A.P. et al. Aranhas e caros predadores em
copas de tangerineiras montenegrina, mantidas sob manejo orgnico, em
Montenegro, RS. Neotropical Entomology, v.36, n.6, 2007.
MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioqumica do solo.
Lavras: UFLA, 2006.
NASCIMENTO, M.S.V.; HOFFMANN, R.B.; DINIZ, A.A. et al. Diversidade da
mesofauna edfica como bioindicadora para o manejo do solo no brejo
paraibano. In: XXXI Congresso brasileiro de cincia do solo, Gramado.
Anais... Gramado, SBCS, 2007. CD-ROM.
NUNES, L.A.P.L.; ARAJO FILHO, J.A.; MENEZES, R.I.Q. Diversidade da fauna
edfica em solos submetidos a diferentes sistemas de manejo no semirido
nordestino. Scientia Agraria, v.10, p.043-049, 2009.
NUNES, L.A.P.L.; ARAJO FILHO, J.A.; MENEZES, R.I.Q. Recolonizao da
fauna edfica em reas de Caatinga submetidas a queimadas. Revista
Caatinga, v.21, p.214-220, 2008.
NUNES, L.A.P.L.; SILVA, D.I.B.; ARAJO, A.S.F. et al. Caracterizao da
fauna edfica em sistemas de manejo para produo de forragens no Estado
do Piau. Revista Cincia Agronmica, v.43, n.1, p.30-37, 2012.
ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1993. 434p.
PARENTE, H.N.; ANDRADE, A.P.; SILVA, D.S. et al. Influncia do pastejo e
da precipitao sobre a fenologia de quatro espcies em rea de Caatinga.
Revista rvore, v.36, n.3, p.411-421, 2012.
PEREIRA, R.C.; ALBANEZ, J.M.; MAMDIO, I.M.P. Diversidade da meso e
macrofauna edfica em diferentes sistemas de manejo de uso do solo em
Cruz das Almas - BA. Semana Entomolgica da Bahia (SINSECTA), v. 24,
nmero especial, p.63-76, 2012.
PRIMAVESI, A. Manejo ecolgico do solo: Agricultura em regies tropicais.
9 ed. So Paulo: Nobel. 1990, p.142-154.
ROVEDDER, A.P.; ANTONIOLLI, Z.I.; SPAGNOLLO, E. Fauna dfica em solo
susceptivel arenizao na regio sudoeste do Rio Grande do Sul. Revista
de Cincias Agroveterinrias, v.3, n.2, p.87-96, 2004.
SEEBER, J.; SEEBER, G.U.H.; KOSSLER, W. et al. Abundance and trophic
structure of macredecomposers on alpine pastureland (Central Alps,
Tyrol): effects of abandonment of pasturing. Pedobiologia, v.49, n.2,
p.221-228, 2005.
SILVA, R.F. da; AQUINO, A.M.; MERCANTE, F.M.; et al. Macrofauna
invertebrada do solo em sistema integrado de produo agropecuria no
Cerrado. Acta Scientiarum Agronomy, v.30, p.725-731, 2008.
SILVA, R.F.; AQUINO, A.M.; MERCANTE, F.M.; et al. Macrofauna invertebrada
do solo sob diferentes sistemas de produo em Latossolo da Regio do
Cerrado. Pesquisa Agropecuria Brasileira, v.41, p.697-704, 2006.
SOUTO, P.C. Acumulao e decomposio de serrapilheira e distribuio de
organismos edficos em rea de Caatinga na Paraba, Brasil. 2006. 150p.
Tese (Doutorado em Agronomia) - Centro de Cincias Agrrias, Universidade
Federal da Paraba, Areia - PB.
SOUTO, P.C.; SOUTO J.S.; MIRANDA, J.R.P. et al. Comunidade microbiana e
mesofauna edficas em solos sob Caatinga no semirido da Paraba. Revista
Brasileira de Cincia do Solo, v.32, n.32, p.151-160, 2008.
SWIFT, M.J.; HEAL, O.W.; ANDERSON, J.M. Decomposition in terrestrial
ecosystems. Studies in ecology, v.5. Blackwell Scientific, Oxford, 1979.
238p.
TRIPLEHORN, C.A.; JOHNSON, N.F. Estudo dos Insetos Traduo da 7 Edio
de Borror and Delong's introduction to the study of insect. So Paulo:
Cengage Learnig, 2011.
VICENTE, N.M.F.; CURTINHAS, J.N.; PEREZ, A.L. et al. Fauna Edfica
Auxiliando a Recuperao de reas Degradadas do Crrego Brejaba, MG.
Floresta e Ambiente, v.17, n.2, p.104-110, 2010.
VOHLAND, K.; SCHROTH, G. Distribution patterns of the litter macrofauna
in agroforestry and monoculture plantations in central Amazonia as
affected by plant species and management. Applied Soil Ecology, v.13,
p.57-68, 1999.
WINK, C; GUEDES, J.V.C.; FAGUNDES, C.K. et al. Insetos edficos como
indicadores da qualidade ambiental. Revista de Cincias Agroveterinrias,
v.4, n.1, p.60-71, 2005.
CAPITULO III
CINTICA DO CO2 DO SOLO EM REAS DE CAATINGA SOB PASTEJO CAPRINO
CINTICA DO CO2 DO SOLO EM REAS DE CAATINGA SOB PASTEJO CAPRINO
RESUMO: O CO2 liberado na superfcie do solo produzido naturalmente por
meio da atividade e respirao dos microrganismos, durante a decomposio
aerbica da matria orgnica e respirao do sistema radicular das
plantas. Objetivou-se avaliar a atividade microbiana atravs do fluxo e
da cintica do CO2 em trs reas contguas de Caatinga, submetida ao
pastejo caprino nas condies do semirido paraibano. A pesquisa foi
conduzida na Fazenda Experimental/CCA/UFPB, em So Joo do Cariri - PB,
durante o perodo de Fevereiro de 2011 a Dezembro de 2012, em trs reas
contguas de Caatinga, correspondente aos tratamentos T1 (10 animais - 1
animal/3.200 m2), T2 (5 animais - 1 animal/6.400 m2) e T3 (Controle - sem
animais). A rea do experimento de 9,6 ha e foi dividida em trs reas
de 3,2 ha. Em cada tratamento foram realizadas determinaes bimestrais
de dixido de carbono (CO2), contedo de gua do solo e cintica de CO2 a
cada duas horas (05:00 s 17:00 h). Foram realizadas tambm duas coletas
de carbono e matria orgnica, sendo uma no perodo de estiagem e outra
no perodo chuvoso. As emisses de CO2 apresentaram variao temporal com
maiores picos de liberao no perodo chuvoso; O fluxo de CO2 no
apresentou diferena entre as reas estudadas; A cintica de CO2 variou
ao longo do dia em funo dos elementos meteorolgicos com tendncia a
maior liberao no final da tarde; Eventos de chuva, mesmo na estao de
estiagem, proporcionaram um aumento nas perdas de CO2; A presena dos
animais na rea no foi suficiente para grandes alteraes na emisso do
CO2.
PALAVRAS-CHAVE: fluxo de CO2, respirao edfica, semirido, lotao
animal
KINETICS OF CO2 IN SOIL AREAS OF CAATINGA UNDER GRAZING GOAT
ABSTRACT: The CO2 released into the soil surface is naturally produced
through the activity and respiration of microorganisms during the aerobic
decomposition of organic matter and respiration of the root system of
plants. This study aimed to evaluate the microbial activity through the
flow and kinetics of CO2 in three contiguous areas of Caatinga, submitted
to goat grazing in semiarid conditions of Paraiba. The research was
conducted at the Experimental Farm/CCA/UFPB in So Joo do Cariri - PB
during the period February 2011 to December 2012 in three contiguous
areas of Caatinga, corresponding to treatments T1 (10 animals - 1
animal/3,200 m2) , T2 (5 animals - 1 animal/6.400 m2) and T3 (Control -
no animals). The experiment area is about 9.6 ha and were divided into
three areas of 3,2 ha. Each two months treatment determinations of carbon
dioxide (CO2), water content of the soil and kinetics of CO2 every two
hours (5:00 to 17:00) was performed. Two samples of carbon and organic
matter, one in the dry season and another in the rainy season were also
performed. CO2 emissions showed seasonal variation with higher peaks for
release during the rainy season. The CO2 flux wasnt different between
the study areas; Kinetics of CO2 varied throught the day depending on the
weather elements with a tendency to release at the end of late;
Occasional rain even in the dry season, provided an increase in losses of
CO2, the presence of animals in the area was not large enough to changes
in CO2 emission.
KEYWORDS: fluxo de CO2, soil respiration, semiarid, stocking
1 INTRODUO
A maior parte do semirido Nordestino composta pela vegetao da
Caatinga, recurso forrageiro de maior expresso nesta regio, cobrindo
54,53% dos 1.548.672 km2 da rea (IBGE, 2004). A principal atividade
econmica dos moradores dessa regio a agropecuria e as diferentes
prticas agrcolas podem afetar fortemente o ambiente do solo, causando
distrbios na comunidade microbiana (ALVES et al., 2011). No mbito das
mudanas climticas globais, o solo e suas formas de uso esto em foco,
sobretudo no que se refere agricultura. Neste sentido, a influncia de
prticas agrcolas na emisso de gases que causam o efeito estufa
assunto de grande interesse, especialmente quando se trata de CO2, o
principal componente do efeito estufa (D'ANDREA et al., 2010).
O carbono no ecossistema terrestre est presente em diversas formas,
incluindo a fauna, flora, material em decomposio e carbono no solo.
Este ltimo , em geral, encontrado em maior quantidade no primeiro metro
do solo (FAO, 2007; NSABIMANA et al., 2009). Neste contexto, as
alteraes na cobertura vegetal entre os perodos de estiagem e chuvosos
altera o balano de radiao que o principal fator de interao da
superfcie com a atmosfera. Como a vegetao armazena energia,
modificaes em sua cobertura resultam em maior ou menor disponibilidade
de calor para os processos atmosfricos. Mudanas no padro espacial e
temporal das chuvas representam um fator determinante nas trocas de
calor, vapor d'gua e CO2 entre o ecossistema e a atmosfera (SANTOS et
al., 2012).
A ciclagem de nutrientes no ambiente depende principalmente da deposio
da serrapilheira no solo (ANDRADE et al., 2012). De acordo com Capuani et
al. (2012) a utilizao da taxa de respirao edfica representa uma
forma sensvel e eficaz de se perceber mudanas nos teores de C no solo.
Para Souto et al. (2009) as anlises de CO2 so imprescindveis para o
estudo dos solos envolvendo as atividades biolgicas, material orgnico
em decomposio, quantidade de biomassa microbiana e a determinao do
contedo de carbonato.
Assim, o monitoramento da atividade microbiana ou respirao edfica pode
servir como critrio para detectar alteraes mais impactantes, sendo
possvel observar alteraes na qualidade do solo, j que o CO2 liberado
na superfcie do solo produzido naturalmente por meio da atividade e
respirao dos microrganismos, durante a decomposio aerbica da matria
orgnica e respirao do sistema radicular das plantas (D'ANDREA et al.,
2010).
Essa informao pode contribuir para o estabelecimento de uma relao
mais confivel entre o uso do solo e a sustentabilidade. Para Calgaro et
al. (2008), a atividade microbiana seria a forma indireta de avaliao do
impacto ambiental, uma vez que aumento demasiado da atividade microbiana
eleva a taxa de CO2 liberado para a atmosfera, favorecendo o aquecimento
global ou efeito estufa e reduzindo a camada de oznio (TSAI et al.,
1992).
Diante deste contexto, objetivou-se avaliar a atividade microbiana
atravs da produo de CO2 e a cintica de evoluo do dixido de carbono
em trs reas contguas de Caatinga, submetida ao pastejo caprino nas
condies do semirido paraibano.
2 MATERIAL E MTODOS
2.1 Localizao e caracterizao da rea experimental
A rea trabalhada foi demarcada a 3 km da Sede da Fazenda Experimental,
da Universidade Federal da Paraba, no municpio de So Joo do Cariri,
Cariri Oriental (Figura 1), localizada entre as coordenadas 723'36e
719'48 de latitude Sul e 3633'32e 3631'20 de longitude Oeste. A
rea tem relevo predominantemente suave ondulado, com altitude variando
entre a mxima de 510 m e mnima de 480 m em relao ao nvel do mar. O
municpio est inserido na zona fisiogrfica do Planalto da Borborema,
fazendo parte da microrregio do Cariri Oriental.
Figura 1. Localizao geogrfica do municpio de So Joo do Cariri - PB.
Fonte: IBGE (2006).2.2 Caracterizao do clima e solo
De acordo com a classificao de Kppen, predomina na regio o clima BSh
- semirido quente com chuvas de vero e o bioclima 2b variando de 9 a 11
meses secos, denominado subdesrtico quente de tendncia tropical.
Apresenta temperatura mdia mensal mxima de 27,2 C e mnima de 23,1 C,
precipitao mdia de 400 mm/ano e umidade relativa do ar 70%. Na figura
2, apresenta-se a precipitao pluvial de 2011 e 2012.
Figura 2. Precipitao pluvial (mm) durante o ano de 2011 e 2012 no
municpio de So Joo do Cariri - PB.
Em 2011, primeiro ano de avaliao, o perodo chuvoso foi considerado de
Janeiro a Maio e o perodo seco de Junho a Dezembro. Em 2012, segundo ano
de avaliao Fevereiro foi considerado o ms chuvoso e o perodo seco de
Maro a Dezembro.
Os solos presentes na regio em estudo so, predominantemente, Neossolos,
que so solos rasos com textura arenosa e com presena de cascalhos. Nas
pores mais altas do relevo, em declividade mais elevada, existe locais
onde o solo praticamente inexiste, podendo-se observar afloramentos de
rochas. Na tabela 1, apresentam-se os dados da anlise fsica e qumica
do solo das trs reas experimentais.
Tabela 1. Anlise fsica e qumica das amostras de solo das reas I (10
animais - 3.200 m2), II (5 animais - 6.400 m2) e III (sem animal)
localizadas na estao experimental de So Joo do Cariri-PB.
Caracterizao fsica
reasDSDPPT(Kg/dm3)(Kg/dm3)(m3m-
3)I1,492,680,44II1,432,700,47III1,432,680,47CV
(%)7,091,978,06Caracterizao Qumica
pHMOPKCa2+Mg2+Na+Al3+H++Al2+CTCreas1:2,5g kg-1mg dm-
3---------------------cmol dm-3-------------------------
I6,108,248,922,512,850,742,390,040,989,49II6,406,832,022,294,313,862,400,
010,9713,86III6,359,374,513,484,542,843,260,021,1415,26CV
(%)5,0629,7524,5725,8318,5720,4323,4318,4026,7711,31DS: densidade do
solo; DP: densidade de partcula e PT: porosidade total
2.3 Determinao da temperatura do solo
Foi feito o monitoramento da temperatura do solo a 10 cm de profundidade
(em virtude da maior concentrao e atividade dos organismos edficos
ocorrerem nesta profundidade) os quais foram relacionados com as
variveis estudadas no experimento.
Figura 3. Temperatura do solo na profundidade de 0-10 cm. 2.4 rea
experimental
A rea experimental, inserida na Caatinga, compreendeu 9,6 ha e,
divididos em trs piquetes de 3,2 ha cada, delimitados por cerca de arame
farpado com nove fios. Utilizou-se um sistema de lotao contnua nas
reas com animais. Para avaliar o nvel de interferncia ocasionado pelo
manejo de caprinos, foram utilizadas trs reas contguas de Caatinga
correspondente aos trs tratamentos: T1 (10 animais - 3.200 m2), T2 (5
animais - 6.400 m2) e T3 (Controle - sem animais), que corresponde as
reas I, II e III. Em cada rea foram estabelecidos trs transectos
paralelos, distando aproximadamente 20 m entre si e em cada transecto
foram marcadas dez unidades amostrais equidistantes (10 m x 10 m), de
modo que foram amostrados 30 pontos, em cada tratamento, totalizando 90
pontos em toda rea experimental e esto localizadas sob o mesmo tipo de
solo. As reas monitoradas foram implantadas em substituio explorao
por dcadas de vrias culturas, destacando-se a plantio de algodo, que
no recebia adubos nem corretivos, sendo submetidas a queimadas ao longo
do tempo e, quando da ocasio da substituio por outras culturas e pelo
pasto, o solo tambm no recebeu correo. Foram utilizados caprinos
machos, adultos, sem padro de raa definida (SPRD). As reas j vm
sendo utilizadas para pesquisa desde 2006. Assim, os animais entraram na
rea com peso mdio de 15 kg e a troca foi feita sempre que ocorria algum
acidente, alcanavam 18 meses de idade ou quando atingiam o peso mdio de
30 kg. Os quais se alimentaram somente da Caatinga.
Em cada tratamento, foram estabelecidos trs transectos, distando
aproximadamente 20 m um do outro e em cada transecto, foram marcadas dez
unidades experimentais equidistantes de 10 m x 10 m e sub-parcelas de 1 m
x 1 m, sendo amostradas 30 unidades, em cada tratamento, totalizando 90
pontos em toda rea experimental.
As estimativas de CO2 (diurno e noturno) e contedo de gua do solo das
trs reas foram feitas nas 90 sub-parcelas equidistantes 1 m x 1 m
bimestralmente nos anos de 2011 e 2012 (Fevereiro, Abril, Junho, Agosto,
Outubro e Dezembro). Tambm foram selecionados em cada tratamento, seis
pontos de coleta (definidos ao acaso), para determinao da cintica de
liberao de CO2 a cada duas horas no perodo diurno (das 05:00 s 17:00
h).
2.5 Avaliao da Produo de Dixido de Carbono (CO2) por Meio da
Atividade Microbiana
As medidas de CO2 (atividade microbiana) foram realizadas durante 12
horas no perodo diurno (5:00 s 17:00 h) e 12 horas no perodo noturno
(17:00 s 5:00 h), mediante a metodologia descrita por Grisi (1978) em
que o CO2 liberado por uma rea de solo absorvido por uma soluo de
KOH 0,5 N e pela dosagem por titulao com HCl 0,1 N. Foi considerado
como indicador a fenolftalena e o alaranjado de metila a 1%, preparado
segundo Morita e Assumpo (1972). Foi utilizado um frasco controle ou
testemunha que permaneceu hermeticamente fechado e que tambm foi
submetido ao processo de titulao.
A determinao do CO2 absorvido foi realizada a partir das equaes:
ACO2 = (A-B) x 2 x 2,2 em mg
(1)
A'CO2 = ACO2 x (4/3 x 10.000/h + S) em mg m-2 h-2
(2)
em que:
A'CO2 = Absoro de CO2;
A = Diferena, em mL, entre a 1 e a 2 viragem da colorao da amostra;
B = Diferena, em mL, entre a 1 e 2 viragem da colorao do controle ou
testemunha;
h = Perodo de permanncia da amostra no solo (horas);
S = rea de abrangncia do balde.
Para efetuar a medio de CO2 foram distribudos em cada tratamento 30
recipientes de vidro contendo 10 mL de KOH a 0,5 N, totalizando 180
recipientes, sendo 90 no perodo diurno e 90 no noturno. Esses conjuntos
foram cobertos com baldes plsticos com capacidade para 22 L (Figura 4).
Para anlise dos dados de CO2 utilizou-se estatstica descritiva.
Figura 4. Balde utilizado na medio do CO2.
2.6 Coleta das amostras de solo para as determinaes de carbono, matria
orgnica e contedo de gua do solo
As coletas de solo foram feitas bimestralmente na camada superficial de
0-10 cm de profundidade para determinao de contedo de gua do solo (%)
tendo sido acondicionadas em latas de alumnio com peso conhecido e
identificadas.
Para as determinaes de Carbono e Matria orgnica as amostras foram
coletadas na camada superficial de 0-10 de profundidade, tendo sido
realizadas duas coletas, sendo uma no perodo chuvoso e outra no perodo
seco.
Aps coletadas as amostras foram secas sombra e ao ar, destorroadas,
passadas em peneira de malha de 2 mm (Terra Fina Seca ao Ar - TFSA) e
enviadas para anlises no Laboratrio de Solo e Fertilidade da UFPB, para
determinao de carbono (C) e matria orgnica (MO) do solo (g Kg-1)
(EMBRAPA, 1997).
2.7 Carbono e matria orgnica
Para as determinaes do carbono e matria orgnica foram pesados 0,5 g
de solo e inseridos em erlenmeyer de 250 mL. Em seguida, foram
adicionados 10 mL da soluo de dicromato de potssio 0,4 N. Na boca do
erlenmeyer foi inserido funil de vidro, funcionando como condensador.
Posteriormente, o erlenmeyer foi levado placa eltrica para o
aquecimento em fervura branda, durante cinco minutos. Depois de frio,
foram adicionados 80 mL de gua destilada, 2 mL de cido ortofosfrico e
3 gotas do indicador difenilamina, sendo titulado com soluo de sulfato
ferroso amoniacal 0,1 N at que a cor preta cedesse lugar cor verde. O
volume gasto na titulao foi anotado para posterior clculo. Foi feita
uma prova em branco com 10 mL da soluo de dicromato de potssio 0,4 N
(EMBRAPA, 1997).
O clculo da quantidade de carbono orgnico existente na amostra foi
realizado a partir da expresso:
TFSA = 0,06 x V (40 - Va x f) em g Kg-1
(3)
em que:
TFSA = Terra Fina Seca ao Ar;
V = Volume de dicromato de potssio empregado (10 mL);
Va = Volume de sulfato ferroso amoniacal que foi gasto na titulao da
amostra;
f = 40/volume de sulfato ferroso amoniacal que foi gasto na titulao do
branco;
0,06 = Fator de correo, decorrente das alquotas tomadas.
Os valores da matria orgnica contida na amostra foram calculados por
meio da
expresso:
MO = C x 1,724 em g Kg-1
(4)
em que:
MO = Matria orgnica do solo;
C = Carbono orgnico;
1,724 = Fator utilizado por se admitir que na composio mdia do hmus,
o carbono participa com 58%.
2.8 Contedo de gua do solo
As amostras de solo foram acondicionadas em latas de alumnio com peso
conhecido e identificadas, tendo sido pesadas e levadas estufa de
circulao de ar forada, a uma temperatura de 65 C durante um perodo
de 72 horas. Em seguida, foram transferidas para um dessecador at
atingirem a temperatura ambiente e, novamente, foram pesadas e
determinada a percentagem de gua existente.
O clculo do contedo de gua do solo foi determinado de acordo com a
equao:
U%= Pu-Ps x 100%
(5)
Ps
em que:
U = Contedo de gua do solo;
Pu = Peso do solo mido;
Ps = Peso do solo seco.
3 RESULTADOS E DISCUSSO
Constatou-se que a atividade microbiana, avaliada pela quantidade de CO2
desprendido do solo no perodo diurno, apresentou pouca variao entre
tratamentos (Figura 5). Observou-se que o maior desprendimento de CO2
diurno do solo foi na rea I (178,4 mg m-2 h-1) em Fevereiro/2011, o
segundo maior desprendimento foi constatado na rea II (157,0 mg m-2 h-1)
em Abril/2011. A partir de Junho/2011 at Dezembro/2012 a emisso de CO2
entre as trs reas avaliadas tende a se estabilizar, apresentando
valores bem prximos entre os tratamentos. Observou-se que os fatores
climticos contriburam para as alteraes na emisso de CO2, enquanto
que a presena dos animais na rea no interferiu na emisso do CO2 do
solo. Arajo et al. (2009) trabalhando na mesma rea experimental tambm
observou comportamento semelhante entre os tratamentos, ou seja, no
houve grandes variaes.
Figura 5. Fluxos de CO2 diurno do solo (mg m-2h-1), precipitao pluvial
diria (mm), nas reas I (10 animais - 3.200 m2), II (5 animais - 6.400
m2) e III (sem animal) referentes aos anos de 2011 e 2012.
A atividade microbiana avaliada pela quantidade de CO2 desprendido do
solo no perodo noturno apresentou pouca variao entre os tratamentos.
No entanto, no decorrer do ano de 2011 observaram-se picos de variao
(Figura 6). Constatou-se que nas trs reas avaliadas, a liberao do CO2
noturno do solo foi maior na rea II (200,1 mg m-2 h-1) em Junho/2011.
Nos demais meses avaliados em 2011, as reas no apresentaram elevada
variao entre si. No segundo ano de avaliao (2012), nota-se que a
maior variao de CO2 foi em Fevereiro/2012 nas reas I (127,8 mg m-2 h-
1) e III ( 119,8 mg m-2 h-1). Em seguida, se notou que a emisso de CO2
nas trs reas avaliadas apresentou o mesmo comportamento, estando
relacionado tambm com as condies climticas e no com o pastejo dos
animais.
Figura 6. Fluxos de CO2 noturno do solo (mg m-2h-1), precipitao pluvial
diria (mm), nas reas I (10 animais - 3.200 m2), II (5 animais - 6.400
m2) e III (sem animal) referentes aos anos de 2011 e 2012.
Dentre os dois turnos avaliados diurno e noturno houve pouca variao na
emisso de CO2 nos dois anos avaliados com exceo do ms de Junho de
2011, pois no perodo noturno notou-se uma elevao considervel no
desprendimento do CO2 (190 mg m2 h-1) em relao ao perodo diurno (110
mg m2 h-1) (Tabela 2), estando relacionado baixa temperatura neste
perodo, maior teor de matria orgnica no solo e reduo no teor de
umidade aceitvel, proporcionando maior concentrao de O2 no solo. Em
Fevereiro de 2012, ocorreu um leve aumento na emisso de CO2, associado
com a chuva ocorrida neste ms e tambm com a reduo da temperatura do
solo (Tabela 2). Nos demais meses de 2012, notou-se queda na emisso de
CO2, devido baixa cobertura vegetal neste ano, provocada pelos baixos
ndices pluviomtricos (205 mm) em 2012, j que essa microbiota
favorecida pela cobertura vegetal que propicia maior acmulo de material
orgnico, fornecendo maior fonte de nutrientes para o desenvolvimento da
comunidade microbiana (ALVES et al., 2011). A respirao microbiana uma
forma de mensurar a atividade metablica da populao microbiana do solo
(ZIBILSKE, 1994) e sua quantificao depende do estado fisiolgico das
clulas (MOREIRA e SIQUEIRA, 2006).
Tabela 2. Fluxo de CO2 (mg m2 h -1) diurno e noturno nas diferentes
pocas de avaliao, precipitao, contedo de gua no solo (CAS),
temperatura do solo (TS), carbono orgnico total (COT).
Ano (2011)Fluxo de CO2 (mg m2 h-1)Precipitao (mm)*Precipitao (mm)CAS
(%)TS (C)COT (%)DiurnoNoturnoMdiaFevereiro162 11169
9166247,81,514,0831,339Abril139 11161 19150121,80,014,0827,33Junho110
8190 715024,34,85,1924,338,8Agosto103 8133
6111250,00,628,83Outubro103 6111 81040,00,00,5734,33Dezembro109 698
8990,00,00,7937,33Ano (2012)Fevereiro112 8117
9114105,50,02,4333,67Abril100 498 29910,50,02,0231,338,7Junho88 298
39334,33,96,4724Agosto96 693 2941,40,81,5528,67Outubro90 687
2890,00,01,4333,678,5Dezembro94 2100 0970,00,02,0135,67*Precipitao
ocorrida no perodo de trs dias incluindo o dia da coleta; CAS= contedo
de gua no solo; TS = temperatura do solo; COT= carbono total.
Observando-se a atividade microbiana avaliada pela quantidade de CO2
desprendido do solo, constatou-se que entre as trs reas no decorrer dos
dois anos avaliados foram poucas. A evoluo do CO2 do solo na rea I
oscilou entre 86 e 181 mg m-2 h-1 em Outubro/2012 e Fevereiro/2011, na
rea II esta variao ocorreu entre 85 e 166 mg m-2 h-1 correspondendo
tambm aos meses de Outubro/2012 e Fevereiro/2011. J na rea III o menor
valor ocorreu em Agosto/2012 e maior valor em Fevereiro/2011 (93 e 151 mg
m-2 h-1) (Tabela 3). Essas variaes esto fortemente associadas com a
estao chuvosa e seca e consequentemente a umidade do solo ocorrida
entre os meses de Fevereiro/2011 (14,08%), Agosto/2012 (1,55%) e
Outubro/2012 (1,43%). Alves et al. (2006) trabalhando em rea de Caatinga
tambm a maior liberao de CO2 no perodo de maiores precipitaes, onde
esse resultado pode ser atribudo ao contedo de gua no solo que
favoreceu neste perodo a maior atividade microbiana. Para Souto et al.
(2000) a taxa de CO2 resultante da respirao edfica indicadora da
ciclagem de nutrientes nos ecossistemas.
No geral, as maiores emisses de CO2 ocorreram nas reas I e II, em
relao rea III, estando relacionada com os estgios de degradao
avanada que as reas I e II se apresentam em relao rea III. Pereira
et al. (2004) citam que a maior atividade microbiana diante de ambientes
antropizados indica uma resposta da microbiota do solo s condies
adversas. Nesse sentido, vale mencionar que pelas informaes obtidas
mediante o levantamento florstico e fitossociolgico obtido por Arajo
et al. (2012) a rea I e II j eram as mais antropizadas, ou seja, a
vegetao j no era contnua, apresentando falhas, com parte do solo
exposto aos raios solares, que devido s elevadas temperaturas tambm
pode ter exercido influncia sobre a atividade microbiana, resultando nas
maiores quantidades de CO2 liberado.
Tabela 3. Fluxos de CO2 do solo (mg m-2 h-1) nas reas I (10 animais -
3.200 m2), II (5 animais - 6.400 m2) e III (sem animal), referentes aos
anos de 2011 e 2012.
Ano (2011)reasPrecipitao (mm)CAS (%)TS (C)IIIIIIFevereiro181 3166
3151 51,514,0831,33Abril153 28164 7135 20,014,0827,33Junho152
31155 45 144 444,85,1924,33Agosto128 12115 19110
140,00,6028,83Outubro100 0107 9115 30,00,5734,33Dezembro103 2102
15106 30,00,7937,33Ano (2012)Fevereiro124 4101 1117
20,02,4333,67Abril97 197 0103 30,02,0231,33Junho93 891 395
53,96,4724,00Agosto93 298 793 10,81,5528,67Outubro86 185 295
40,01,4333,67Dezembro99 297 395 40,02,0135,67Precipitao ocorrida
no perodo de trs dias incluindo o dia da coleta; CAS= contedo de gua
no solo; TS= temperatura do solo.
A menor atividade microbiana, representada pela menor produo de CO2,
tambm est diretamente relacionada com a umidade do solo. Foi constatado
que os meses de menor liberao de CO2 ocorreram em Junho (24,3 mm),
Agosto (25,00), Outubro (0,0 mm) e Dezembro de 2012 (0,00 mm), onde
praticamente no choveu e a produo de CO2 foi reduzida. Alguns
organismos edficos no resistem s altas temperaturas e contedo de gua
do solo muito baixo, provocando assim a morte desses organismos ou a
paralisao de sua atividade interrompendo os ciclos de transformao de
minerais em nutrientes para as plantas, com evidentes prejuzos s
culturas (ARAJO et al., 2011).
No que diz a produo de CO2 em ambiente de Caatinga os resultados condiz
com as afirmaes de Singh e Gupta (1977), ao mencionarem que a
respirao edfica oriunda da atividade microbiana em regies secas,
encontra-se entre 50 e 200 mg m-2 h1.
Constatou-se que a taxa de CO2, independente dos meses avaliados e dos
tratamentos, apresentou variaes em funo das horas (Figura 7).
No tratamento I observou-se que nos meses de Fevereiro/11, Junho/11,
Agosto/11, Outubro/11, Dezembro/11, Fevereiro/12, Abril/12, Agosto/12 e
Outubro/12 houve aumento linear de CO2 ao longo do tempo, denotando que a
atividade microbiana foi aumentando medida em que as horas foram
passando, com maior incremento s 17:00 h. Nos meses Abril/11, Junho/11 e
Dezembro/11 em algum momento durante as 10 horas de avaliao a emisso
de CO2 tendeu a reduzir, porm acompanhada de picos de elevao. No
tratamento II a liberao de CO2 aumentou de forma linear nos meses de
Abril/11, Outubro/11, Dezembro/11, Fevereiro/12, Abril/12, Junho/12,
Agosto/12 e Outubro/12 aumentando o desprendimento com o decorrer das
horas. Com exceo de Junho/11, nos demais meses verificou-se uma
tendncia reduo no desprendimento de CO2 a partir das 15:00 h. No
tratamento III, os meses de Abril/11, Junho/11, Agosto/11 e Dezembro/11
observou-se uma queda no desprendimento de CO2 s 15:00. De acordo com
Souto et al. (2009), h indicativo de que os microrganismos aumentam sua
atividade entre 40 e 45 C na regio semirida e quando alcanam valores
prximos aos 50 C h inibio da atividade microbiana e,
consequentemente, menor produo de CO2. Nos meses de Fevereiro/11 e
Junho/12 houve um efeito linear com desprendimento de CO2 com o decorrer
das horas de avaliao. Para os meses de Outubro/11, Fevereiro/12,
Abril/12, Agosto/12, Outubro/12 e Dezembro/12 a mxima emisso de CO2
ocorreu s 15:00h, seguida de estabilizao. Desse modo, a estabilizao
do CO2 nas horas de temperaturas extremas possivelmente tenha resultado
de inibio da atividade microbiana, sendo uma resposta dos
microrganismos s condies reinantes do ambiente (ARAJO et al., 2011).
Figura 7. Evoluo do CO2 nas reas I (10 animais - 3.200 m2), II (5
animais - 6.400 m2) e III (sem animal), no perodo de 12 horas, em So
Joo do Cariri - PB, ano de 2011 e 2012.
No geral, essas variaes nas emisses de CO2 decorreram de variaes no
contedo de gua do solo e da temperatura, com tendncia a maiores perdas
nos horrios mais quentes. Isso devido ao fato de a maioria dos
microrganismos do solo se adaptar bem a temperaturas mais elevadas
(Trevisan et al., 2002), caracterstica peculiar da regio semirida
(Figura 7).
Observou-se que no houve grandes flutuaes nas emisses de CO2 nos
diferentes horrios nos dois anos avaliados, com a menor atividade
microbiana s 7:00 h, com 18,04 e 14,62 mg m-2 h-1, respectivamente,
quando a temperatura do solo (31 C) e (37 C) (Figura 8). As maiores
liberaes foram constatadas s 17:00 h (84,75 mg m-2 h-1) em 2011,
quando a temperatura do solo foi 37 C, em 2012 (94,23 mg m-2 h-1),
quando a temperatura do solo foi 24 C.
Figura 8. Evoluo mdia horria de CO2 em funo do tempo e da
temperatura do solo, das 7 s 17 h, em So Joo do Cariri, PB, ano 2011
(A) e 2012 (B).
4 CONCLUSES
Eventos de chuva, mesmo na estao seca, proporcionaram o aumento da
perda de CO2 do solo;
O pastejo de caprino, nas lotaes utilizadas nesta pesquisa, no provoca
modificaes no solo que possam alterar a emisso do CO2 do solo;
A evoluo de CO2 varia ao longo do dia em razo dos elementos
meteorolgicos, principalmente temperatura;
A taxa de liberao de CO2 aumenta no final da tarde.
5 REFERNCIAS
ANDRADE, A. P.; SILVA, D. S.; BRUNO, R.L.; et al. Paradigmas do uso
sustentvel da Caatinga para a produo de pequenos ruminantes. In:
Congresso Nordestino de Produo Animal, 2012, Macei. Anais..., Macei:
Centro cultural e de exposies Ruth Cardoso, 2012.
ALVES, A.R.; SOUTO, J.S.; SANTOS, R.V. et al. Decomposio de resduos
vegetais de espcies da Caatinga, na regio de Patos, PB. Revista
Brasileira de Cincias Agrrias, v.1, n.1, 2006, p.57- 63.
ALVES, T.S.; CAMPOS, L.L.; ELIAS NETO, N.E. et al. Biomassa e atividade
microbiana de solo sob vegetao nativa e diferentes sistemas de manejos.
Acta Scientiarum. Agronomy, v.33, n.2, p.341-347, 2011.
ARAJO, K.D.; DANTAS, R.T.; ANDRADE, A.P. et al. Cintica de evoluo de
dixido de carbono em rea de Caatinga em So Joo do Cariri-PB. Revista
rvore, v.35, n.5, p.1099-1106, 2011.
ARAJO, K.D.; PARENTE, H.N.; CORREIA, K.G. et al. Influncia da
precipitao pluvial sobre a mesofauna invertebrada do solo em rea de
Caatinga no semirido da Paraba. Geoambiente On-line, v.12, p.1-12,
2009.
ARAJO, K.D.; PARENTE, H.N.; DER - SILVA, E.et al. Estrutura
fitossociolgica do estrato arbustivo-arbreo em reas contguas de
Caatinga no Cariri Paraibano. Brazilian Geographical Journal, v.3, n.1,
p.155-169, 2012.
CALGARO, H.F.; CASSIOLATO, A.M.; VALRIO FILHO, W.V. et al. Resduos
orgnicos como recondicionante de subsolo degradado e efeitos na
atividade microbiana e fertilidade em cultivo de barbatimo. Revista
rvore, v.32, n.6, p.1069-1079, 2008.
CAPUANI, S.; RIGON, J.P.G.; BELTRO, N.E.M. et al. Atividade microbiana
em solos, influenciada por resduos de algodo e torta de mamona. Revista
Brasileira Engenharia Agrcola Ambiental, v.16, n.12, p.1269-1274, 2012.
D'ANDREA, A.F.; SILVA, M.L.N.; FREITAS, D.A.F. et al. Variaes de curto
prazo no fluxo e variabilidade espacial do CO2 do solo em floresta
nativa. Pesquisa Florestal Brasileira, v.30, n.62, p.85-92, 2010.
EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos. Manual de mtodos de
anlise de solos. 2 ed. Revista atual. Rio de Janeiro, 1997. 212p.
(EMBRAPA - CNPS. Documentos 1).
FAO. State of the World's Forests 2007. Disponvel em: HYPERLINK
"http://www.fao.org" http://www.fao.org . Acesso em 02 de agosto de
2013.
GRISI, B.M. Mtodo qumico de medio de respirao edfica: alguns
aspectos tcnicos. Cincia e Cultura, v.30, n.1, p.82-88, 1978.
IBGE-INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA- 2004. Mapa de
Biomas e de Vegetao. Disponvel em: HYPERLINK "http://www.ibge.gov.br"
http://www.ibge.gov.br . Acessado em: 05/03/13.
MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioqumica do solo.
Lavras: UFLA, 2006.
MORITA, T.; ASSUNPO, R.M.V. Manual de solues, reagentes e solventes.
So Paulo: Edgard Blucher Ltda, 1972. 629p.
NSABIMANA, D.; KLEMEDTSON, L.; KAPLIN, B.A. et al. Soli CO2 flux in six
monospecific forest plantations in Southern Rwanda. Soil Biology and
Biochemistry, v.41, p.396-402, 2009.
PARENTE, H.N.; MAIA, M.O. Impacto do pastejo sobre a compactao dos
solos com nfase no Semirido. Revista Trpica - Cincias Agrrias e
Biolgicas, v.5, n.3, p.3, 2011.
PEREIRA, S.V.; MARTINEZ, C.R.; PORTO, E.R. et al. Atividade microbiana em
solo do semirido sob cultivo de Atriplex nummularia. Pesquisa
Agropecuria Brasileira, v.39, n.8, p.757-762, 2004.
SANTOS, S.A.; CORREIA, M.F.; ARAGO, M.R.S. et al. Anlise das trocas de
gua, energia e CO2 em rea de Caatinga: perodo mido. Cincia e Natura.
v. Especial, p.147-150, 2011.
SANTOS, S.A.; CORREIA, M.F.; ARAGO, M.R.S. et al. Aspectos da
variabilidade sazonal da radiao, fluxos de energia e co2 em rea de
Caatinga. Revista Brasileira de Geografia Fsica, v.5, n.4, p.761-773,
2012.
SOUTO, P.C. Acumulao e decomposio de serrapilheira e distribuio de
organismos edficos em rea de Caatinga na Paraba, Brasil. 2006. 150p.
Tese (Doutorado em Agronomia) - Centro de Cincias Agrrias, Universidade
Federal da Paraba, Areia - PB.
SOUTO, P.C.; BAKKE, I.A; SOUTO, J.S. et al. Cintica da respirao
edfica em dois ambientes distintos no Semirido da Paraba, Brasil.
Revista Caatinga, v.22, n.3, p.52-58, 2009.
TEDESCO, J.M.; VOLKWEISS, S.J. BOHNEN, H. Anlises do solo, plantas e
outros materiais. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do
Sul, 1995. 188p. (Boletim Tcnico).
TREVISAN, R.; MATTOS, M.L.T.; HERTER, F.G. Atividade microbiana em
argissolo vermelhoamarelo distrfico tpico coberto com aveia preta
(Avena sp.) no outono, em um pomar de pessegueiro. Cientfica Rural, v.7,
n.2, p.83-89, 2002.
TSAI, S.M.; CARDOSO, E.J.B.N.; NEVES, M.C.P. Microbiologia do solo.
Campinas: Sociedade Brasileira de Cincia do Solo, 1992. 360p.
VELSQUEZ, E.; LAVELLE, P.; ANDRADE, M. GISQ. A multifunctional indicator
of soil quality. Soil Biology and Biochemistry, v.12, n.39, p.3066-3080,
2007.
WARDLE, D.A.; GHANI, A. Why is the strength of relationships between
pairs of methods for estimating soil microbial biomass often so variable?
Soil Biology and Biochemistry, v.27, n.6, p.821-828, 1995.
ZIBILSKE, L.M. Carbon mineralization. In: WEAVER, R. W.; SCOTT, A.;
BOTTOMLEY, P.J. (Ed.). Methods of soil analysis: microbiological and
biochemical properties. Madison: Soil Science Society of America, 1994.
p.10-35. (Special Publication 5).
CAPITULO IV
Comportamento ingestivo de caprinos criados a pasto em Caatinga
COMPORTAMENTO INGESTIVO DE CAPRINOS CRIADOS A PASTO EM CAATINGA
Resumo: Pelo custo e pela estacionalidade de produo das forragens, o
estudo do comportamento ingestivo torna-se um meio importante para
avaliar a resposta do animal, particularmente com caprinos, pois h pouco
conhecimento sobre a forma como se alimentam em reas de Caatinga em
diferentes pocas do ano. O objetivo do trabalho foi avaliar o hbito
alimentar e comportamental de caprinos na Caatinga em trs perodos de
avaliao chuvoso, transio (chuvoso-seco) e seco. O experimento foi
desenvolvido na Estao Experimental pertencente UFPB em So Joo do
Cariri. Foram selecionados aleatoriamente seis caprinos machos de duas
reas. A rea estudada compreende 3,2 ha. A avaliao dos animais foi
feita por meio de observao visual e ininterrupta. O delineamento
experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em um arranjo
fatorial 6 x 3 (animais x perodos) com trs repeties. As mdias foram
submetidas ao Teste de Tukey a 5%. Na estao chuvosa os caprinos
submetidos ao pastejo extensivo na Caatinga dispensaram
Você também pode gostar
- Atividade CitoesqueletoDocumento5 páginasAtividade CitoesqueletoLuiza FormigaAinda não há avaliações
- Experimento 4Documento2 páginasExperimento 4Emmanuel Quiroz0% (1)
- Esterilização ExercíciosDocumento12 páginasEsterilização ExercíciosAnonymous xauweRn4w100% (1)
- 4 Vetebrados PDFDocumento62 páginas4 Vetebrados PDFLuiza FormigaAinda não há avaliações
- Apostila Homilética PDFDocumento30 páginasApostila Homilética PDFLuiza Formiga50% (2)
- Introdução A Microbiologia Ambiental PDFDocumento9 páginasIntrodução A Microbiologia Ambiental PDFLuiza Formiga100% (1)
- Apostila Biologia Cefet-Coltec 5Documento30 páginasApostila Biologia Cefet-Coltec 5andreharvardeeduAinda não há avaliações
- Cap. de Revisão de LiteraturaDocumento105 páginasCap. de Revisão de LiteraturaLuiza FormigaAinda não há avaliações
- Dnit 094 2014 emDocumento10 páginasDnit 094 2014 emcelsoAinda não há avaliações
- ViscosimetroDocumento18 páginasViscosimetrovicentcAinda não há avaliações
- Métodos Objetivo Da Atividade FísicaDocumento47 páginasMétodos Objetivo Da Atividade FísicaPaulo Ricardo MedeirosAinda não há avaliações
- Toxicologia Dos MetaisDocumento10 páginasToxicologia Dos MetaisFlávia Farias NolascoAinda não há avaliações
- 0006.1242144.3300.pt - MSDS UADocumento7 páginas0006.1242144.3300.pt - MSDS UAmarcusrxavierAinda não há avaliações
- Calorimetria-Atividades2 Resolvidas Da pg7 - CópiaDocumento7 páginasCalorimetria-Atividades2 Resolvidas Da pg7 - CópiaRomario Fernanda SantiagoAinda não há avaliações
- Questoes Quimica SimDocumento10 páginasQuestoes Quimica SimLucciana SilvaAinda não há avaliações
- Fisiologia e Bioqu Mica de SementesDocumento36 páginasFisiologia e Bioqu Mica de SementesCristiano de Souza MarchesiAinda não há avaliações
- Gestão Da Segurança Química em Ambientes IndustriaisDocumento50 páginasGestão Da Segurança Química em Ambientes IndustriaisEymard De Meira BredaAinda não há avaliações
- BanjoPortugueseCatalog PDFDocumento188 páginasBanjoPortugueseCatalog PDFCaioAinda não há avaliações
- Compostos FenólicosDocumento1 páginaCompostos FenólicosBruna SofiaAinda não há avaliações
- Lista de Fenômenos de Transporte 2Documento1 páginaLista de Fenômenos de Transporte 2Bielly Yohanne Da Costa PereiraAinda não há avaliações
- 18 Travas e Vedantes QuimicosDocumento7 páginas18 Travas e Vedantes QuimicosJhonatan FernandesAinda não há avaliações
- Materiais MagnéticosDocumento19 páginasMateriais MagnéticosVenturielso VenturaAinda não há avaliações
- NBR 7346 (Abr 1982) - Limpeza de Superfícies de Aço Com Ferramentas ManuaisDocumento2 páginasNBR 7346 (Abr 1982) - Limpeza de Superfícies de Aço Com Ferramentas ManuaisYuri Bahia de Vasconcelos0% (1)
- Protocolo Da Actividade ExperimentalDocumento2 páginasProtocolo Da Actividade ExperimentalNuno Miguel Beltrao Marques100% (2)
- Processadora Lotus Vs45xDocumento33 páginasProcessadora Lotus Vs45xPatriciaAraujoAinda não há avaliações
- Evaporação Múltiplo Efeito Teoria e Exemplo (Modo de Compatibilidade)Documento56 páginasEvaporação Múltiplo Efeito Teoria e Exemplo (Modo de Compatibilidade)Stephania Rezende100% (1)
- Fitag Ficha Tecnica Alcool Gel Zupp 515181111Documento1 páginaFitag Ficha Tecnica Alcool Gel Zupp 515181111Dex SilvaAinda não há avaliações
- Refrigeração Domiciliar 01Documento97 páginasRefrigeração Domiciliar 01João Lobo100% (1)
- Relatorio Bueda Slay3.0Documento13 páginasRelatorio Bueda Slay3.0Leonor Pinto VieiraAinda não há avaliações
- Ácido - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento7 páginasÁcido - Wikipédia, A Enciclopédia LivreEliasjose DacostaAinda não há avaliações
- Apostila Prática 2 - PCRDocumento4 páginasApostila Prática 2 - PCRJéssica N. CostaAinda não há avaliações
- Fispq Rapfloc 30 Revisao 2Documento6 páginasFispq Rapfloc 30 Revisao 2Alexandre Correia GrandãoAinda não há avaliações
- Cloridrato de DoxepinaDocumento1 páginaCloridrato de DoxepinacelmorcelliAinda não há avaliações
- Lubrificação Ind.Documento18 páginasLubrificação Ind.ildoAinda não há avaliações
- Tam Bore Amen ToDocumento37 páginasTam Bore Amen ToRoque Luiz GobboAinda não há avaliações
- Formas de Propagação Do Calor RespostaDocumento3 páginasFormas de Propagação Do Calor RespostaSandre Celia Dias GuedesAinda não há avaliações