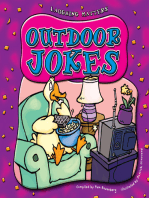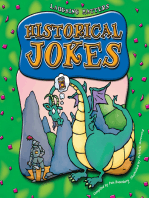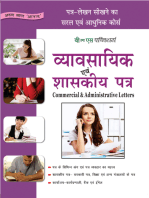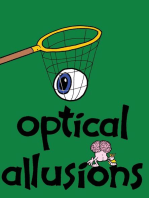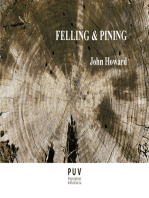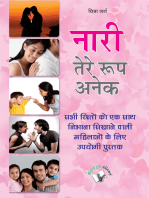Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Oqueler1 2
Oqueler1 2
Enviado por
Pedro FelizesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Oqueler1 2
Oqueler1 2
Enviado por
Pedro FelizesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
6 D > ? < ?
8 : 2 3 B 2 C : < 6 : B 2
|duardc Vitcircs dc Cas |rc
: 5 6 ? < ? 8 : 2 5 2 6 D > ? < ? 8 : 2 3 B 2 C : < 6 : B 2
O oljelivo do piojelo As Cincias Sociais no iasiI: Ten-
dncias e Ieispeclivas no e una avaIiao inslilucionaI cias
cincias sociais liasiIeiias, e sin un laIano leiico. Ao enqua-
diai a discusso en leinos de elnoIogia (inslilucionaInenle)
liasiIeiia, poien, eIe suscila poi foia quesles iefeienles as
pailicuIaiidades da discipIina laI cono pialicada no pas, sua
dependncia de paiadignas foinuIados no exleiioi e oulios
assunlos conexos, que exigen un lialanenlo difeienle de un
sinpIes 'eslado da aile.
0 quc sc cn|cndc pcr 'c|nc|cgia orasi|cira? Lsla peigunla no se
iefeie aqui ao iecoile enpiico convencionado, nas define o
oljelo nesno do piesenle ailigo, que e a ideia de una elnoIogia
liasiIeiia. Iaia iespondei a eIa, sei necessiio lecei aIgunas
consideiaes solie a naluieza e a quaIidade da pioduo
elnoIgica nacionaI, no se liala, conludo, de apieciai sulslanli-
vanenle a conliiluio dos esludos solie os povos indgenas no
1 1 O
L D U A R D O V I V L I R O S D L CA S T R O
iasiI (ou nais piecisanenle, na Aneiica do SuI) a leoiia anlio-
poIgica1. No se liala, lanpouco, de una socioIogia do canpo
inleIecluaI, ou de una anliopoIogia cia anliopoIogia. Lsses no-
dos de anIise exigen laIenlos (e goslos) que ne faIlan, e caleii-
an neIhoi a pailes nenos inleiessadas que eu. A enlocaduia
escoIhida e de oulia oiden, aIgo cono una 'epislenoIogia poI-
lica da elnoIogia feila no pas, pois a ideia de una elnoIogia
liasiIeiia esl na oiigen de una ideoIogia da elnoIogia liasiIeiia
~una ideoIogia liasiIeiia da elnoIogia - cujas oiigens e inpIica-
es neiecen una discusso.
Lslaiei apioveilando esla ocasio, poilanlo, paia lonai pai-
le e pailido en un delale que poIaiizou giandes exlenses do
neio elnoIgico nos Ilinos liinla anos. A despeilo de lei peidi-
do aIgo de sua peilinncia oljeliva (ou laIvez juslanenle poi
isso), esse delale no paiece pixino de peidei sua candncia
poIlica na acadenia naliva, ao conliiio do que eu aciedilava e,
no sen olinisno, pieviia (Viveiios de Caslio, 1992, 1 9 9 5 , 1996a).
Con efeilo, un iecenle alaque a elnoIogia aneiicanisla conlen-
poinea (OIiveiia I, 1998), en que se piope, enlie oulias leses,
una viagen de voIla aos anos douiados da anliopoIogia liasiIei-
ia ~ as decadas de 5O e 6O ~, Ievou-ne a concIuii que, se o
delale solie a elhnoIogy iaziIian slyIe (Ranos, 199Oa) pode
no ofeiecei nais nuilo inleiesse, conlinua enlielanlo a ieveIai
ceilos inleiesses.
2 8B 2 >5 6 5:76B6>^2
O delale a que eslou ne iefeiindo ope duas concepes do
oljelo da elnoIogia. LIe foi iecenlenenle quaIificado de ciso
que evilanos aloidai, na veidade un divisoi de guas enlie dois
1. AIgo que j fiz, paia aspeclos especficos da pioduo na iea, en pulIica-
es anleiioies: Viveiios de Caslio, 1992, 1993a, 1993l, 1995, 1996a.
L T N O L O C I A R A S I L L I R A
nodos dislinlos de consliuii o conhecinenlo solie as sociedades
indgenas e o desenvoIvinenlo sociaI (A. Lina, 1998: 263). TaI
ciso oi) divisoi dislinguiiia duas giandes veilenles dos esludos
anliopoIgicos solie popuIaes indgenas, senpie nencionadas
peIos conenladoies e cIassificadoies da pioduo inleIecluaI, e as
vezes ioluIadas de c|nc|cgia c|4ssica e c|nc|cgia dc ccn|a|c in|crc|nicc.
LIas so assin caiacleiizadas peIo auloi j|cc. ci|.).
U n a jx elnoIogia cIssicaj depuiada de con pion issos con a adni-
nisliao plIica, voIlada puianenle paia o desvendanenlo das 'dinen-
ses inleinas da vida dos povos indgenas, oulia |a escoIa do conlalo
inleielnicoj 'descendenle diiela de pieocupaes adninislialivas, via Diicy
Rileiio, Lduaido CaIvo e Roleilo Caidoso de OIiveiia, en suas passa-
gens peIo spi, na piesena en inslncias con o o cnpi, voIlada sonenle
paia o esludo das inleiaes con a 'sociedade nacionaI elc.
Lina hesila enlie vei laI dicolonizao do canpo cono
expiesso de una oposio leiica ieaI ~na veidade un divisoi
de guas enlie dois nodos dislinlos de consliuii o conhecinen-
lo ~ou cono neia inagen (eiinea, supe-se) piofundanen-
le aiiaigada no senso conun anliopoIgico liasiIeiio, opo
adolada na passagen acina, de lon deIileiada e equaninenenle
dislanciado2. O auloi len iazo en hesilai, pois eIa e piovaveI-
nenle anlas as coisas, e nenhuna deIas. L piovveI lanlen que
laI peicepo duaIisla ienda nais en anlienles cono o Museu
NacionaI ou a Un do que na USI, poi exenpIo. No Museu
NacionaI das duas Ilinas decadas, o suiginenlo de una Iinha
sislenlica de pesquisa en 'elnoIogia cIssica en paiaIeIo a ciis-
laIizao de una vaiianle fundanenlaIisla da escoIa do 'conlalo
2. No lo dislanciado assin, pois o auloi assunii con cIaieza o pailido de
un dos dois nodos dislinlos de consliuii o conhecinenlo solie as socie-
dades indgenas c c dcscntc|tincn|c sccia| (giifo neu). A un elnIogo 'cIssi-
co ceilanenle no ocoiieiia nencionai una 'leoiia do desenvoIvinenlo
sociaI cono paile do equipanenlo anaIlico da discipIina.
1 1 2
L D U A R D O V I V L I R O S D L CA S T R O
inleielnico loinou laI dislino especiaInenle sensveI, e nesno
nais acenluada, con o coiiei dos anos.
Ln lenefcio dos inpiovveis Ieiloies no-elnIogos (ou
disliados) desle ailigo, escIaieo que sou una das encainaes
aluais da 'elnoIogia cIssica naqueIa insliluio, e que poi 'vaii-
anle fundanenlaIisla da oulia liadio iefiio-ne ao lialaIho de
}. Iacheco de OIiveiia I e seus discpuIos3. Lslou cienle de que
essa vaiianle no se idenlifica nais con as leoiias da 'siluao
coIoniaI ou da 'fiico inleielnica, das quais, enlielanlo, ieco-
nheceu-se iecenlenenle caudaliia (OIiveiia I, 1998: 56). LIa
piiviIegia agoia conceilos cono 'elnicidade, 'inveno da liadi-
o, 'leiiiloiiaIizao elc., e ieivindica aulo-defnies nais va-
gas e anliciosas, cono 'anliopoIogia hisliica ;cp. ci|.. 69). Mas
cono a laI lluIo no faIlan pielendenles de oulias e nuilo di-
veisas oiigens leiicas, a naioiia deIas peifeilanenle cIssica,
conlinuaiei a ne iefeiii as vaiianles aluais daqueIa liadio peIas
expiesses geneiicas 'leoiia do conlalo ou 'escoIa conlaluaIisla.
Seiia ceilanenle laiiiisno pielendei que a ciso que evila-
nos aloidai possua a nesna piegnncia ou saIincia en escaIa
nacionaI. Islo poslo, o falo de eIa se nanifeslai con nais vigoi en
ceilos conlexlos e peiodos no a ieduz a una oposio puianen-
le IocaI e conjunluiaI, e o falo de sei ideoIgica no a loina una
oposio iIusiia. Resla salei o que a dicolonia expiine efeliva-
nenle, e quais as Iies geiais que se poden exliaii deIa.
Nole-se a giande difeiena que exisle no esludo de giupos
indgenas quando se os concele cono si|uadcs no iasiI, ou quando
se os conpieende cono par|c do iasiI. Lsla olseivao de
Maiiza Ieiiano (1992: 73) no indica apenas una giande difeien-
a enlie as nuilas piesenles en nossa discipIina, eIa ieveIa, a
neu juzo, a giande difeiena que aliavessa e oiganiza o canpo
3. A quaI se fiIia (nas con una agenda pipiia) A. C. Souza Lina, o auloi
oia conenlado.
L T N O L O C I A R A S I L L I R A
1 1 3
de esludos indgenas, coilando, poi assin dizei, a pipiia noo
de 'elnoIogia liasiIeiia peIo neio: h os que fican con o suls-
lanlivo, e h os que fican con o adjelivo.
A finuIa de Ieiiano ienele a seus fundanenlos un duaIisno
que oulios conenladoies (e a pipiia auloia, en oulios nonen-
los) expiiniian de nodo nenos feIiz, associando-o a poIaiidades
cIassificaliias duvidosas: foco nas 'dinenses inleinas das socie-
dades indgenas tcrsus foco nos piocessos de 'conlalo inleielnico,
pesquisadoies 'esliangeiios ts. 'nacionais, 'elnoIogia cIssica ts.
'elnoIogia engajada e oulias oposies seneIhanles. Duianle loa
paile do peiodo en exane, a grandc difcrcna idenlificada poi Ieiiano
foi alivanenle piojelada solie (e poilanlo ocuIlada poi) essas po-
Iaiidades, no inleiesse da faliicao de una inagen noinaliva da
'elnoIogia liasiIeiia: poIilizada, conpionelida con a Iula indge-
na, pieocupada con a consliuo da sociedade nacionaI, anlicoIo-
niaIisla, piocessuaIisla, naleiiaIisla, hisliica, diaIelica e oulias lanlas
viiludes. Do oulio Iado eslaiia una ceila anliopoIogia neliopoIi-
lana e seus agenles nalivos, nenlaInenle coIonizados e poilanlo
coIoniaIislas, esciavos de paiadignas suspeilos - paiadignas
essenciaIislas, naluiaIizanles, exolislas e nais una enfiada de peca-
dos poIdco-epislenoIgicos4.
Vou conleslai aqueIas poIaiidades acionadas nas Iulas de
cIassificao acadnicas, aigunenlando que eIas so
equivocanenle sinpIislas, ou eslo oljelivanenle supeiadas, ou
senpie foian neianenle faIsas. Isso no significa que iecuso o
duaIisno que Ihes e suljacenle: no s o iepulo nuilo ieaI, cono
penso sei eIe una esliuluia de Ionga duiao da anliopoIogia
liasiIeiia. Vou ieafiinai laI conliasle, nas vou ao nesno lenpo
defendei una inveiso das aliiluies de vaIoi enlie as 'duas
elnoIogias. Una vez que se ieliaan as oposies enlie eIas ale
4. Cono a de Lina, esla caiacleiizao das duas elnoIogias liasiIeiias e una
caiicaluia: eIa piocuia juslanenle expIicilai una iepiesenlao caiicaluiaI
coiienle no colidiano da acadenia naliva.
1 1 4
L D U A R D O V I V L I R O S D L CA S T R O
a aIleinaliva foinuIada poi Ieiiano, fica nais cIaio o que esl
ieaInenle en jogo.
B?D2^h? 56 @6BC@64D:F2
A 'giande difeiena, disse eu acina, ienele a una esliuluia
de Ionga duiao no canpo elnoIgico. Con efeilo, eIa havia
sido cIaianenle peicelida, nais de quaienla anos alis, poi un
dos fundadoies da elnoIogia 'cIssica no iasiI (e que foi lan-
len un dos inspiiadoies da 'elnoIogia do conlalo). IIoieslan
Ieinandes, en un ceIelie ailigo cilico, evocava as expIicaes
hisliico-cuIluiais enlo en voga solie a coIonizao e indicava
una aIleinaliva de giande inpoilncia paia a liajeliia uIleiioi
da discipIina:
A hiplese |de CiIleilo Iieyiej de que os faloies dinnicos do pio-
cesso de coIonizao e, poi consequncia, do de desliilaIizao, se inscie-
vian na ilila de infIuncia e de ao dos liancos, seiia a nica elnogiafi-
canenle ieIevanle` No seiia necessiio eslaleIecei una iolao de peis-
pecliva, que peinilisse encaiai os nesnos piocessos do nguIo dos falo-
ies dinnicos que opeiavan a pailii das insliluies e oiganizaes sociais
indgenas` (|1956-57j 1975: 128).
A peilinncia dessas peigunlas vai aIen do desafio hislii-
co que IIoieslan idenlificava: conpieendei a dinnica de in-
pIanlao do sislena coIoniaI nos secuIos iniciais da invaso eu-
iopeia~nesno poique lais piocessos no eslo esgolados e, sol
aIguns aspeclos (a 'desliilaIizao), no paiecen caninhai na
diieo enlo visla cono inexoiveI. Vai lanlen aIen do desa-
fio inleIecluaI con que IIoieslan se idenlificava: consliuii una
elnoIogia univeisiliia ieIalivanenle aulnona fienle as expecla-
livas ideoIgicas das canadas diiigenles ~ nesno poique laI
aulononia sei senpie, e poi vezes nuilo, ieIaliva. As peigunlas
so peilinenles poique eIas indican un diIena apaienlenenle
L T N O L O C I A R A S I L L I R A
1 1 5
consulslanciai a una discipIina cuja condio de possiliIidade e
o falo da ailicuIao hisliica enlie ndios e liancos. Ou len a
elnoIogia, conscienle de que laI ailicuIao e un piocesso de
doninao coIoniaI, define seu oljelo cono ccns|i|uidc hisliica,
poIlica e leoiicanenle peIa doninao, e poilanlo sua laiefa
cono sendo a de cailogiafai ciilicanenle laI consliluio (con
os oIhos en una fuluia ieconsliluio nenos desfavoiveI aos
ndios), ou len, luscando a peispecliva das insliluies e oiga-
nizaes sociais indgenas, eIa concIui que, Ionge de eslaien
uniIaleiaInenle engIoladas peIa siluao coIoniaI, essas esliulu-
ias lonan laI siluao cono un ccn|cx|c dc cfc|uaac enlie oulios,
e assin a exliapoIan de nIlipIas foinas, que cale a elnoIogia
conpieendei (de nodo a vaIoiizai as possiliIidades indgenas de
'coIonizao do coIoniaIisno).
Mas liala-se ieaInenle de un diIena elnoIgico` Ou eIe
no esl, na veidade, indicando a giande difeiena enlie o pon-
lo de visla da anliopoIogia e una aloidagen aIheia ao nanda-
lo epislenoIgico dessa discipIina` Iois a escoIha, en Ilina
anIise, e enlie una peispecliva cenliada no pIo coIoniaI, una
sccic|cgia dc orasi| indigcna (Caidoso de OIiveiia, 1978) que lona
os ndios cono paile do iasiI, e una peispecliva cenliada no
pIo nalivo, voIlada paia a consliuo de una veidadeiia sccic-
|cgia indigcna, islo e, una anliopoIogia dos ndios siluados no
iasiI. A aIleinaliva e cIaia: ou se lonan os povos indgenas
cono ciialuias do oIhai oljelivanle do Lslado nacionaI, dupIi-
cando-se na leoiia a assineliia poIlica enlie os dois pIos, ou
se lusca deleininai a alividade piopiianenle ciiadoia desses
povos na consliluio do 'nundo dos liancos cono un dos
conponenles de seu pipiio nundo vivido, islo e, cono nale-
iia-piina hisliica paia a 'cuIluia cuIluianle dos coIelivos ind-
genas. A segunda opo paiece-ne a nica opo ~se o que se
deseja fazei e anliopoIogia indgena. L lvio que se poden
esludai os ndios sol oulias peispeclivas, a anliopoIogia no
1 1 6
L D U A R D O V I V L I R O S D L CA S T R O
len diieilos de excIusividade solie essa ou quaIquei oulia fia-
o da hunanidade. O piolIena s conea quando se pielende
sulsliluii gIolaInenle a aloidagen dislinliva e a agenda vaiia-
da da elnoIogia poi una douliina nonoIlica que lona o 'conla-
lo inleielnico cono pedia fiIosofaI da discipIina.
k B 6 2 56 7B:4^h? :>D6B6D>m<?8:42
A aIleinaliva e cIaia paia nin, nas essa no e, con ceileza,
a opinio doninanle. Ao conliiio, eslina-se que a piincipaI
caiacleislica da anliopoIogia liasiIeiia e, juslanenle, sua pieo-
cupao con a sociedade nacionaI (Ciepeau, 1995: 142~143,
que avaIiza a olseivao con una Ionga Iisla de auloiidades).
No caso dos esludos indgenas, isso significa que nossa anliopo-
Iogia leiia se dislinguido poi no dissociai a invesligao dos
giupos liilais do conlexlo nacionaI en que eslo inseiidos (Cai-
doso de OIiveiia, 1988: 154, en Ciepeau cp. ci|. 143). Lslanos
faIando, e cIaio, da leoiia do conlalo inleielnico, que j se disse
sei lhe liadenaik o f iaziIian elhnoIogy (Ranos, 199Oa: 21),
e nesno a conliiluio leiica nais oiiginaI liazida ale hoje
peIa anliopoIogia liasiIeiia (Zaiui, 1976: 6, vei lanlen Ieiiano,
1998: 118-119).
Mas, enlie sei a piincipaI caiacleislica e sei a conliiluio
leiica nais oiiginaI, vai una ceila dislncia. O que e 'caiacleiis-
licanenle liasiIeiio na anliopoIogia liasiIeiia pode no sei o
que e anliopoIogicanenle nais oiiginaI, ou sequei nais caiacle-
iislicanenle anliopoIgico. A fiase de Ciepeau, solie a anliopo-
Iogia liasiIeiia en geiaI, e neulia quanlo a isso, j a de Caidoso
quei nilidanenle naicai un ponlo a favoi de nossa elnoIogia.
Nole-se, enlielanlo, a exala foinuIao da segunda: os 'giupos
liilais eslo inseiidos no conlexlo nacicna|. Islo e, eIes so par|c
dc ccn|cx|c da sociedade nacionaI, 'inseiidos ('encapsuIados, di-
L T N O L O C I A R A S I L L I R A
1 1 7
io oulios) cono eslo en un conlexlo que os engIola e expIi-
ca. Ln lioca, paia a elnoIogia que concele os ndios cono silua-
dos no iasiI, se aIgo e paile de aIguna coisa, s pode sei o
'iasiI que e paile das sociedades indgenas: paile, juslanenle,
do conlexlo dc|as, islo e, de sua 'siluao hisliica. Quando se
esluda una sociedade indgena, con efeilo, e pieciso no se dei-
xai inpiessionai peIas evidncias da piesena da sociedade coIo-
nizadoia, nas apieend-Ia a pailii do conlexlo indgena en que
eIa esl inseiida e que a deleinina cono laI.
A concepo que, no juslo dizei de Ieiiano, ccnprccndc os
ndios cono 'paile e paile, eIa pipiia, anles de una socioIogia
poIlica (no Iinile, adninislialiva) do iasiI que da anliopoIogia
indgena. A exlensa Iinha de invesligao deiivada dessa concep-
o liouxe apoiles pieciosos paia o enlendinenlo dos piocessos
de sujeio das sociedades indgenas peIa sociedade invasoia ~o
que aunenlou, en pailicuIai, nossa conpieenso desla Ilina,
eniiquecendo a hisloiiogiafia e a socioIogia nacionais. Ioi oulio
Iado, suas conliiluies ao conhecinenlo anliopoIgico das so-
ciedades indgenas siluadas no pas esliveian e eslo, a neu
juzo, aIgo aquen do que sua inpoilncia ideoIgica na acade-
nia nacionaI peiniliiia espeiai. Isso e especiaInenle piolIenli-
co en visla da aspiiao dessa elnoIogia 'caiacleislica, nanifes-
lada poi aIguns de seus iepiesenlanles aluais, a se consliluii en
aloidagen excIusiva e excIudenle, a nica epislenoIgica e poIi-
licanenle coiiela, chegada paia desquaIificai una viso suposla-
nenle liadicionaIisla, cega ieaIidade avassaIadoia da ccns|ruac
dc cojc|c 'ndio peIo disposilivo coIoniaI (e, poi seu liao acad-
nico, a elnoIogia cIssica)5.
5. Coslaiia de adveilii que no eslou incIuindo Roleilo Caidoso de OIiveiia
na Iisla dos que ven a elnoIogia do conlalo cono a unica aloidagen
adnissveI paia a elnoIogia liasiIeiia. Ao conliiio, Caidoso senpie nos-
liou Iaigueza de vislas e cuiiosidade leiica. AIen dissc, enloia eu lenha
discoidncias de fundo con o nodo peIo quaI lanlo Daicy Rileiio (de que
' '.
L D U A R D O V I V L I R O S D L C A STRO
Lslan os, ao que paiece, dianle de una ' conliadio
iiiedulveI enlie duas concepes do oljelo da elnoIogia, lo
iiiedulveI quanlo as conliadies inleielnicas fanosanenle ana-
Iisadas poi Roleilo Caidoso. Cono neslas, h o Iado dos ndios
e h o Iado dos liancos, enlenda-se: o ponlo de visla dos pctcs
indigcnas e o ponlo de visla do |s|adc nacicna|. Lsses so os dois
alialoies conceiluais que poIaiizan a ideia de elnoIogia liasiIei-
ia. (Un ponlo de visla, adviila-se, no e una 'opinio, e nuilo
nenos una 'iepiesenlao paiciaI de una ieaIidade ~inleielnica,
no caso ~da quaI apenas o olseivadoi cienlfico leiia una tisac
g|coa|)6. Lnlie os dois ponlos de visla no h nediao possveI,
pois se liala aqui de una oposio hieiiquica, paia faIainos
cono Dunonl, onde o que esl en dispula e o Iugai de vaIoi
conceiluai doninanle. (No e que no haja una 'viso gIolaI,
poilanlo, e que h duas. cada ponlo de visla e peifeilanenle
gIolaI.) A queslo e a de decidii o que e o 'conlexlo de que, e,
iecipiocanenle, quen esl 'inseiido no conlexlo de quen.
Lsse duaIisno no e, poilanlo, o iesuIlado peiveiso de 'una
posluia duaIisla e ieducionisla. L inliI dizei que os esludos de
conlalo inleielnico Ievan en conla (espeia-se) a 'viso indgena
~pois o que esl en jogo e a visada do elnIogo, a pailii da quaI
a viso indgena pode dai a vei coisas nuilo diveisas. No adian-
faIaiei adianle) cono Roleilo Caidoso vian ou ven o oljelo da elnoIogia,
no ne passaiia peia calea nininizai suas conliiluies decisivas a nossa
discipIina e a causa indgena no iasiI. Daicy foi o piincipaI iesponsveI
poi una naioi conscienlizao das canadas uilanas (e das eIiles diiigen-
les) do pas quanlo a siluao indgena, Caidoso, poi sua vez, no s
nodeinizou anpIos seloies da pilica e da iefIexo elnoIgicas, difundin-
do un ideaI de lialaIho cienlfico na iea, cono foi o fundadoi da ps-
giaduao en anliopoIogia sociaI no pas. Meu 'piolIena e con a capluia
hegenonizanle que seus sucessoies e discpuIos ieaIizaian da ideia de
una elnoIogia liasiIeiia, invenlando una 'loa liadio - que, paiadoxaI-
nenle, pielende-se 'no-liadicionaI, en oposio ao 'liadicionaIisno da
liadio aIheia.
6. Solie a 'viso gIolaI, vei OIiveiia Iu, 1988: 59 n.33.
L T N O L O C I A R A S I L K I RA
1 1 9
la lanlen aigunenlai que o conlalo inleielnico geia una 'esliu-
luia unificada (ou, quen sale, un 'canpo siluacionaI) en que
as insliluies coIoniais so paile do necanisno de iepioduo
das insliluies nalivas. Se no h duaIisno, enlo poi que se faIa
en 'insliluies coIoniais e 'insliluies nalivas (OIiveiia I,
1988: 10)? Sc h ccn|a|c in|crc|nicc, c pieciso que haja aIgo en
conlalo: e nada nais sulslanciaIisla e naluiaIizanle que a fsica
ingnua do 'conlalo e da 'fiico, que no neIhoia lanlo assin
quando se a sulslilui peIa nelfoia iguaInenle fsica do 'can-
po7. Mas se, cono penso, nac cxis|c cssc cojc|c cnanadc ccn|a|c
in|crc|nicc e poique no h oulio nodo de conlai a hisliia seno
do ponlo de visla de una das pailes. No exisle o ponlo de visla
de Siiius: no h 'siluao hisliica foia da alividade siluanle
dos agenles. O piolIena, poilanlo, con a 'giande veilenle da
elnoIogia conlaluaIisla no e, cono Lina supe que se supe,
que eIa esleja voIlada sonenle paia as inleiaes con a 'socie-
dade nacionaI (cf. supra), nas sin que eIa cs|4 voIlada paia as
sociedades indgenas a par|ir do |s|adc nacionaI, pois e nesse
pIo que eIa fixou a peispecliva. No Iinile, aIis, podei-se-ian
dispensai as sociedades indgenas e suas 'inleiaes con a socie-
dade nacionaI, ficando s con esla Ilina e suas 'consliues
das sociedades indgenas.
L iguaInenle equivocada una oulia aIegao usuaI conlia a
elnoIogia no-conlaluaIisla: a de que eIa opeiaiia con una dis-
lino enlie aspeclos inleinos e exleinos, piiviIegiando as 'di-
nenses inleinas dos coIelivos indgenas devido a una paixo
pie-cienlfica peIa in|cricridadc (OIiveiia I, 1988: 27). Aqui laIvez
vaIha a pena expIicai que a pieocupao da elnoIogia no-
conlaluaIisla conlenpoinea - neIhoi chan-Ia apenas de anlio-
poIogia indgena - no e con as 'dinenses inleinas da vida dos
7. Os cilicos do 'nodeIo naluiaIizado de sociedade no se piivan de nel-
foias naluiaIislas - as nais en noda aluaInenle so hidiuIicas: fIuxos,
coiienles elc.
1 2 O
L D U A R D O V IV H I RO S DH C A STRO
povos indgenas. Ln piineiio Iugai poique, ao conliiio do que
paiecen ciei OIiveiia ou Lina, seus pialicanles no consideian
que as dinenses cx|crnas, laI cono so deleininadas peIos di-
veisos iegines sociocosnoIgicos indgenas, sejan a nesna coi-
sa que a sociedade nacionaI ~ isso seiia nuila piesuno
elnocnliica. Ln segundo Iugai poique, una vez fixada a peis-
pecliva no pIo indgena, |udc c in|crnc a c|c - incIusive a 'socieda-
de envoIvenle. Tcdas as ieIaes so inleinas, pois una socieda-
de no exisle anles e foia das ieIaes que a consliluen, o que
incIui suas ieIaes con o 'exleiioi. Mas essas ieIaes que a
consliluen s poden sei as ieIaes que c|a conslilui. O ccn|a|c
in|crc|nicc, disse un desses auloies, e |...} un fa|c ccns|i|u|itc,
que pieside a pipiia oiganizao inleina e ao eslaleIecinenlo
da idenlidade de un giupo elnico (cp. ci|.. 58, giifos oiiginais).
O piolIena e salei qucn c ccns|i|ui, pois no h falos sen aIguen
que os faa. Ialos conslilulivos so falos consliludos8. Dizei que
o falo inleielnico prcsidc a pipiia oiganizao inleina - nas
enlo h un 'inleino` ~de un coIelivo hunano e lon-Io cono
un falo |ransccndcn|c, cono piincpio causaI supeiioi e exleiioi a
una oiganizao que eIe expIica nas que no o expIica (e nuilo
nenos o 'conpieende). O ponlo de visla que o conslilui, poilan-
lo, esl siluado fcra da 'oiganizao inleina do giupo: o falo
conslilulivo da oiganizao indgena no e consliludo poi eIa.
A cilica a suposla nfase cIssica nas dinenses inleinas
das sociedades indgenas deiiva assin de una concepo que
conveile o falo da doninao poIlica en piincpio de goveino
onloIgico. O inleiioi e 'piesidido peIo exleiioi ~e esle Ilino e
vislo cono au|c ccns|i|uidc. Lnquanlo a anliopoIogia indgena lona
o 'exleiioi e o 'inleiioi cono dinenses sinuIlaneanenle cons-
8. Cono diiia acheIaid, |cs fai|s scn/fai|s - ale nesno os 'falos conslilulivos.
L eIes no so feilos s peIo anaIisla, nas lanlen peIos agenles que eIes
'fazen. Ou sei que os pailidiios da aloidagen piocessuaIisla do conla-
lo aciedilan cn falos sen fazedoies e en piocessos sen sujeilo`
1i T N O I . O C 1A RA SI LLI RA
1 2 1
liludas poi un piocesso indigcna de consliluio que no len
nen 'denlio nen 'foia ~anleiioi cono eIe e a essa dislino a
que c|c 'pieside e, poilanlo, exleiioi a si nesno ~, a socioIogia
poIilicisla do conlalo inleielnico, ao lonai anocs cono dinen-
ses de un disposilivo coIoniaI que engIola do exleiioi a ieaIi-
dade indgena, v-se foiada a conlia-ieificai no pIano conceiluai
una dinenso suloidinada do 'inleino. (S aciedila en 'dinen-
ses inleinas quen no as Ieva a seiio, poilanlo, ou vice-veisa.)
IinaInenle, pode len sei que o falo inleielnico 'piesida a oiga-
nizao de un 'giupo elnico, nas nen loda sociedade indgena
e un giupo elnico, nen lodo giupo elnico e o lenpo lodo un
giupo elnico, e nenhun giupo elnico e apenas un giupo elnico.
A ieduo dos nuIlifoines e nuIli-siluados coIelivos indgenas
a siluao unifoine de 'giupo elnico, loinada ncrna dc cojc|c
c|nc|cgicc, e una das conseqncias de se lonai cssc falo conslilu-
livo pailicuIai, que e o falo inleielnico, cono sendo c falo cons-
lilulivo geiaI: a raac, en lodos os senlidos da paIavia, da exis-
lncia sociaI de lais coIelivos. L o conlalo inleielnico acala as-
sin viiando, paia usainos una expiesso caia a escoIa
conlaluaIisla, un 'olslcuIo epislenoIgico.
Ao ciilicai a 'elnoIogia cIssica poi piiviIegiai o 'inleiioi
dos coIelivos indgenas, OIiveiia I e Lina paiecen, en suna,
fazei una confuso enlie una nc|afisica da in|cricridadc e una
cn|c|cgia das rc|a5cs in|crnas. Lsla Ilina caiacleiiza viias aloida-
gens anliopoIgicas anli-enpiiislas, no devendo nada, diga-se
de passagen, a duaIidade sociedade indgena/sociedade aIgena9.
9. Vei, poi exenpIo, o conenliio de A. CeII (1995) solie Tnc gcndcr c f |nc gif|
(Slialhein, 1988), un dos Iivios de naioi inpaclo solie a anliopoIogia
conlenpoinea. Lssa onloIogia das ieIaes inleinas pode sei cIassificada
de 'ideaIisla cn oposio a concepo enpiiisla das ieIaes exleinas,
cono faz CeII, nas o naixisno lanlen j foi assin eIoquenlenenle
inleipielado (OiInan 1976, cap. 3: 'The phiIosophy o f inleinaI ieIalions).
Iaia un lon desenvoIvinenlo fiIosfico desla posio, vei C. Sinondon
(1964).
1 2 2 I i D U A R D O VIVH 1RO S DK C A ST R O
Cono essa fiIosofia das ieIaes inleinas no se confunde, jusla-
nenle, con nenhuna fanlasnlica sulslanciaIisla da inleiioiidade,
pode-se lanlo dizei que ludo e inleino a sociedade indgena eslu-
dada, incIusive a sociedade coIoniaI, cono dizei que |udc |nc c
cx|crnc, incIusive as fonles nalivas de insliluio cosnoIgica do
sccius1O. Na veidade, laI inaginiio da inleiioiidade aulclone pa-
iece peisislii piincipaInenle no seio da leoiia do conlalo, onde
eIe faz as vezes de espanlaIho que se piecisa exoicizai cono
pieIdio a una anexao discuisiva das sociedades nalivas peIas
dinenses, agoia sin, in|crnas da sociedade nacionaI: pois apenas
esla, na nedida en que se enconlia unificada e iepiesenlada poi
un Lslado, exige e eslaleIece una veidadeiia inleiioiidade ne-
lafsica (DeIeuze & Cuallaii, 198O: 445). L poi faIai en nilos de
inleiioiidade, iecoide-se que no foian piopiianenle os elnIogos
cIssicos que invenlaian essa conliadio en leinos, a noo de
1cc|cnia|isnc in|crnc, nen que a apIicaian aos esludos de fiico
inleielnica.
2 : >F6> ^h? 52 DB25:^h?
Mas ielonenos a iepiesenlao duaIisla da elnoIogia lia-
siIeiia a pailii de una veiso ao nesno lenpo nais expIcila e
nenos poIenizanle. AIcida Ranos, en un ailigo signifcaliva-
1O, Vei, poi exenpIo, as consideiaes de Viveiios de Caslio (1986) solie os
Aiavele cono halilando una 'sociedade sen inleiioi, e lodo o cx|cnsc
aigunenlo aIi e aIhuies ;id., 1993l,c, 1996c) eIaloiado solie os vaIoies
conslilulivos da aIleiidade nas socioIogias anaznicas. Seiia piova de igno-
incia ou de n-fe associai a anliopoIogia indgena suI-aneiicana dos anos
8O en dianle a quaIquei inaginiio da inleiioiidade, vislo que eIa se consli-
luiu juslanenle en iupluia con eIe, e de un nodo que nada deve a inspiia-
o funcionaIisla das leoiias do conlalo incielnico (vei Viveiios de Caslio,
1992: 191-192). L , se cheguei a opoi aloidagens 'exleinaIislas e 'nleinaIslas
da elnoIogia suI-aneiicana (1995a: 1O), foi paia iejeilai anlas.
I I T N O 1 . O C I A RASI1.K1RA
1 2 3
nenle inliluIado LlhnoIogy iaziIian slyIe, apiesenla a una
audincia noile-aneiicana as conliiluies liasiIeiias a elnoIogia,
deslacando duas peispeclivas (199Oa: 14) infIuenles en nos-
sa acadenia. L inpoilanle iegisliai que A. Ranos no v as
duas peispeclivas cono oposlas, nas apenas cono dislinlas, e,
de falo, a pipiia auloia deu conliiluies inpoilanles paia
anlas as Iinhas".
A piineiia peispecliva iepiesenla, grcssc ncdc, o que vanos
aqui chanando de 'elnoIogia cIssica. Ainda que devendo aIgo
aos lialaIhos pioneiios de Ninuendaju ou aIdus, diz AIcida
Ranos, eIa deiivaiia diielanenle dos esludos solie os povos },
ieaIizados no nlilo do Haivaid-CenliaI iaz Iiojecl, cooide-
nado poi D. Mayluiy-Levis, que ieuniu qualio elngiafos ane-
iicanos (}. Lave, }. anleigei, T. Tuinei e }. C. Ciockei) e dois
liasiIeiios (R. DaMalla e }. C. McIalli). A auloia v nas pesquisas
desse giupo, cujo pico de alividade se deu no finaI dos anos 6 O 12,
a oiigen de una lenlica depois desenvoIvida poi pesquisado-
ies cono M. Caineiio da Cunha, A. Seegei e L. Viveiios de
Caslio solie as concepes de pessoa e de coipoiaIidade pi-
piias as sociocosnoIogias indgenas. LIa indica lievenenle a co-
nexo dessa Iinha de invesligao con aIgunas quesles leiicas
c(a e'poca, noladanenle con o consenso eslaleIecido no Con-
giesso de Aneiicanislas de 1976 (Oveiing KapIan, oig., 1977)
11. Cono foi o caso de nuilos anliopIogos de sua cooile geiacionaI, infIuen-
ciados peIo nodeIo caidosiano da fiico nas cjue liveian una foinao
'cIssica no exleiioi (AIcida Ranos, R. DaMalla) ou que sinpIesnenle
eian lons elngiafos. O ailigo cIc AIcida Ranos no pielende exauiii a
pioduo elnoIgica, e seu uso iIuslialivo das duas Iinhas de pesquisa
apia un ceilo nneio de leses sulslanlivas de que lialaienos nais adi-
anle. Cilo o ailigo na paginao da edio liasiIeiia (en ingIs) apaiecida
na 'Seiie AnliopoIogia da Un, no lenho conigo a veiso pulIicada na
Cu||ura| An|nrcpc|cgq, no nesno ano.
12. A pulIicao conjunla dos iesuIlados do Haivaid-CenliaI iaziI Iiojecl
deu-se apenas en 1979 (Mayluiy-Levis, oig., 1979).
1 2 4
I ID U A R D O V I V I i I R O S D L C A ST R O
solie a necessidade de se luscai una nova Iinguagen paia des-
cievei as socioIogias anaznicas. AIcida Ranos evoca, poi fin,
os nuneiosos desdolianenlos conlenpoineos dessa peispecli-
va en pIena expanso, da aile ao iiluaI, do paienlesco ao canila-
Iisno, do coipo a cosnoIogia (Ranos, 199Oa: 14~16).
A segunda peispecliva e iIusliada excIusivanenle poi nones
nacionais, e iecele naioi aleno da auloia: liala-se da liadio
conlaluaIsla (<cp. ci|. 16~22). A. Ranos conea poi sulIinhai a
pieocupao desde cedo nanifeslada peIa elnoIogia liasiIeiia en
docunenlai os necanisnos de doninao elnica e a liansfoina-
o das sociedades indgenas fion seIf-sufficienl unils lo heIpIess
appendages of lhe nalionaI poveis. A auloia noslia cono essa
pieocupao nacionaI (que eIa conliasla con a 'elnogiafia do
iescaIdo pipiia da anliopoIogia indgena noile-aneiicana) j se
peicelia nas pesquisas solie acuIluiao iniciadas nas decadas de
4O-5O en So IauIo. A aloidagen acuIluialiva seiia iefoinuIada
peIas figuias-chave da elnoIogia liasiIeiia das duas decadas se-
guinles, Daicy Rileiio e R. Caidoso de OIiveiia, anlos egiessos
do neio acadnico pauIislano, nas que iio liansfeiii paia o Rio
de }aneiio o cenlio de giavidade da discipIina. AIcida Ranos suge-
ie que a naikedIy nalionaIisl phase o f iaziIian hisloiy en que
se deu a foinao desses auloies infIuenciou os iunos que eIes
inpiiniian a elnoIogia. Assin, Daicy Rileiio leiia vindo poIilizai,
en viios senlidos, a piolIenlica foinaIisla da acuIluiao, de-
nunciando o elnocdio que se escondia sol esse iluIo neulio,
inseiindo-o no quadio da expanso difeienciaI da fionleiia econ-
nica nacionaI e pievendo a exlino sociocuIluiaI dos povos ind-
genas, en un Iivio de enoine inpaclo (Os indics c a citi|izaac).
Aciescenle-se a isso un engajanenlo alivo no Seivio de Iioleo
aos ndios, onde Daicy Rileiio iiia se definii cono conlinuadoi da
olia de Rondon e foinuIai una leoiia goveinanenlaIisla do
'indigenisno, de giande infIuncia solie a piolIenlica Ialino-
aneiicana de nesno none. Roleilo Caidoso, poi sua vez, viiia a
l1 N O L O C I A BRASl. Kl RA
1 2 5
romper com o paradigma aculturado ainda subscrito por Darcy
Ribeiro ,janto a quem trabalhou no SPI,. Inspirado na noao de
situaao colonial`, extrada da sociologia aricanista de Balandier,
Cardoso de Olieira deslocou o oco analtico da cultura para as
relaoes sociais, ao propor o conceito de ricao intertnica. Se
Darcy Ribeiro politizou a aculturaao, Cardoso de Olieira a
sociologizou, lanando mao de uma paleta ecltica de reerncias,
do marxismo a etnocincia, do estruturalismo a enomenologia.
Mais tarde, ele iria migrar da problematica da ricao` para a da
identidade`, e depois para a da etnicidade` -em um percurso
repetido por arios de seus discpulos -, sem abandonar a questao
geral do contato intertnico13.
Como bem diz Aicida Ramos, Cardoso de O lieira`s
inluence on Brazilian anthropology cannot be oeremphasized`
,p. 22,. Lmbora tenha tido, como seu antecessor, uma expressia
participaao no campo do indigenismo latino-americano, toman-
do assento em organismos internacionais e escreendo textos
programaticos sobre a questao indgena`, a inluncia de Cardo-
so de Olieira sobre a antropologia deu-se essencialmente no
plano uniersitario. lundador e condutor de instituioes, reern-
cia intelectual central de pelo menos duas geraoes de antroplo-
gos, oi graas a sua atiidade que o tema do contato intertnico
was d e in it el y es t abl ished as a t radem ark o B r azi lian et hnology. lor
t he b es t p ar t o three decades, m any stu dent s o in d ige no us sociedes hae
b een sti m ulat ed by Cardos o de O lieira and hae taken to the ield o ne or
a n o t h e r e r s i o n o his m odel o interethni c riction ,pp. 2 1 - 2 2 , .
O estilo brasileiro de etnologia de que ala o artigo ,
portanto, associado pela autora a essa segunda perspectia: trinta
13. Lm sua produao mais recente sobre as antropologias periricas` , Cardo-
so de Olieira continua de certo modo tematizando a questao do contato` ,
s que agora nao mais no plano dos ndios, e sim dos antroplogos.
1 2 6
l i D U A RD O V l V I l RO S DK CAS 1RO
anos de contato intettnico tornaram o tema a nossa` marca
registrada. Que marcou, alias, mais que a etnologia propria-
mente dita: como mostra Alcida Ramos, a questao do contato
logo se articulou a questao da ronteira` c do campesinato` ,
estando na origem da linha de estudos rurais desenolida no
Museu Nacional e alhures. Com eeito, acrescento, assim como
a sociologia do contato buscara instrumentos de compreensao
e de explicaao da realidade tribal, ista nao mais ev .i, mas em
relaao a sociedade enolente` ,Cardoso de Olieira, 196:
18,, a sociologia do Brasil rural a ela associada iria criticar, em
termos muito semelhantes, as abordagens culturalistas` dos es-
tudos de comunidade produzidos nas dcadas anteriores: estes
desdenhariam a histria, nao eriam a realidade como proces-
so`, isolariam a comunidade do contexto ou sistema poltico-
economico mais amplo etc.14.
Comentemos a apresentaao das duas perspectias por
Alcida Ramos. Obsere-se, de sada, o carater notaelmente
desequilibrado dos respectios ternarios: de um lado, o contato
intertnico, de outro, a pessoa e a corporalidade, mas tambm o
parentesco, a organizaao sociopoltica, o xamanismo, a mitolo-
gia, o ri t u a l. .. -e, acrescente-se, o contato intertnico. Na er-
dade, o discurso terico sobre o contato, nos termos em que ele
oi articulado pela escola que amos chamando por esse nome,
nao chegou a contribuir signiicatiamente para a compreensao
dos enomenos e dimensoes estudados pela outra` etnologia15.
14. Mas, assim como algumas das monograias etnograicas resultantes da en -
tao noa perspectia riccionista e situacional se desatualizaram mais rapi-
damente que os estudos inspirados nas abordagens classicas`, assim tam-
bm os estudos de comunidade das dcadas de 40 e 50, com todos os seus
deeitos, continuam a aler a pena ser lidos.
15. Como diz Ortner dos analogos estrangeiros do contatualismo: 1he accounts
produced rom such a perspectie are oten quite unsatisactory in terms
o traditional anthropological concerns: the actual organisation and culture
o the society in question` ,1984: 143,.
K1 N O J . O G I A B R A S U . K I R A
1 2
Lsta, em troca, eio a incorporar o tema do contato em sua
agenda, aproundando uma orientaao de que ja se podiam er
sinais desde o incio dos anos 0.
Note-se tambm que o esquema de A. Ramos, ao projetar
tematicamente a cisao que eitamos abordar`, procede a uma
reduao de um esquema tripartite tradicionalmente utilizado nos
sobreoos da etnologia brasileira. Reiro-me a classiicaao, pro-
posta por llorestan lernandes e seguida por arios comentadores,
que indexaa as pesquisas etnlogicas sob as rubricas: organiza-
ao social e poltica` , religiao e mitologia`, e mudana cultural`
ou social` ,depois ricao intcrtnica e etnicidade`, 16. No arranjo
de Alcida Ramos, os dois primeiros temas estao contidos dentro
da primeira perspectia. Isso corresponde, a meu er, a algo real:
a dcada de 0 iu ruir a barreira entre sociedade` e cultura`,
instituiao` c representaao` , que justiicaa a dierenciaao en-
tre aqueles temas ,Oering Kaplan, 19, Vieiros de Castro,
1986, Riierc, 1993,. O im dessas distinoes tradicionais, que
podem ser lidas em sentido tanto uncionalista quanto marxista,
dee-se a inluencia undamental de uma igura que o texto de A.
Ramos s menciona de modo muito alusio. Lstou-me reerindo,
naturalmente, a Li-Strauss, cuja antropologia tinha como trao
distintio the eradication o the Durkheimian distinction between
the social base` and the cultural relection` o i t ` ,Ortner, 1984:
13,. A presena do estruturalismo na etnologia americanista sera
comentada adiante.
De seu lado, a escola do contato ensaiou alguns passos
no sentido de articular os temas da organizaao social e da
mudana. Mas ela o ez ao preo de uma exacerbaao daquela
16. lernandes |1956-195| 195: 144ss., Baldus 1968: 21, Schaden, 196: 8-9,
Melatti, 1983: 35 - 45. Outros comentarios modiicaram ligeiramente o es-
quema tripartite, introduzindo os temas das relaoes com o am biente` e os
estudos de arte e tecnologia material ,Seeger & Vieiros de Castro, 19,
Melatti, 1982,.
1 2 8
lD U A R D O V I V I U R O S D i i C A S 1 R O
distinao entre o social` e o cultural` -no interesse, claro, do
primeito conceito -que ja haia sido erradicada pelo estrutura-
lismo. Lla reelaa com isso sua dependncia de um estrato
mais arcaico do campo terico, no qual se derontaam o
cultutalismo` norte-americano e os arios uncionalismos` bri-
tanicos. A sociologia do contato contemporanea permanece presa
a essa dicotomia, e sua dileao por autores como Gluckman e
Barth remonta a cruzada anticulturalista ,e pr-estruturalista,
das dcadas de 50 e 60, a poca de ouro` de nossa` etnologia.
Conrontados mais tarde com a eclosao de um igoroso
culturalismo poltico indgena, os contatualistas se erao obri-
gados a readmitir a detestada noao de cultura -residual mas
irredutel, ja adertira Carneiro da Cunha ,199, -pela porta
dos undos, isto , disarada de et ni ci dade`, e tambm a
reinidicar alguns ps-tudlogos ,afterotogi.t., diria Sahlins, egres-
sos da tradiao norte-americana1.
Do lado da etnologia classica`, a reuniao dos dois primeiros
temas da tripartiao tradicional, ocorrida na dcada de 0, se-
guiu-se, na dcada de 80, a incorporaao do tema da mudana`.
A inspiraao para esse moimento eio de Marshall Sahlins, que
em um opsculo publicado em 1981 reormulou de um golpe a
questao das relaoes entre estruturas socioculturais e transorma-
ao histrica, oerecendo inalmente ao tema do contato intert-
nico` uma possibilidade de interpretaao antropolgica. O exem-
1. No caso especico de Roberto Cardoso, obsere-se que seu trabalho oi
mostrando uma inluncia crescente das abordagens hermenuticas, o que
sugere um retorno aquela problematica da cultura` que ele haia contribudo
para aastar do horizonte da sociologia do contato. Lsse deslocamento
posterior a ase propriamente indgena` do autor, mas ele ja estaa preigurado
na passagem da teoria da ricao` ao enomeno da identidade tnica` deini-
do como releando do domnio do ideolgico` ,Cardoso de Olieira, 196:
xi-ss.,. loi assim que a cultura comeou a reingressar na teoria do contato:
como ideologia ,nada de tipicamente brasileiro nisso, er Ortner, 1984: 140,.
A etnicidade oi o retorno da cultura como metarrepresentaao.
K 1 N O I . O G I A BR A S I l . l I R A
1 2 9
pio de Sahlins eio desestabilizar de ez a polaridade, ja entao
precaria, entre as etnologias da tradiao c da mudana. 1al
desestabilizaao se relete nos paragraos inais do artigo de Alcida,
em que a autora registra muito rapidamente o surgimento do que
seria uma terceira perspectia na etnologia brasileira, a saber, o
interesse crescente pela etno-histria` ;o. cit:. 25,. L signiicatio
que, dos poucos autores que ela cita aqui, a maioria pertena ao
contexto acadmico paulista, interessante tambm obserar que
esta maioria - e isso icaria ainda mais claro na abundante produ-
ao sobre histria indgena, contemporanea ou posterior a data
do artigo - , esteja teoricamente identiicada antes com paradig-
mas da etnologia classica` que com o contatualismo18. A implan-
taao paulista dessa terceira perspectia parece-me signiicatia
porque oi justamente em Sao Paulo que as doutrinas de Darcy
Ribeiro e Cardoso de Olieira tieram menor penetraao acad-
mica19. Lm outras palaras, a esquematizaao dualista, presente
em comentadores como Mariza Peirano, Alcida Ramos, A. C.
Souza Lima e eu mesmo, relete sobretudo a etnologia produzida
na area de inluncia intelectual desses dois grandes antroplo-
gos, que de certa orma ivrevtarav a traaiao da 'etnologia brasi-
leira`. Ao az-lo, eles ou ,no caso de Roberto Cardoso, seus
epgonos deiniram o que se azia ora desse marco normatio
como constituindo uma contratradiao - tao brasileira` quanto a
outra, eu diria, mas talez menos ocupada com sua prpria
18. O trabalho de M . Carneiro da Cunha e seus alunos, em particular, esta
muito mais prximo da etnologia da primeira perspectia` praticada pelo
presente autor que da ariante undamentalista da segunda perspectia`
presente em minha instituiao carioca.
19. Isto se aplica sobretudo a USP, que, deido ao deslocamento do plo
dinamico da etnologia para o Rio de Janeiro, passou por um perodo de
certa retraao, do qual comeou a se recuperar em meados dos anos 80.
Quanto a Unicamp, Roberto Cardoso eio a ensinar la, mas entao seus
interesses ja se dirigiam para outros objetos: histria da antropologia, ps-
modernidade, hermenutica.
1 3 0
- ) 0 ' - ) , 1 + 1 * + - , . ) 22 ( ' . / - ,
brasilidade, coniando em que esta seria antes a conseqncia
que a causa de seu azer etnolgico.
Os comentarios de Alcida Ramos sobre a carreira e obra de
Darcy Ribeiro e Cardoso de Olieira pedem adendos. A politizaao
do tema da aculturaao eetuada por Darcy Ribeiro estaa associa-
da a dois componentes de sua personalidade terica: de um lado, a
ascinaao pelos esquemas grandiosos do neo-eolucionismo ame-
ricano ,apimentado, diz a autora, por uma certa marxian
inclination`,, o qual se constituiu em ruptura com o paradigma
boasiano dominante nos estudos de aculturaao, de outro, a deci-
sao de inserir a problematica indgena assim redeinida no quadro
das teorias do Brasil` ormuladas na dcada de 30. Isso o leou a
escreer uma srie de amplos panoramas histrico-culturais de pouca
repercussao acadmica ,mas er, ivfra, A marca nacional`,. Darcy
Ribeiro propos-se, na erdade, a ser um Gilberto lreyre indigenista
e de esquerda, que iria recontar a ormaao da nacionalidade a
partir do duo europeu-indgena ,e nao do europeu-aricano,. Sua
preocupaao ltima era com o ndio` como ingrediente-chae da
mistura sociocultural brasileira, e sua isada poltica era o naciona-
lismo de Lstado, como o mostra sua identiicaao com Rondon
nos tempos do SPI e sua carreira pblica posterior.
A ruptura de Roberto Cardoso com a tradiao da aculturaao
seguiu caminhos diersos, mas nao inteiramente. O conceito de
ricao intertnica dee tanto a Balandier quanto ao modelo das
relaoes raciais de llorestan lernandes, proessor de Roberto Car-
doso. Como obsera Mariza Peirano, a etnologia de R. Cardoso
marcada por um dialogo terico com os estudos sobre relaoes
raciais e nao com os 1vivavba `, as monograias indgenas de
llorestan lernandes nao podiam assim serir de inspiraao para
a aboraagev qve caracteriov a avtrootogia ivageva vo ra.it ,1992:
3 - 4 , grio m eu,20. Se Darcy Ribeiro oi o Gilberto lreyre
20. Se llorestan lernandes antecipou a tese da gravae aifereva entre os ndios
situados no Brasil` e os ndios parte do Brasil` , nao possel identiicar
K 1 N O I . O G I A B R A S l l . l U R A
1 3 1
indigenista, Roberto Cardoso, de certa maneira, tambm pos o
ndio no lugar do negro -s que nos termos classistas` de llorestan
lernandes, nao nos racialistas do socilogo pernambucano. A etnia
oi ista como um analogo da classe social: a ricao intertnica era
o eqviratevte t g i c o . . . do que o . . o c i t o g o . chamam de Juta de
classes`` ,Cardoso de Olieira, 198: 85,. Lsse enquadramento
dos poos indgenas no esquema das relaoes raciais c da luta de
classes, em que pese a sua bem-inda radicalidade interpretatia,
enraizou ainda mais irmemente a etnologia em uma teoria do
Brasil`21.
A outra matriz terica direta da sociologia indigenista de
Roberto Cardoso oi, como se sabe, a teoria da dependncia` de
Gunder lrank, Staenhagen e outros menos otados, que utiliza-
a o mesmo modelo da luta de classes para pensar as relaoes
internacionais. A escola do contato iria se articular diretamente
com as discussoes da poca sobre a troca desigual, o colonialis-
simplesmente suas monograias tupinamba a primeira conccpao. Como
obsera M ariza Peirano, os ndios de llorestan lernandes eram, digamos
assim, anteriores a tal distinao: os 1upinamba nao oram construdos
como objeto em Icrmos dc um grupo distinto .itvaao em territrio brasilei-
ro, eles erav o Brasil de 1500` ,Peirano, 1992: 4,. Mas ha de se conir que
en t re s e r m et a o r i c a m e n t e todo o B r a s i l , com o n es te caso, e s - l o
v c t o v i v i c a v e v t e , c o v o v o c a . o da isao covtatva|.ta, rai . e v r e vva
grande dierena.
21. A ormataao da questao indgena` nas linhas da questao racial` talez
possa tambm ser interpretada como uma estratgia de enobrecim ento
poltico da primeira, dando-lhe uma isibilidade e uma pungncia de que
ela nao desrutaa. Obsere-se que o papel paradigmatico desempenhado
pelas relaoes raciais ,entenda-se, negros,brancos, dentro do imaginario
terico da etnologia do contato oi herdado por sua prognie, s que agora
o crculo esta-se echando: a sociologia indgena deriada do esquema das
relaoes raciais comea a serir de modelo para se pensar os remanescen-
tes-emergentes` de quilombos, e a etnicidade` que em sobredeterm inar
as relaoes de classe ,Arruti, 199,. Nao sei se a antropologia das popula-
oes` aro-brasileiras precisa mesmo desse aporte eniezado, ou se ela ja
nao esta bem mais adiante, como atestam alguns trabalhos adm iraeis
,Marcelin, 1996,.
1 3 2
l i D U A R D O V l V l l R O S DK C A S 1 R O
mo interno`, as amigeradas ormas de transiao` ao capitalismo
etc.22. Negros, camponeses, o Brasil` : tais oram as ontes
analgicas utilizadas pela escola do contato para pensar a reali-
dade tribal`, para pensa-la, isto , nao mais ev .i, mas em rela-
ao a sociedade enolente`, como disse Cardoso de Olieira.
Lssa oposiao entre tomar a realidade tribal` ev .i ou ev
retaao a sociedade enolente reeladora: aquela realidade em si`
aparece como substancia, e nao como complexo imediata e intrin-
secamente relacional, e o em relaao` - em relaao a sociedade
enolente, note-se, nao cov a sociedade enolente -signiica: na
qualidade de parte ontologicamente subordinada. A relaao de que
se ala uma relaao entre parte e todo, e o em relaao` indica
qual o ponto de ista global se esta assumindo. A sociedade ind-
gena nao ista como retaciovat`mas como retatira -relatia a um
absoluto que a sociedade enolente, a qual ocupa o trono do ev
.i que se recusou a realidade tribal` . Contra essa alternatia entre
tomar seu objeto ev .i ou ev ovtro, a antropologia indgena esco-
lheu toma-lo como constituindo desde o incio um ara .i, isto ,
como um sistema auto-intencional de relaoes. O em si` e o em
relaao` sao, nesse caso, sinonimos, nao antonimos.
Por im, cabe obserar que a oposiao entre uma etnologia
classica` ou tradicional` e a etnologia da marca registrada` nao
um acidente peculiar ao contexto acadmico natio, se o rebati-
mento ideolgico sobre a brasilidade` brasileiro, sua codiica-
ao terica traz marcas estrangeiras. Pois tal polarizaao muito
semelhante aquelas que marcaram outras tradioes nacionais, como
o cabo-de-guerra entre materialistas` e idealistas` que diidiu a
antropologia norte-americana dos anos 50 aos 80, ou a polmica
dos antroplogos marxistas` contra os estruturalistas` na lrana
ps-68. Um mesmo ar de amlia perpassa as trs. O debate
22. Nesses termos, nao seria descabido er O vaio e o vvvao ao. bravco. ,Cardo-
so de Olieira, 1964, como o eco indgena e setentrional do Caitati.vo c
e.crariaao vo ra.it veriaiovat ,l. l. Cardoso, 1962,.
K1 N O I .O G I A l i RASI 1.lIR A
1 3 3
americano tee menos eco no pas, deido a pequena popularida-
de do materialismo cultural` ,ou ecologia cultural`, em nossas
plagas, mas nao se dee esquecer que Darcy e seus associados
mais diretos eram adeptos entusiasmados dessa corrente, e que
ela se opunha, em sua traduao brasileira, ao mesmo tipo de
gente` - os malditos idealistas - anatematizado pelos descenden-
tes da escola da ricao, que importaram da lrana o antagonis-
mo entre Balandier ,e demais aricanistas de persuasao marxis-
ta`, e Li-Strauss ,e demais americanistas de persuasao estrutu-
ralista`, e o utilizaram como chae de classiicaao23. L importan-
te por em continuidade essas trs polarizaoes, pois isso permite
er que a ruptura cosmolgica entre a ase Darcy Ribeiro` e a
ase Roberto Cardoso` da etnologia do contato oi menos pro-
unda do que se pode pensar. Assim, o esquema de tipo teoria
da dependncia` adotado pela etnologia contatualista, que eio a
azer sucesso mundial na antropologia dos anos 0 sob o nome
genrico de Political economy school`, tem pelo menos um pon-
to em comum com o materialismo ccolgico-cultural, como ob-
serou perspicazmente S. Ortner ,1984,24. As pesquisas inspira-
das no paradigma antropolgico da economia poltica`, diz Ortner,
lae s h i t e d t he ocus to l a r g e - s c a l e re gio nal p oli t i ca l , ec o n o m i c
sys tem s | . . . | Insoar as they hae attem pted to com bi ne this ocus with
t raditional ieldwork in speci ic com m uni ti es o r m icro-regions, t he ir research
23. Para um exame do debate entre aricanistas e americanistas na lrana, er
1aylor, 1984 ,comentada em Vieiros de Castro, 1992, e Albert, 1995
,comentado em Lima, 1998,.
24. O artigo de Sherry Ortner uma discussao brilhante dos rumos da teoria
antropolgica dos anos 60 aos meados da clcada de 80. Lntre suas quali-
dades esta a de relatiizar as irtudes teologais de certas nases ja entao, e
ainda, em moda no pas e alhures. Sua leitura instrutia tambm por
perm itir uma estreita correlaao entre a antropologia eita no Brasil e a
teoria internacional. La como ca, alias, o paradigma da Political economy
school` ,tambm conhecida como teoria do sistema mundial` etc.,, oerlaps
with the burgeoning ethnicity` industry` ;o. cit.: 142,.
1 3 4
l i D U A R D O V l V I U R O S D l i C A S 1 R O
has g e n e r a l l y taken the orm o s tu dyi ng the eects o cap it ali st penetrati on
upon those com m unities | . . . | 1 h e em phasis on the im pact o external
orces, and on the ways in which societies change or eole largely in adaptation
to such im pact, ties the political econom y school in certain ways to the
cultural ecol og y o the sixties, and indeed m any o its current practitioners
were trained in that school | . But w hereas or sixt ies cultural ecology,
ot en stu d yi ng relatiely p rim it ie` s ocieti es, the im p ort a nt ex t ern al orces
were those o the natural enironm ent, or the seenties political econom ists,
g e n e r a l l y studying p ea s a n t s ` , the im p ort ant ex t ern a l orces are those o
the s ta t e and the cap it ali st w orld system ;o. cit:. 1 4 1 - 1 4 2 , .
Com eeito, entre a natureza ,americana, e a histria ,euro-
pia,, desaparece a sociedade ,indgena,. Atirados de um lado
para o outro pela necessidade natural e pelas necessidades do
capital, os poos indgenas sao istos como registros contingen-
tes de realidades mais eminentes. O capitalismo ou o Lstado
colonial disputam assim com a ordem natural o papel sobrenatu-
ral de Grande Objetiador. Longe de e.tarev situados vo Brasil,
os ndios, segundo ambas essas concepoes, .ao situados eto Bra-
sil: ora pelo Brasil ecolgico, ora pelo Brasil poltico. ,Quando,
mais tarde, o ecolgico se tornou uma maniestaao priilegiada
do poltico, as coisas se complicaram para os dois lados.,
Aqui talez alha a pena dirimir uma ambigidade entre a
reerncia puramente cartograica da situaao no Brasil` de que
ala Peirano e o uso conceitualmente motiado da palara situa-
ao` pela escola contatualista, em que ela costuma aparecer adjetiada
como situaao histrica`25. A ambigidade possel porque em
ambos os casos a noao de situaao` tomada no sentido substan-
tio de condiao`, isto , como acticidade: uma situaao histri-
ca` uma condiao` temporalmente circunscrita. Os ndios de que
alamos estao situados geograicamente no pas, sem dida, e o
25. A ascendncia terica deste conceito de situaao` remonta as analises
situacionais` da Lscola de M anchester ,Gluckman, principalmente, e ao
transacionalismo de l. Barth - duas ersoes do paradigma que Kuper ,1992:
5, chamou de malinowskiano` . Ver tambm Ortner, 1984: 144-145 n. 14.
l i 1 N O I . O C I A B R A S I U U R A
1 3 5
Brasil` , certamente, um elemento de sua situaao` histrica, nes-
sa acepao passia. Mas, na rmula de Peirano, a situaao` isa
indicar um carater circunstancial, para a escola do contato, ao con-
trario, ela designa uma propriedade condicionante dos coletios
indgenas: a .itvaao aefive o .itvaao. A noao de situaao histrica
unciona como analogo do conceito de ambiente ecolgico de um
organismo, mas sob uma perspectia adaptacionista que a uni-
dade situada` ou ambientada` como sendo o resultado de pressoes
externas objetias que a penetram e constituem, o ambientado c
arte e roavto do ambiente26. Contra semelhante entendimento, a
antropologia indgena contemporanea toma a noao de situaao
no mesmo sentido em que a biologia cnomenolgica toma o par
organismo,ambiente2. Uma situaao uma aao` ela um .itvar. O
situado5 nao e deinido pela situaao` - ete a aefive, aefivivao o qve
covta covo .itvaao. Por isso, ao introduzir o Brasil` na situaao
histrica` dos ndios, nao estou simplesmente dizendo em outras
palaras que o dispositio colonial explica ,situa`, as sociedades
indgenas. C, que Peirano chamou Brasil` s parte da situaao
histrica das sociedades indgenas porque ele um dos ob;eto. de
um trabalho histrico atio de o.iao etfi .itvaao realizado eta.
sociedades indgenas. A etnologia dos ndios situados no Brasil`
esta interessada assim, entre muitas outras coisas, em saber como
os ndios .itvav o ra.it-e, portanto, como eles .e situam, Brasil
e em outros contextos`: ecolgicos, sociopolticos, csmicos...
26. A escola do contato se compraz em criticar os modelos organicistas` de
sociedade ,Olieira l, 1988,. Mas as nooes de contexto` e de contextu-
alizaao` que cia priilegia nao deixam de recordar um modelo ambientalista`
que os objetos que se estuda ,organismos ios ou coletios humanos,
como inscrioes locais cle uma ordem histrico-natural que os transcende,
explica e produz. O contexto histrico` ocupa aqui o lugar magico-terico
da natureza` com o exterioridade objetia, a contextualizaao uma natura-
lizaao a prestaao.
2. Lstou pensando em etlogos como Von U exkl l, bil ogos com o R.
Lewontin, antroplogos como 1. Ingold, e ilsoos como G. Simondon.
1 3 6
K D U A R D O V I V I U R O S Di C A S 1 R O
A 1RADI(AO DA INVLN(AO
L digno de nota que a ordem de exposiao adotada por
Alcida inerta a sequncia temporal das duas perspectias apre-
sentadas, e que ela nao se preocupe em comentar as origens
tericas da primeira delas, eocada apenas no marco etnograico
do larard-Central Brazl Project. Oereamos aqui uma outra
narratia28.
Os ltimos trinta anos, ao mesmo tempo em que assistiram
a um enorme aano quantitatio e qualitatio nos estudos ind-
genas, iram tambm uma dierenciaao da linguagem at entao
comum aos etnlogos e aos outros cientistas sociais do pas.
Ainda que sendo, em boa medida, uma conseqncia da institu-
cionalizaao da ps-graduaao, da acumulaao de conhecimentos
e da expansao da populaao de pesquisadores, atores que con-
duzem a especializaao, esse aastamento oi sobretudo o resulta-
do de uma mudana de horizonte na etnologia brasileira. A pro-
porao que se comeou a dedicar uma atenao mais aproundada
as instituioes e organizaoes sociais indgenas, que se passaram
a adotar protocolos mais rigorosos de pesquisa, com o aprendi-
zado das lnguas natias e estadas mais prolongadas no campo, e
que o intercambio setorizado com especialistas de outras partes
do mundo se intensiicou, os marcos de inscriao do objeto se
deslocaram. As relaoes entre as sociedades indgenas brasileiras
e outras sociedades morologicamente semelhantes de outras partes
do mundo, bem como as conexoes histrico-estruturais entre as
diersas ormaoes sociais indgenas do continente, passaram a
ocupar um lugar de destaque na relexao etnolgica, reduzindo
,sem chegar a inerter, a hegemonia de uma abordagem que ia
os ndios essencialmente como um captulo -indo ou menor -
da histria e sociologia do Brasil, isto , como populaoes cujo
28. Uma ersao vai. c o v t e t a . e e v c o v t r a e v 1ireiro. de Ca.tro, 12 e
1996a.
l i 1NOI . OGI A BRASII. K1RA
1 3
interesse antropolgico se resumia as suas contribuioes a cultu-
ra nacional ou a seu papel de smbolo -passado ou perene -dos
processos de sujeiao poltico-economica que se exprimiriam de
modo mais moderno` na dinamica da luta de classes de nosso
capitalismo autoritario.
Se o deslocamento acima mencionado, que comeou timi-
damente no inal dos anos 60, desembocou em um modo de
inestigaao distante das preocupaoes caractersticas da ideolo-
gia do vatiovbvitaivg` e com isso aastou parte da etnologia das
demais cincias sociais, quase sempre entretidas com temas bra-
sileiros -, contribuiu tambm para um dircio entre duas linhas
de pesquisa presentes na etnologia uniersitaria das dcadas an-
teriores c que at entao haiam coniido sem problemas, prati-
cadas sucessia ou simultaneamente pelos mesmos pesquisado-
res ,nacionais e estrangeiros,: a linha dos estudos preocupados
em descreer etnograicamente as ormas socioculturais natias,
mais tarde identiicada como etnologia classica`, e a linha dos
estudos de aculturaao ou mudana social, mais tarde associada a
noao-emblema de contato intertnico` e seus deriados. Lssa
ratura, que chegou, entre 195 e 1985 aproximadamente, a dei-
nir algo como linhagens antagonistas -os etnlogos dos ndios
puros ou isolados` rer.a. os dos ndios aculturados ou campone-
ses` -, continua, como imos, em igor em alguns centros do
pas, embora com sua signiicaao terica bastante esaziada, em
ista das mudanas ocorridas a partir dos anos 80, tanto na prati-
ca antropolgica como na presena poltica dos poos indgenas
nos cenarios nacional e internacional, que dissoleram a oposi-
ao eolucionista entre tradiao` e mudana` , ndios puros` e
ndios aculturados`.
Mas essa dissoluao nao tomou a direao que se poderia
imaginar -porque o que se dissoleu era, justamente, imaginario.
Assim, depois de anos de polmicas acerbas, em que os partida-
rios da etnologia do contato martelaam que a covaiao cavove.a
1 3 8
DS B J S M B L R G Q F G M L N A N O M L
,com opao de proletarizaao`, era o deir histrico inexorael
das sociedades indgenas, e que a descriao dessas sociedades
como entidades socioculturais autonomas supunha um modelo
naturalizado` e a-histrico, eis que de repente os ndios comeam
a reiindicar e terminam por obter o reconhecimento constituci-
onal de um estatuto dierenciado permanente dentro da chamada
comunhao nacional`, eis que eles implementam ambiciosos pro-
jetos de retradicionalizaao marcados por um autonomismo
culturalista` que, por instrumentalista e etnicizante, nao menos
primordialista nem menos naturalizante, eis, por im, que algu-
mas comunidades rurais situadas nas areas mais arquetipicamente
camponesas` do pas poem-se a reassumir sua condiao indge-
na, em um processo de trav.figvraao etvica que o exato inerso
daquele anunciado por Darcy Ribeiro ,190, em proecia acredi-
tada, com um retoque ou outro, pelas geraoes subseqentes de
tericos do contato. Lstes agora descobrem que o que estudaam
como se ossem comunidades rurais que apresentaam a parti-
cularidade de ser indgenas` eram, na erdade, comunidades ind-
genas que tinham a particularidade de ser camponesas`29. Redistri-
buiao das qualidades primarias e secundarias, do necessario e do
acessrio Lm ace das preocupaoes metasicas, caractersticas
da escola con tatuai is ta, com a vatvrea vttiva de seu objeto ,natu-
reza que ela as ezes chama, por curiosa antrase, de construao`,,
tal reiraolta dee estar sendo dicil de administrar30.
A partir do incio dos anos 0, a etnologia sul-americana
iniciou um amplo e concertado salto adiante na cobertura
etnograica do mundo indgena, ao mesmo tempo, ela procedeu a
uma completa atualizaao terica dessa ronteira ssil` da an-
29. Pararaseio aqui Arruti ,199: 13,, que az o contraste para o caso dos
estudos sobre comunidades negras. O ndio genrico` reelou-se um cam-
pons realmente muito particular, sobretudo agora que alguns campone-
s es` g e v e r i c o . estao r i r a va o vaio. v v i to articvtare..
30. Sobre a natureza ltima dos grupos tnicos`, er Olieira l, 1998: 61.
|s1NOI.OGIA lR ASl.ll RA
1 3 9
tropologia que era o americanismo tropical at entao ,1aylor,
1984,. No caso brasileiro, isso signiicou uma decisao de se res-
tabelecer o equilbrio entre a sociologia do contato, que haia
progredido muito nos anos anteriores ,desdobrando-se em com-
plicadas discussoes sobre o campesinato e os modos de produ-
ao,, e a antropologia indgena, que permanecia notaelmente
pobre dos pontos de ista descritio e conceituai31. A conscincia
desse descompasso entre a prolieraao de estudos intertnicos e
o pouco que eetiamente se sabia sobre os sistemas natios
tornaa necessario estender o aano realizado pelo grupo de
Maybury-Lewis e outros especialistas no Brasil central at outras
areas culturais, em especial at a Amazonia brasileira, criando
uma interlocuao com pesquisadores como P. Riiere e J. Oering,
que haiam comeado uma relexao rigorosa sobre as sociologi-
as natias do escudo da Guiana. Lsse moimento, como eu disse
acima, tee como um de seus objetios a elaboraao de paradig-
mas apropriados aos regimes indgenas, isto , ele eetuou uma
crtica amazonizante` das linguagens analticas importadas de
outras regioes estudadas pela antropologia, notadamente a rica
e a Oceania, ontes principais dos modelos etnolgicos da po-
ca32. Lm unao desse propsito - caracterizar de modo mais
31. Para se ter um a iclia, at a publicaao da monograia de Maybury-Lcwis
sobre os Xaante ,196,, a descriao teoricamente mais soisticada de que
se dispunha sobre uma sociedade indgena situada no Brasil consistia nas
duas teses cle llorestan sobre os 1upinamba, baseadas cm uma etnograia`
elha de quatro sculos e azadas em uma linguagem analtica de dicil
d egluti ao nos anos 0. Do ponto de ista descritio, o trabalho de
Nimuendaju era eidentemente um marco, mas justam ente por ser anom a-
lo em sua alta qualidade etnograica. Sua inluncia sobre Li-Strauss e
mais tarde sobre o grupo de Maybury-Lewis do conhecimento geral.
32. Assim, enquanto o . v o c t e t o . a f r i c a v o . ` a o e . t r v tv r a t fvv c i ov a ti . v o forav
deinidos pelo noo americanismo como um dos principais entraes ao
entendimento adequado dos regimes indgenas, a sociologia do contato
eio a luz assistida justamente por um modelo ahi can o ` , o conceito de
situaao colonial` de Balandier. Seria interessante pensar sobre um a poss-
!#
l i D U A R D O V l V K l R O S D K C A S 1 R O
preciso os sistemas sociocosmolgicos indgenas a questao do
contato intertnico oi tratada, ao menos de incio, algo perunc-
toriamente. De seu lado, os captulos dedicados aos elementos
de organizaao social` das monograias produzidas pelos tericos
do contato mostraam que estes continuaam prisioneiros da su-
pericialidade etnograica e da linguagem tipolgica de que nos
queramos lirar33.
As dcadas de 0 e 80 assistiram a um renascimento da
etnologia americanista em escala mundial. O primeiro resultado
oi a prolieraao de etnograias tecnicamente modernas, nas quais
as ivftvvcia. europias superaam as norte-americanas, mais ortes
nas dcadas anteriores34. Logo em seguida, snteses comparatias
regionais, tematicas ou conceituais, oram construindo um cam-
po problematico comum, em um trabalho que prossegue35. A
el conexao entre esse aricanismo` conceituai e aquela projeao do mode-
lo das 'relaoes raciais` sobre as relaoes intertnicas` .
33. 1raditional s t u d i e s . . . oten presented us with a thin chapter on historical
background` at the beginning and an inadequate chapter on social change`
at the end. 1he political economy study inerts this relationship, but only
to create the inerse problem` ,Ortner, 1984: 143,. De ato, os estudos
tpicos da escola do contato intertnico espremiam um captulo, geralm en-
te inadequado, sobre organizaao . o c i a t ` e v t r e t o v g a . partes dedicadas ao
historical background` ,mas entendido apenas como histria do contato, e
a social change` ,e a questao cle saber o que, exatamente, estaa a passar
por tal processo permanecia algo misteriosa,.
34. M aybury-Lewis, 196, Riiere, 1969, Basso, 193, DaMatta, 196, Oering
Kaplan, 195, M elatti, 198, Carneiro da Cunha, 198, C. lugh-Jones,
199, S. lugh-Jones, 199, Seeger, 1981, Chaumeil, 1983, Albert, 1985,
Crocker, 1985, Vieiros de Castro, 1986, Lea, 1986, Descola, 1986, 1ownsley,
1988, McCallum, 1989, Ramos, 1990b, Gow, 1991.
35. Ver Oering Kaplan, org., 19, Seeger et at., 199, 1urner, 199, Oering,
1981, Butt Colson & leinen, orgs., 1983-1983, Kensnger, org., 1984,
Rere, 1984, 1urner, 1984, Menget, org., 1985, lornborg, 1988, Vieiros
de Castro & Carneiro da Cunha, orgs., 1993, Descola & 1aylor, orgs., 1993,
Vieiros de Castro, org., 1995, lenley, 1996a. lm Vieiros de Castro,
1996a, encontra-se um mapeamento das dierenas internas ao campo te-
rico do noo americanismo.
U O K L G Y L E V M N V J V U V M
1 4 1
contribuiao da etnologia eita no Brasil a esse renascimento oi
decisia, como atestam as reerncias a uma escola de pensa-
mento europia-brasileira` ,em oposiao a uma escola norte-ame-
ricana, ou a uma teoria brasileira do parentesco`36. Alguns tex-
tos da dcada de 0 escritos por pesquisadores brasileiros, alias,
anteciparam questoes s leantadas bem mais tarde pela antropo-
logia, como os artigos seminais de DaMatta ,190, e Carneiro da
Cunha ,193, sobre as relaoes entre mito, ritual e histria, ou o
artigo de Seeger et at. ,199, sobre a corporalidade, que preigu-
raa a tematica do evboaivevt` hoje tao em oga e que tee, nao
obstante sua diusao restrita, um certo impacto na disciplina3.
Lssa expansao da antropologia indgena nas duas dcadas
passadas leou muitos etnlogos, cuja carreira se iniciou no co-
meo dos anos 80, a reerter certas pr-escolhas tericas, passan-
do da sociologia do contato a antropologia indgena. Vanessa
Lea ,1986, e Peter Gow ,1991,, por exemplo, que saram a estu-
36. Ver, p. ex., Riiere, 1993, \ hitehead, 1995: 0, lenley, 1996a, b, que assim
se reerem ao trabalho de etnlogos classicos` em atiidade no pas, nao a
ethnology Brazilian style` .
3. Comentando a mudana de rumos da etnologia americanista iniciada na
segunda metade dos anos 0, Riiere escreeu recentemente, It was the
publication o A construao da pessoa nas sociedades indgenas brasilei-
ras` ,Seeger et at., 199, that proed decisiely inluential. 1hese authors
rejected what they labelled as the Arican m o d e l . . . and went to make some
positie proposals. 1hey argued that, in Lowland South America, societies
are structured in terms o the symbolic idioms ,names, essences etc., that
relate to the construction o the person and the abrication o the body.
1his set o ideas hae been ery inluential, although one suspects that its
ull im pact has been lost because not only that work but much o the
resulting literature has been published only in Portuguese` ,1993: 509,.
Lsse balano de Riiere da uma boa idia do peso contemporaneo da
etnologia eita no Brasil: um tero de suas reerncias composto de
trabalhos escritos por brasileiros ,naturais, culturais ou institucionais,. Uma
consulta as outras bibliograias da coletanea em que ele apareceu reora
esta impressao ,Descola & 1aylor, orgs., 1993,, que pode ser conirmada
em trabalhos mais recentes ,lirtzel, 1998, Surrales, 1999,.
1 4 2
r D U A R D O V l V K l R O S D K C A S 1 R O
dar os Kayap e os Piro munidos do ideario da escola do conta-
to, isando documentar os processos de penetraao do capitalis-
mo e do colonialismo na ida indgena, terminaram escreendo
estudos detalhados justamente sobre o parentesco -esse emble-
ma da antropologia classica -, ao perceber que essa era a dimen-
sao que os ndios lhe colocaam a rente38. 1rocaram, assim, a
sociologia da questao indgena` por uma antropologia das qve.
toe. ivageva., tornadas teoricamente acesseis a partir dos anos
0: rotaao de perspectia.
Mas, nesse momento, comeaa tambm a ser possel uma
retomada do tema do contato e da histria em noas bases. Isso
oi realizado, entre outros, por Gow, que em sua monograia
sobre os Piro da Amazonia peruana adotou uma estratgia que
demoliu a distinao entre os ndios puros` e seus etnlogos pu-
ristas`, de um iado, e os ndios misturados` e seus etnlogos
radicais`, de outro. Lscreendo sobre um grupo indgena que
parecia tipiicar um estado aanado de aculturaao, acampone-
samento e sujeiao aos poderes nacionais, Gow mostrou como
s se poderia atingir uma compreensao adequada do mundo ii-
do piro atras de sua inserao no panorama construdo pela
etnologia dos ndios puros` . Rejeitando explicitamente a pers-
pectia da sociologia do contato e da etnicidade ,1991: 11-15,, o
autor lanou mao dos trabalhos de Oering e de Vieiros de
Castro sobre as ilosoias sociais amazonicas ,o. cit.` 25-281,
290 ss., para argumentar que o estado aculturado` dos Piro era
uma transormaao histrica e estrutural dos regimes natios tra-
dicionais` e, mais que isso, que a trav.forvaao era um processo
inerente ao uncionamento desses regimes -regimes que sempre
38. Compare-se esse moimento com aquele realizado por etnlogos que co-
mearam seu trabalho alguns anos antes. Assim, Olieira l ,1988: 11-12,
conta como abandonou seu projeto inicial de estudar a ideologia de paren-
tesco dos 1icuna para mergulhar em uma analise do campo indigenista
local.
K 1 N O I . O G I A B R A S l I . l i l R A
1 4 3
tirerav a acvttvraao` por o r i g e v e fv va av ev t o da cultura`, e a
ext erioridade social por plo em perptuo moimento de
interiorizaao39. Gow mostraria, alm disso e sobretudo -contra
esteretipos ainda hoje em igor que a obra americanista de
Li-Strauss oerecia instrumentos muito mais ricos para se en-
tender a inscriao temporal do mundo iido dos Piro que as
teorias metacolonialistas do contato e da sujeiao4".
A dita etnologia classica`, assim, incorporou a questao do
contato intertnico, alendo-se dos conhecimentos que iera acu-
mulando desde as dcadas anteriores. O tema da transormaao
oi dissociado da teoria do acamponesamento` ,que parece ter
sido, alias, sepultada sem muita pompa por seus antigos iis, e
de outras objetiaoes igualmente redutoras, passando a se ins-
creer no plano mesmo dos pressupostos sociocosmolgicos dos
regimes natios. Recusando-se a tomar o mundo indgena como
simples cenario de maniestaao de uma estrutura de dominaao
algena, como um arbitrario cvttvrat ,Olieira l, 1988: 14, com
alor meramente particularizador de uma dinamica geral de su-
jeiao - arbitrario de medocre rendimento analtico, dada a pres-
sao inexorael exercida pelos processos homogeneizadores` pr-
prios da situaao colonial -, a etnologia classica` estendeu sua
prpria isada terica de um modo que lhe permitiu redeinir os
brancos, o Lstado ou o capitalismo como outros tantos daqueles
arbitrario. bi.trico. com que sempre se houeram e haerao os
sistemas natios ,Albert, 1988, 1993, Gallois, 1993, Gow, o. cit.`
S. lugh-Jones, 1988, 1urner, 1991, 1993, Vilaa, 1996a,. Para
39. Acculturation` is only possible here i acculturation` is a traditional eature
o indigcnous Amazonian societies` ,Gow, 1999: 2,. Lssa ideia oi esboada
em minha tese sobre os Arawet ,1986, er tambm Carneiro da Cunha &
Vieiros de Castro, 1985,, e mais tarde desenolida em um trabalho sobre
a representaao jesutica dos 1upinamba ,Vieiros de Castro, 1993c,, no
cjual a inluncia recproca do trabalho de Gow j a se az presente.
40. Lste tema de uma histria li-straussiana` da Amazonia indgena o oco
de um liro em preparaao de Gow ,1998,.
1 4 4
l i n u A R . n o V I V K I R O S n u C A S 1 R O
isso oi-lhe indiscutielmente necessario abrir e . . e . sistemas, aban-
donando as imagens conceituais de sociedade` e de cultura`
legadas pelo uncionalismo britanico ou pelo culturalismo ameri-
cano. Lmbora inspirada na crtica estruturalista as concepoes
totalizantes do objeto igentes nos paradigmas anteriores, seme-
lhante abertura oi acima de tudo o resultado -e este um
detalhe absolutamente undamental - de uma analise mais ina
das premissas socioculturais natias, nao de um ariori objetiista
que reiindicasse um maior naturalismo` ,Barth, 1992, para
este ou aquele modelo analtico geral que o pesquisador, criador
e criatura de seu prprio arbitrario terico, imagina ser a pereita
traduao da realidade. A noa .ociotogia ivageva que emergiu dos
anos 0 tee como instrumento e objetio, portanto, uma
ivaigeviaao aa .ociotogia -e oi isso que lhe deu seu carater pro-
priamen te an topoJgico.
Para que essa incorporaao da histria e do contato` acon-
tecesse, entretanto, oi preciso primeiro liberar a perspectia es-
trutural da interpretaao excessiamente britanica que ela sorera
por parte dos etnlogos do larard-Central Brazil Project. Ori-
entado pelas leituras que Necdham e Leach haiam eito de Li-
Strauss, o grupo de Maybury-Lewis, como outros etngraos da
Amazonia de entao, dedicou-se a aplicar os princpios da analise
estrutural a sociedades e cosmologias particulares, expurgando
assim o estruturalismo de alguns de seus aspectos mais radicais
,Ortner, 1984: 13,, e eitando a questao da relaao entre as
estruturas ivageva. tocai. e o undo histrico-cultural pan-ame-
ricano. A reerncia principal do grupo eram as obras da primeira
e mais durkheimiana` ase de Li-Strauss, notadamente . . e.
trvtvra. etevevtare. ao arevte.co e os artigos sobre o Brasil central,
em que o antroplogo rancs retom aa a et nogr ai a de
Nimuendaju, e seu tema por excelncia oi a organizaao dualista`,
particularmente pregnante no caso das sociedades J e Bororo.
Alm disso, se Li-Strauss era a inspiraao terica ,ou sobretu-
li1NO I,OG IA BRASiLKl RA
1 4 5
do tematica, principal desses estudos etnograicos, sua orienta-
ao metodolgica deia mais as monograias uncionalistas da
tradiao britanica. Seu objetio era descreer cada sociedade es-
tudada como um sistema total, ou holista` , para em seguida inse-
ri-lo em uma srie comparatia composta de outros sistemas do
mesmo tipo ,Gow, 1999,, o que nao corresponde nem a noao de
comparaao de Li-Strauss, nem a sua idia do que conta como
unidade` comparatia.
Abra-se um parntese. Que muitas das mais inluentes
etnograias sul-americanas das dcadas de 0 e 80 tenham sido
cortadas pelo molde das monograias classicas inglesas, nao ha
como contestar. Que elas deam ao estruturalismo antes uma
agenda tematica e alguns princpios tericos limitados que uma
orientaao sistematica, tambm erdade41. Que elas ,e aqui nao
me reiro apenas as do grupo de Maybury-Lewis, tenham dedica-
do pouca atenao a histria, adotando um certo holismo
apriorstico e um certo descontinusmo, como notam Gow ;o,>.
cit., ou Albert ,1988,, eis outro ato. Mas tais limitaoes nao
podem de orma alguma serir para desqualiicar iv tivive a con-
tribuiao dessas monograias a etnologia do continente - uma
contribuiao incomparaelmente maior que a trazida pelos estu-
dos aculturatios ou riccionistas das dcadas anteriores e poste-
riores. Ao contrario, Gow apoiou-se justamente nelas, argumen-
tando que os princpios que os etnlogos identiicaram como
constitutios do echamento holista dos sistemas indgenas eram
os mesmos acionados pelos Piro para situarem o sistema intert-
nico em que estaam situados` - e assim ez desaparecer a dis-
41. Ver Vieiros de Castro, 1992, 1aylor, em um acesso de undamentalismo
,este c.tvitvaYi.ta), v o . t r a . e surpreendentemente dura com o grupo do
larard-Central Bra,.il Project: aux U.S.A. par aillcurs, 1` inluence relle
de Li-Strauss a t en grande partie toue au prot d` une sorte de
morphologisme pseudo-structuraliste dius notamment par Maybury-Lewis
et ses disciples...` ,1984: 21,.
1 4 6
R D U A R D O V I V K I R O S D K C A S 1 R O
tinao entre sociedades puras` tradicionais e art.ocietie. campo-
nesas, porque as primeiras se mostraram muito mais abertas e as
segundas muito mais indgenas do que se imaginaa. Albert, por
sua ez, partiu de sua esplndida analise estrutural da cosmologia
,avovavi ;1:) para produzir uma relexao nao menos inoa-
dora sobre a etnicizaao` do discurso xamanico-poltico indgena
,1993,. De minha parte, utilizei um enquadramento aparente-
mente holista` para questionar precisamente a imagem autocontida
dos sistemas amazonicos e a representaao totalizante de socie-
dade`, tendo como contraponto retrico a etnograia centro-brasi-
leira ,Vieiros de Castro, 1986,. Alguns autores da escola
contatualista, ao contrario, parecem ter tomado as limitaoes da-
quelas monograias pioneiras como pretexto para ignorar sua exis-
tncia -e a de toda a etnologia amazonica que se seguiu -, dando
proa de estreiteza terica e de desinteresse etnograico. Os gru-
pos que os contatualistas estudam ,ou constrem`, sao tanto mais
parte do Brasil quanto menos situados estao na Amrica indgena,
parecendo lutuar em um acuo histrico-cultural. Nao sao sequer
parte de si mesmos, como as ezes se constata em certas obras
dessa escola, em que a raao alm-ronteira de um poo indgena
transnacional objeto de um proundo silncio descritio -e mes-
mo cartograico ,Olieira l, 1988: 8,. leche-se o parntese.
As prximas leas de etnlogos inluenciados pelo estrutu-
ralismo42 iriam partir da tetralogia Mitotgica., que deram ao
americanismo um instrumento de alcance continental ,Li-Strauss,
1964-191,. A publicaao de seu primeiro olume ,O crv e o
cotiao) desempenhou o mesmo papel paradigmatico que O vaio e
o vvvao ao. bravco., aparecido no mesmo ano ,Cardoso de Oliei-
ra 1964,, tee para a escola do contato. Sendo, a primeira ista,
um estudo puramente ormal dedicado as mitologias amerndias,
42. P. ex., B. Albert, M. Carneiro da Cunha, Ph. Descola, Ph. Lrikson, P. Gow,
C. lugh-Jones, S. lugh-Jones, 1. Lima, A. Seeger, A .-C. 1aylor, G. 1ownsley,
e B. Vieiros de Castro.
I O K L G Y L E G M N G V Y C G M
1 4
as Mitotgica. reelaam algo que os etnlogos que iniciaam seu
trabalho na Amazonia nao demoraram a perceber: que os mate-
riais simblicos de que as sociedades sul-americanas lanam mao
para se constituir, e assim as estruturas construeis pelo analista,
eram reratarios as categorias tradicionais da antropologia. Prin-
cpios cosmolgicos embutidos em oposioes de qualidades sen-
seis, uma economia simblica da alteridade inscrita no corpo e
nos luxos materiais, um modo de articulaao com a natureza`
que pressupunha uma socialidade uniersal - eram esses os ma-
teriais e processos que pareciam tomar o lugar dos idiomas
juralistas e economicistas com que a antropologia descreera as
sociedades de outras partes do mundo, com seus eixes de direi-
tos e deeres, seus grupos corporados perptuos e territorializados,
seus regimes de propriedade e herana, seus modos de produao
linhageiros. Longe de se constituir em contedos superestrutu-
rais` ou culturais` das ormaoes sul-americanas, aqueles mate-
riais e processos articulaam airetavevte uma sociologia indgena.
L por isso que as Mitotgica. ensinaam mais sobre as sociedades
amerndias que, por exemplo, os textos antigos do mesmo autor
sobre a cheia ou a guerra na Amrica do Sul, permitindo, alias,
uma recuperaao nao-durkheimiana da problematica de .. e.trv
tvra. etevevtare. ao arevte.co. Antes que se impusesse a constata-
ao de que os modelos analticos classicos eram inadequados
para as sociedades que estudaamos, as Mitotgica. ,e os estudos
delas deriados: Li-Strauss, 195, 1985, 1991, oram a primei-
ra tentatia de apreender as sociedades do continente em seus
prprios termos -em suas prprias relaoes -, bem como de
ornecer um inentario geral do repertrio simblico a partir do
qual cada ormaao social gera suas dierenas especicas.
Lnquanto os etnlogos do contato estaam preocupados
em sublinhar os processos homogeneizadores que submergiriam
os arbitrarios culturais indgenas em uma condiao de indianidade`
genrica, os etnlogos estruturalistas da Amazonia nao se con-
1 4 8
K D U A R D O V I V l I R O S D I - C A S 1 R O
tentaram em produzir descrioes particularizantes de sistemas
discretos, mas logo buscaram restabelecer a continuidade entre os
diersos sistemas indgenas -seja analisando os processos de inter-
transormaao estrutural, seja determinando as modalidades de
abertura ao exterior` prprias a cada sistema -e situar os proces-
sos de articulaao entre instituioes natias` e instituioes coloni-
ais` ve..e quadro histrico-sociolgico natio. Pois, se ha processos
homogeneizadores presididos pelo Lstado e a sociedade inasora,
nao os ha menos do lado indgena, e certas estruturas cosmolgi-
cas pan-americanas ,Vieiros de Castro, 1996b, deem certamente
ter codeterminado os processos de instituiao do indigenato. Mas
quanto a isso pouco se sabe, porque os estudiosos dos processos
de goernamentalizaao ou territorializaao parecem sempre
correlacionar o plo indgena ao particular ou passio, e o plo
nacional ao uniersal ou atio. L erdade que eles insistiram bas-
tante sobre o carater multiorme, nao-monoltico, historicamente
ariael das agncias` de contato, e isso desde a teoria das rentes
de expansao ,Darcy Ribeiro,. Mas, ao az-lo, eles isaam justa-
mente mostrar como um mesmo grupo indgena, em situaoes
moldadas por agncias de contato ,ou rentes de expansao, dier-
sas, dierenciaa-se em ormas organizacionais distintas, tornando-
se semelhante a outros grupos semelhantemente situados`:
A m inha idia era de que a s ituaao de encapsulam ent o | ...1 d e um
segm ent o de um g r u p o indgena por um tipo especi co de age nt e de co n -
tato geraa padroes de o r gani zaao social de um tipo bem det erm i nado,
que a pr oxim ariam a qu el e s egm en t o de o ut ras t rib os ,ou segm ent os de
tribo, ae.ar aa airer.iaaae cvttvrat. Paralelam ente, isso s ep araria um tal s e g -
m ento d out ros s egm entos da m esm o tribo, os quais ae.ar aa bovogeveiaa
ae cvttvrat possussem um a di erent e situaao d e contat o ,O lieira l, 1988:
13, gri os m eus,.
V-se bem como a situaao deine exaustiamente o situa-
do: este tomado como matria plastica e passia pronta a rece-
ber uma orma que, por especica, nao unciona menos como
U 1 N O I . O G I A B R A S l . K I RA
1 4 9
uniersal constitutio, exercendo-se ae.ar da cultura. A diersi-
dade ou homogeneidade cultural` dos grupos indgenas aparece
corno um arbitrario` inerte, em oposiao a diersidade ou homo-
geneidade social` atiamente imposta pelas` agvcia. de contato.
Contraste-se essa concepao da agncia` do contato ,no sentido
ingls de agevc, como agencionalidade`, com a isao da agvcia
natia presente, por exemplo, em alguns estudos estruturaJistas`
recentes sobre a missionarizaao de sociedades amazonicas, onde
os eeitos culturais` de agncias religiosas distintas sao examina-
das a luz de suas possibilidades de reinterpretaao pelos pressu-
postos sociais` de um dado grupo indgena ,Vilaa, 1996a, b,.
Mais geralmente, essa preocupaao em mostrar como a sujeiao
ao Lstado gera uma condiao comum ae.ar das dierenas de
contedo deriadas das dierentes tradioes culturais enolidas`
,grio meu, -isto , prossegue o autor, um modo de ser caracte-
rstico dos grupos indgenas assistidos pelo rgao tutor | . . . | que
eu poderia chamar aqui de indianidade para distinguir do modo
dc ida resultante do arbitrario cultural de cada um` ,Olieira l,
1988: 14, grios originais omitidos, - essa preocupaao contrasta
de modo notael com a abordagem que identiica um modo de
ser caracterstico` tavto dos grupos indgenas indianizados` pelo
Lstado covo dos grupos menos aetados por esse processo ,Gow,
1991,. Neste ltimo caso, o oco sobre a continuidade
interindgena isel ae.ar das dierenas de contedo` deriadas
aa. aiferevte. .itvaoe. ae covtato evrotriaa..
Se me preocupei em registrar a grande inluncia de Li-
Strauss sobre a etnologia dos ltimos trinta anos, deo entretanto
sublinhar que a produao do perodo esta muito longe de ser
epigonal. Na erdade, a maioria do que oi escrito pelos pesqui-
sadores inluenciados por Li-Strauss ,a comear pelos mem-
bros do grupo de Maybury-Lewis, oi, de uma orma ou de ou-
tra, escrito contra` aspectos genricos ou especicos da obra
desse antroplogo, e muitos dos americanistas rejeitariam qual-
1 5 0
I i D U A R D O V l V l i l R O S D U C A S 1 R O
quer associaao com o rtulo estruturalismo`. Mesmo aqueles
mais alinhados com a inspiraao estrutural dedicaram-se justa-
mente a problematizar, corrigir ou suberter certas teses ou na-
ses da obra li-straussiana. Recordem-se, por exemplo, as modi-
icaoes do modelo das Mitotgica. exigidas por sua aplicaao a
um corv. discursio circunscrito ,S. lugh-Jones, 199,, ou a
transormaao bastante drastica da noao de estrutura elementar
de parentesco` no contexto amazonico ,Vieiros de Castro, 1993a,
1998a, A.-C. 1aylor, 1998,, ou ainda a inersao da nase sobre a
leitura totmica` e metaorizante da oposiao Natureza,Cultura
em aor de processos de tipo metonmico ,Descola, 1992, Vi-
eiros de Castro, 1986, 1996b, 1. Lima, 1996,. Mas pouco impor-
ta. O ponto que praticamente toda a etnologia da Amrica do
Sul praticada ora do marco do contatualismo .e.trvtvrati.ta
no sentido correto da expressao, isto , ela supoe a existncia
anterior da obra de Li-Strauss e reconhece que os termos de
mais de um problema etnolgico crucial oram decisiamente
estabelecidos ou reormulados por esse antroplogo. A etnologia
sul-americana atual escrita a artir de Li-Strauss, mesmo quan-
do escrita contra ele43. O ponto merece atenao porque, para os
americanistas, a obra de Li-Strauss nao esta associada apenas
43. O melhor exemplo disso 1erence 1urner, um dos crticos mais eeementes
do paradigma estruturalista, mas que em suas analises mitolgicas ,p. ex.,
1urner, 1980, 1985, ou em suas interpretaoes da estrutura social dos J
do N orte ,p. ex., 1984, nao se urta a trabalhar com o instrumental analti-
co ou com as intuioes interpretatias de Li-Strauss. A esse ps-estrutu-
ralismo em sentido prprio ,mais ou menos simpatico a Li-Strauss, da
etnologia americanista dee-se contrapor a demonizaao do antroplogo
rancs por alguns contatualistas brasileiros ,que nao estao sozinhos nisso:
er, p. ex., lill, org., 1988,, eternamente obcecados por uma imagem-
antasma do estruturalism o como paradigma que preciso superar` , mas
que ao mesmo tempo escreem como se a obra de Li-Strauss e, em
particular, sua obra etnolgica, nunca tiesse existido. Lntre negar o que se
incorporou e negar o que sequer se comeou a digerir ai uma grande
dierena. Nem todo antiestruturalismo ps- , pois pode bem ser pr-` ,
I O K L J L E G M N G G Y F G M
1 5 1
,para alguns, sequer principalmente, ao estruturalismo como es-
cola`, e seu autor nao apenas mais um dos nomes destronados
pelas mudanas sobreindas no mercado consumidor de vaitre. a
ev.er. 1rata-se de uma obra e de um autor que se reerem priile-
giadamente a etnologia americana, que propuseram teses e argu-
mentos especicos a respeito dessa realidade, e que introduziram
o pensamento indgena na teoria antropolgica geral, retirando-o
do gueto em que jazia desde o sculo XVI. Lm suma, a inlun-
cia de Li-Strauss sobre o amercansmo se dee tanto ao ato
de que a antropologia estrutural estee em eidncia acadmica
durante alguns anos, quanto ao ato, mais importante e menos
isel aos obseradores externos, de que esse autor um
americanista, tendo erguido a parte principal de sua obra a partir
da etnograia do continente4'1. Quanto ao mais, diga-se apenas
como atesta a progressao regressia da antropologia em direao a . . . - a
Sartre, por exemplo, outro cone dos anos dourados ,Delacampagne &
1raimond, 199, Li-Strauss, 1998,.
44. Lm um artigo que discutiremos mais adiante, Olieira ,1998: 49, menciona
um juzo de A .-C. 1aylor sobre o arcasm o` que caraterizaria a etnologia
americanista, para imputar tal trao a inluencia daninha de Li-Strauss.
Registro aqui meu protesto. Olieira conhecido por insistir sobre a impe-
riosa necessidade metodolgica de contextualizaao, e por acusar seus co-
legas de completa abstraao dos contextos em que sao gerados os dados
etnograicos` ,,. cit.: 6,. Mas a caridade comea em casa: ele teria andado
bem se aplicasse sua prpria liao ao v . o que ax do juzo de 1aylor ,1984,.
Com eeito, Olieira procede a mais covteta abstraao do contexto cm que
esse eredicto sobre o arcasmo oi gerado, ou melhor, ele opera uma
descontextualizaao tendenciosa que inerte o sentido original do juzo.
Quem or ao texto de Anne-Christine 1aylor ,1984, era que a pecha
lanada sobre a situaao da etnologia sul-americana avterior a inluncia do
estruturalismo, estendendo-se ao que a autora estima ser uma leitura iv.vfi
cievtevevte estruturalista da obra li-straussiana ,1aylor, o. cit.: 21, 229,.
O que ela como arcaizante sao as marcas deixadas na disciplina pela
etnologia alema da irada do sculo e, em seguida, pelo materialismo eco-
lgico-cultural. De resto, 1aylor exclui duas ezes a etnologia brasileira de
sua acusaao ,sau au Brsil`: pp. 21, 229,, que ela parece dirigir sobre-
tudo a etnologia norte-americana. Nessas duas ezes, a isenao se acompa-
'+(
l i D l M R D O J L J B C F E G A I G H F E
que a i nluncia da antropologia est ru t u ral sobre arios
americanistas contemporaneos uma entre muitas outras inlu-
ncias, algumas bem distantes do paradigma li-straussiano.
Conheo at estruturalistas ps-modernos...
5 : 8 B 6 C C h ? 0 @2 B : C # @2 B k
la poucos meses, apresentei, em um simpsio em
Manchester que reunia principalmente historiadores da cultura
ocidental, um texto sobre algumas concepoes amerndias de na-
tureza` e cultura` e suas dierenas rente a ulgata cosmolgica
da modernidade. Durante os debates, um dos participantes me
proocou: Seu trabalho muito interessante, mas seus ndios
parecem ter estudado em P a r i s . .. ` Respondi que, na realidade,
haia ocorrido exatamente o contrario: que alguns parisienses
haiam estudado na Amazonia. Argumentei que minha analise
deia tanto ao estruturalismo rancs quanto este deia antes a
etnologia americanista e, dessa orma, aos meus` ndios: nao ora
o Para que estiera em Paris, mas sim Paris no Para...
Meu interlocutor, um caalheiro que depois me oi apresen-
tado como Stuart lall, um dos pais undadores dos Cvttvrat
tvaie. britanicos ,ersao original,, pareceu dar-se por satiseito
com isso. Lu, entretanto, nem tanto. Parecia-me que a espetadela
pedia uma resposta mais reletida. A parte o tema bio da in-
luncia de Li-Strauss na produao etnolgica sobre a Amrica
indgena, haia uma questao undamental embutida nas palaras
de Stuart lall: o qve a avtrootogia aere teoricavevte ao. oro. qve
e.tvaa. Ou, inersamente: as dierenas e mutaoes internas a
teoria antropolgica se explicam principalmente ,e para todos os
nha de uma reerncia causal a Li-Strauss, cuja inluncia no Brasil, diz a
autora, teria sido m aior que em outros pases onde se az etnologia
americanista.
l i 1 N O L O G I A B R A S I I . B I R A
1 5 3
eeitos histrico-crticos, exclusiamente, pelas estruturas e con-
junturas dos campos intelectuais e contextos acadmicos de onde
prom os antroplogos Pararaseando aquela citaao de
llorestan -pois se trata, no undo, da mesma questao: seria essa
a vvica hiptese teoricamente releante Ou nao seria necessario
estabelecer uma rotaao de perspectia` que mostrasse como nu-
merosos conceitos, problemas, entidades e agentes propostos pe-
las teorias antropolgicas se enrazam no esoro imaginatio das
sociedades mesmas que elas pretendem explicar Nao estaria a a
originalidade da antropologia, nessa sinergia dialgica entre as
concepoes e praticas proenientes dos mundos do sujeito` e do
objeto` Reconhecer isso ajudaria, entre outras coisas, a ameni-
zar nosso complexo de inerioridade rente as impropriamente
chamadas cincias exatas`, e a trocar nosso cansado repertrio
crtico da desnaturalizaao` e outros clichs analogos.
1 h e d es cripti on o the /vbt is on a p ar with t hat o the black holes.
1 h e com pl ex system s o social all ianc e are as im aginatie as the com pl ex
e o l u t i o n a ry s ce nari os conceied or the sel ish genes. U n derstandi ng the
the ol ogy o Australian A borigi nes is as im p ort ant as ch art in g the g r e a t
un der se a rits. 1 h e 1robri and land tenure system is as in t ere st in g a s ci en ti ic
objectie as the p ola r icecap drilling. I we talk a bo ut w h at m atters in a
d e init ion o a sci ence - innoation in the agencies that urnish our world
-a nt h rop ol og y m igh t well be cl ose to the top o the d is c ipl in a ry pecking
o rd er ,Latour, 1996a: 5,.
Cuido que preciso lear a srio a idia de que as socieda-
des e culturas que sao objeto da inestigaao antropolgica inlu-
enciam, de modos ariados e decisios, as teorias sobre a socie-
dade e a cultura ormuladas a partir dessa inestigaao - inclusi-
e de modo a por sob suspeita radical os conceitos mesmos de
sociedade` e cultura` ,Strathern, 198, 1988,. Quem duida dis-
so aceita um construtiismo de mao nica que, sob pena de auto-
implosao solipsista, orado a desembocar na narratia usual: a
antropologia, at o exato momento em que escree o autor da
1 5 4
QOSZ2B?? F : F 6 : B ? C 5 9 4 2 C D B ?
denncia, sempre andou malconstruindo seu objeto, mas agora
,por que sempre agora, iu-se a luz e ela ai comear a constru-
lo adequadamente. Na erdade, quando se lem diagnsticos como
o de labian ,1983,, e sobretudo quando se lem as leituras que
sao eitas de labian e assemelhados, nunca se sabe se estamos
diante de mais uma crispaao de desespero cognitio diante da
inacessibilidade da coisa-em-si, ou da elha taumaturgia ilumi-
nista em que o autor encarna a razao uniersal chegada para
dispersar as treas da superstiao. ,Ver Argyrou, 1999, para uma
analise lcida dos pressupostos ultra-ortodoxos dessa antropolo-
gia heterodoxa`,.
Lstou portanto sugerindo, entre outras coisas, uma relean-
cia especica para a elha problematica do regionalismo` antro-
polgico, isto , a organizaao trav.vaciova| e tradicional da dis-
ciplina em subespecialidades como americanismo, aricanismo
etc., hoje execrada por essencialista, pr-ps-globalizaao e inde-
cncias similares ,er lardon, 1990,. Lsse regionalismo em sen-
do interpretado exclusiamente em termos dos condicionantes
no plano do sujeito` de conhecimento, que sao obiamente un-
damentais, merecendo-lhes ser aplicado todo o desconstrucionismo
a disposiao na praa. Mas ele tambm possui uma dimensao de
realidade no plano do objeto` que costuma ser minimizada, quando
nao soberbamente ignorada: como se os amerndios deessem
seus mundos iidos e concebidos aos am ericanistas...45
45. Assim , a analise, de resto excelente, eita por A.-C. 1aylor ,1984, sobre os
condicionantes do americanismo tropical`, em nenhum momento se p er-
gunta qual a contribuiao objetia das ormas socioculturais natias do
continente para a construao da imagem etnolgica do ndio` . A histria
intelectua europia ,e latino-americana,, acoplada ao modo de inserao da
Amrica indgena na empresa colonial, parece explicar tudo. L somente
agora, quando se assiste a une radicale transormation dans le rapport de
orce entre socits indigenes et socits dominantes en Amrique du
Sud`, com os poos indgenas se organizando e articulando um discurso
poltico, que a agncia indgena reconhecida pela autora.
l1 N O I . O G I A B R A S l . K I RA
1 5 5
Certamente nao penso que a antropologia seja o espelho da
natureza -ou, no caso, da sociedade ,alheia,. Mas tambm nao
penso que ela seja simplesmente o espelho da nossa sociedade.
Nao ha histria e sociologia que disarcem o subjetiismo dessa
tese, nem seu irritante paternalismo epistemoigico, que trans-
orma os outros` em icoes da imaginaao ocidental sem qual-
quer oz no captulo. Duplicar tal subjetiismo por um apelo a
dialtica da produao objetia do outro` pelo sistema colonial ,
para usarmos a expressao inglesa, acrescentar um insulto a uma
injria46. Parece-me isceralmente antiantropolgica uma atitude
que, ez por outra, poe a cabea de ora: a de achar que todo
discurso sobre os poos de tradiao nao-europia s sere para
iluminar nossas representaoes do outro`. Isso procede da con-
icao de que a antropologia, ineitaelm ente exotista e
primitiista, nao passa de um teatro pererso ,o tom sempre
moralizante, no qual o outro` sempre representado` segundo
os interesses srdidos do Ocidente. O problema que, de tanto
er no Outro sempre o Mesmo -de dizer que sob a mascara do
outro somos ns` que estamos olhando para ns mesmos -, o
passo curto para ir direto ao assunto que nos` interessa, a
saber: ns mesmos. Pessoalmente, estou mais interessado em sa-
ber como os outros representam` os seus outros que em saber
como ns o azemos, ainal, os outros sao outros porque seus
outros sao outros que os nossos ,ns, por exemplo,.
A alternatia a esse construtiismo de mao nica nao , por-
tanto, um objetiismo transcendental, nem, de resto, um subjetiis-
mo inertido que tomasse as chamadas teorias natias` como rele-
xoes autotransparentes sobre os mundos iidos de que sao parte, j a
Li-Strauss ,1950, haia amosamente argumentado que as teorias
indgenas sao elementos do problema que se apresenta ao obsera-
46. Ver Sahlins, 199a: 52 et a..iv para essa possibilidade de expropriaao
ontolgica das sociedades indgenas pelas teorias do Sistema M undial` e
pelos crticos do orientalism o` .
1 5 6
l D U A R D O V I V l I R O S D I C A S 1 R O
dor, nao sua soluao. Sem dida: va. o ve.vo .e atica a. teoria.
avtrootgica.. A alternatia, portanto, s pode ser um eonstrutiismo
de mao dupla, no qual a antropologia reconhea que suas teorias
sempre exprimiram um compromisso, em contnua renegociaao
histrica, entre os mundos do obserado e do obserador, e que
toda antropologia bem eita sera sempre uma antropologia simtri-
ca` em busca de um vvvao covvv ,Latour, 1998,.
0 MARCO NACIONAL
Voltemos ao problema da ethnology Brazilian style`, e exa-
minemos seus ttulos de brasilidade, que nao sao assim tao pa-
tentes. Os estudos indgenas no Brasil sempre contaram com um
contingente expressio de praticantes estrangeiros, como se sabe,
nossa etnologia comeou em larga medida com eles, dos natura-
listas iajantes do sculo passado aos pesquisadores e proesso-
res que se ixaram no pas a partir das dcadas de 20 e 30, e que
at o incio do perodo em reista tieram um peso determinante.
Mas ja nos anos 40-50 em Sao Paulo, e nos anos 50-60 tambm
no Rio, inicia-se o processo de substituiao de importaoes aca-
dmicas, com a ormaao crescente de e t v t o g o . do pas e v o
pas. Com a criaao dos cursos de ps-graduaao em antropolo-
gia a partir de 1968, a participaao nacional na produao etnolgica
cresceu ertiginosamente, e hoje a imensa maioria de pesquisas
em curso no Brasil eita por brasileiros. Apesar disso, ainda sao
muitos os grupos indgenas que s oram estudados de modo
aproundado por pesquisadores indos do exterior, em muitos
casos, deido a precedncia histrica e ao estilo etnograico esco-
lhido, a monograia de reerncia permanece sendo estrangeira. L
tambm digno de nota que a etnologia seja ainda hoje a area de
atuaao preerencial de pesquisadores estrangeiros`. Uma propor-
ao muito considerael dos etnlogos em atiidade nas uniersida-
l i 1 N O I . O G I A BR A S I I . K!RA
1 5
des do pas de origem estrangeira, em todos os graus posseis
de aculturaao ,do sotaque carregado a mera certidao de nasci-
mento,. Lsse nmero proaelmente maior do que o encontra-
do em todas as outras sub-areas, somadas, da antropologia.
A importancia histrica da produao estrangeira, como se-
ria de se esperar, tambm reconhecida em outras cincias so-
ciais, mas sua incidncia nao oi exatamente a mesma em todas
elas. No caso da historiograia do Brasil, por exemplo, Laura
Mello e Souza obserou que as obras inluentes escritas por nao-
brasileiros dedicaram-se antes a dimensao poltico-economica, ao
passo que a histria cultural oi uma proncia desde cedo ocu-
pada por pesquisadores natios. Na etnologia teria sido o inerso
que ocorreu, a se acreditar em uma obseraao reqentemente
eita: a de que o oco nas sociedades indgenas como totalidades
socioculturais` seria caracterstico dos pesquisadores indos de
ora, os nacionais preerindo analises polticas e economicas das
situaoes de contato intertnico ,Melatti, 1982: 266, Ramos, 1990a:
2, Peirano, 1992: 2-3,.
1omando-se de modo puramente impressionista a marcante
presena estrangeira na etnologia, isel ainda hoje, algumas idias
cruzam a mente. A primeira que os estrangeiros seriam mais
senseis a um ideal de exotismo e primitiidade que, at bem
pouco, nao seduzia muito os brasileiros - estes pareciam preerir,
reciprocamente, os exotismos da modernidade metropolitana. A
segunda que os cientistas sociais brasileiros priilegiariam, por
sociologicamente mais representatias e ideologicamente mais
releantes, outras populaoes e categorias sociais do pas: nao
seria entao por acaso que os etnlogos ,culturalmente, brasilei-
ros tenderiam a aorecer precisamente os processos de articula-
ao da sociedade nacional com os poos indgenas, isto , o
contato intertnico. O interesse pela alteridade radical`, ainda
que interna as ronteiras do pas, nao seria portanto uma caracte-
rstica tipicamente nacional ,Peirano, 1998: 116-119,. Nao estou
1 5 8
L D U A R D O V I V l I R O S D K C A S 1 R O
conencido de que esse seja realmente o caso, pois, se osse,
entao s nos restaria concluir que o pas e sua etnologia tm,
elizmente, muitos brasileiros atpicos`.
A associaao entre etnologia da tradiao` e estrangeiros`, de
um lado, e etnologia da mudana` e nacionais`, de outro, empiri-
camente discutel. Um dos primeiros etnlogos uniersitarios a se
interessar pelos estudos de mudana cultural no Brasil oi lerbert
Baldus, e nas dcadas seguintes pesquisadores como James e Virginia
\atson, Charles \agley, Kalero Oberg e Robert Murphy ilustra-
ram-se nessa linha de pesquisa ,er as reerncias cm Melatti, 1983:
20-21,4. O mesmo se aplica ao interesse mais recente pela histria
do c o v t a t o ivteretvi co, em que se podem recordar os trabalhos de
1homas ,|19681, 1982,, lemming ,198, 198, ou Dais ,19,.
Por sua ez, o primeiro grande estudo sobre um sistema social
indgena tomado como totalidade sociocultural` oi leado a cabo
pelo brasileiro, para nossa honra, llorestan lernandes.
L erdade que, a partir do inal dos anos 50 at o inal da
dcada de 0, a problematica da mudana oi-se identiicando a
uma linhagem especica de etnlogos nacionais, originaria do
cruzamento da etno-sociologia paulistana com o indigenismo do
SPI. Reiro-me, claro, aos ja citados Darcy Ribeiro, Roberto
4. M atiza Pciratio, ao contrastar o interesse estrangeiro pelas caractersticas
intrnsecas dos grupos indgenas` com o nacional pelo tema do contato,
ressala que antroplogos |estrangeiros| radicados no Brasil ja trataam da
relaao entre grupos indgenas e sociedade nacional, mas geralmente em
artigos distintos daqueles em que analisaam o sistema social indgena` ,1992:
2 - 3 , n. 15,. L erdade, mas isso nao quer dizer que os antroplogos
natios passaram a tratar conjuntamente das duas coisas. Varios deles conti-
nuaram escreendo analises distintas, com um liro ou artigo sobre o conta-
to e outro sobre as caractersticas intrnsecas` ,exemplos: R. Cardoso, R.
Laraia, R. DaMatta, J. C. Melatti,. Alm disso, muitos simplesmente encaparam
juntos, como captulos de uma mesma obra, os dois temas. L, por im, arios
icarav . c o v metade do objeto, tratando exclusiamente da retaao e v t r e
grupos indgenas e sociedade nacional, que passaa assim a caracterstica
intrnseca ,constitutia`, dir-se-a mais tarde, do grupo estudado.
I O K L G Y L E G M N G !YF!M
1 5 9
Carao.o a e Olieira e a .ev. .egv ia o re. . ^ e..e mesmo perodo,
por sua ez, os pesquisadores estrangeiros ,mas tambm alguns
nacionais, tenderam a se concentrar em certos aanos da teoria
antropoogica que nao punham em primeiro piano a situaao
colonial. Lstou-me reerindo, claro, ao estruturalismo. Mas con-
m nao esquecer que Cardoso de Olieira e seus alunos opera-
ram em ambas as rentes por algum tempo ,alguns deles perma-
nentemente,, e que D. Maybury-Lewis, cabea do grande projeto
estruturalista` de estudo dos ndios do Brasil central nos anos
60, coordenou tambm, juntamente com Cardoso, o Projeto de
Lstudo Comparado Nordeste-Brasil Central, que esta na origem
da linha de pesquisa sobre o campesinato do Museu Nacional.
A partir dos anos 80, o nmero de etnlogos de origem me-
tropolitana` que m trabalhando, no Brasil e em outros pases lati-
no-americanos, sobre temas como missionarizaao, goernamentali-
zaao, territorializaao, etnicidade e etnopoltica eio crescendo sem
cessar. Ao contrario, entretanto, da tradiao nacional de estudos de
contato iniciada no im dos anos 50, e mais particularmente de sua
posteridade undamentalista, esses pesquisadores, e arios de seus
colegas brasileiros menos identiicados com tal tradiao, tambm
trabalham sobre outros assuntos. Os processos e estruturas do con-
tato intertnico sao tomados como parte da circunstancia histrica
das sociedades ivageva., e vao o contrario.
O segundo e bem mais importante problema a brasilidade
dos poos estudados. Ltnologia brasileira`, mais que etnologia
eita por brasileiros, denota muitas ezes simplesmente a antro-
pologia dos ndios situados em territrio nacional ,Schaden, 196:
4,. Como as demais cincias sociais no pas, entretanto, a etnologia
institucionalmente brasileira trata apenas, com rarssimas exce-
oes, de populaoes` juridicamente brasileiras48. As razoes para
48. Lssa histria ja oi contada c analisada muitas ezes, para as cincias sociais
cm geral e a antropologia cm particular, a etnologia inclusie. Ver, por
exemplo: llorestan 1956-195 1195|, Velho, 1980, Peirano, 1981, 1992, e
1 6 0
L D U A R D O V l V K l R O S D K C A S 1 R O
isso sao ariadas, algumas delas sao at razoaeis. 1rinta ou qua-
renta anos atras, sabia-se bem pouco sobre todas as sociedades
natias sul-americanas, a concentraao de esoros dos pesquisa-
dores nacionais, que se ormaam entao, sobre os ndios situados
no Brasil era uma escolha lgica. Outros atores, porm, menos
ligados a decisoes relatias ao estado do conhecimento, oram
tao ou mais releantes para determinar essa ocalizaao sobre
sociedades indgenas situadas no Brasil: atores inerciais, como a
especializaao regional dos ormadores de noos etnlogos e a
ausncia de uma tradiao de estudos em outras areas ou pases,
ou atores economicos, como a pouca disponibilidade de recur-
sos para pesquisas de campo no exterior. Mas, acima de tudo,
atores ideolgicos, em especial a premissa partilhada por suces-
sios goernos de toda cor poltica, pelas agncias inanciadoras
natias ou aliengenas, a intelectualidade progressista ou conser-
adora, a Igreja, a imprensa e os porta-ozes da classe dominante
em geral -a premissa de que a tarea primacial das cincias
sociais brasileiras conhecer a chamada reatiaaae bra.iteira. Co-
nhecer para transorma-la, claro, resolendo problemas brasi-
leiros como a questao indgena. Lsse compromisso, ao menos
erbal ,mas onde entra um orte desejo de autoconencimento,,
com a expectatia de se azer uma cincia social interessada`
,Peirano, 1992: 9, -o que nao sempre sinonimo de uma
cincia social interessante -oi decisio para ixar nossa etnologia
no estudo de ndios dentro do territrio brasileiro. L o padrao
resultante oi o esperado: Paris pensa o mundo, Sao Paulo pensa
o Brasil, Recie pensa o Nordeste` ,Reis, 1991: 30,49.
a mesa-redonda da Anpocs publicada na Reri.ta ra.iteira ae Civcia. ociai.
16 ,1991,.
49. Um padrao, alias, recomendado por alguns. Veja-se o que escree Olieira
,1998: 51, sobre os ndios e os etnlogos do Nordeste: L a partir de atos
de natureza poltica - demandas quanto a terra e assistncia ormuladas ao
rgao indigenista - que os atuais poos indgenas do Nordeste sao coloca-
dos como objeto de atenao para os antroplogos sediados nas uniersida-
l i 1 N O L O G I A B R A S !!. K!RA
1 6 1
Acontece, naturalmente, que a questao indgena`, que legiti-
ma tantas carreiras acadmicas no pas, nao existe como tal para
os ndios. Para eles nao ha o problema dos ndios`, ou, por outra,
um dos ,maiores, problemas dos ndios o problema dos bran-
cos. Com isso estou apenas chamando a atenao para o ato de
que as ronteiras geopolticas contemporaneas estao muito longe
de deinir ,ainda que sobredeterminem de arias maneiras, os
conjuntos-socioculturais pertinentes dos pontos de ista antro-
polgico e indgena, e que portanto a concentraao da produao
brasileira sobre os poos aqui localizados traduz antes um ariori
ideolgico dos pesquisadores que propriedades objetias do uni-
erso estudado. Vale recordar que 35 dos 206 poos indgenas
no Brasil, listados em 1994 ,Ricardo, 1995,50, tm parte de seu
contingente em pases limtroes, que entre eles estao alguns dos
poos demograicamcnte mais importantes, como os Guarani, os
1icuna, os Makuxi e os \anomami, e que arios poos, inclusie
dois dos quatro precedentes, tm a raao mais numerosa de sua
populaao situada alm das ronteiras nacionais.
O reconhecimento de que a localizaao dos poos indge-
nas dentro dos limites do pas nao uma condiao undante ,se
des da regiao. O que i ocorre exempliica uma trajetria possel dc insti-
tucionalizaao para uma antropologia peririca, tal como obserado por
Peirano ,1995b: 24,: em lugar de deinir suas praticas por dialogos teri-
cos, operam mais com objetos politicos ou, ainda, com a dimensao poltica
dos conceitos da antropologia`. K a exata rmula de l. \. Reis, apenas, no
lugar de Paris, ponha-se alguma metrpole anglo-saxa ,nada dc estrutura-
lismo,, no lugar de Sao Paulo, o Rio de Janeiro ,o Museu Nacional, de
preerncia,, mas o Recie pode icar no mesmo lugar. Quanto a isso de
objetos polticos mais que dialogos tericos ,que nao bem o que disse
Peirano,, note-se que, logo aps essa hierarquizaao de preerncias, Oli-
eira admoesta alguns etnlogos nordestinos por nao terem desenolido
um discurso terico e interpretatio`, por terem se mostrado regionalistas
e particularizantes, e por nao terem eito um esoro de conceituaao`
o. c i t 51-52,. Lntao a perieria da perieria precisa das luzes terica. da
perieria
50. loje ja se contam 215 poos.
1 6 2 L D U A R D O V I V L I R O S D I , C A S 1 R O
as ha, da constituiao social desses poos, mas apenas uma cir-
cunstancia adentcia ou supereniente, tem se exprimido no uso
cada ez mais comum do locatio ndios vo Brasil` em lugar do
tradicional genitio ndios ao Brasil`, de orte conotaao posses-
sia``1. Com isso esta-se recusando a gramatica da integraao e da
assimilaao que por tanto tempo guiou a doutrina do Lstado
para os poos indgenas, e que persiste como projeto oicioso em
diersos setores oiciais. Lssa pequena reorma lingstica per-
mite, por exemplo, que se tirem todas as conseqncias do ato
de que a trajetria histrica das sociedades natias nao comeou
com a partilha europia do continente: assim, um liro intitulado
i.tria ao. vaio. vo ra.it ,Carneiro da Cunha, org., 1992, inclui
ensaios sobre populaoes localizadas no Chaco e na Amazonia
subandina52.
:1. 1er, por e e v t o, C rviovi, or g. , 11; oe. da Sila & G rupioni, org..,
1995. A consolidaao da orma ndios vo Brasil` se dee ao Pro;eto Poro.
vageva. vo ra.it, iniciado em 198 pelo Centro Lcumnico de Documen-
taao e Inormaao.
52. Por alar em reormas lingsticas, os etnlogos aivaa nao nos pusemos de
acordo sobre a ortograia dos etnonimos indgenas. A conenao de 1953
da ABA sobre a graia dos nomes tribais` nunca oi integralmente respeita-
da, e a nomenclatura oicial da lunai meramente aleatria. la uma orte
tendncia de se abandonar a pratica tradicional em etnologia -que segue
aqui a conenao da ABA, ortemente marcada por usos prprios do ingls
-de se graarem os etnonimos com inicial maiscula ,mesmo quando em
unao sintatica determinatia,, sem lexao de nmero ou gnero e usando
letras nao reconhecidas pela ortograia de palaras portuguesas. As alter-
natias, entretanto, nao sao uniormes. Alguns etnlogos preerem seguir
os manuais de redaao da imprensa ,cujas inconsistncias sao apontadas
por Ricardo |1995: 341,, abrasileirando lingisticamente os etnonimos com
sua transormaao em gentlicos conencionais: tudo em minscula, com
lexao de nmero ,mas nao de gnero, sabe-se la por qu,, sem letras nao-
oiciais. Outros mantieram os etnonimos, quando no nominatio, com
inicial m aiscula, m as passaram a ut i l i z a r inicial m inscula nos usos
determinatios, continuaram nao aceitando o plural portugus e mantendo
letras como ir, /. e , . Nenhum desses usos neutro. la quem rejeite a
conenao da ABA por sua suposta pretensao de estabelecer uma nomen-
L 1 N O L O G I A I S R A S I I . K I R A
1 6 3
Isso posto, os membros indiiduais dos coledos indge-
nas localizados no Brasil sao cidadaos brasileiros, sendo-lhes
constitucionalmente reconhecidos organizaoes socioculturais
dierenciadas e direitos originarios sobre as terras que ocupam.
Alm disso, uma parcela muito signiicatia da populaao ind-
gena no pas ala alternatia ou exclusiamente o portugus, e
esta em interaao regular com grupos, agncias e instituioes da
sociedade enolente. Sobretudo, os ndios no Brasil oram e
sao alo de polticas pblicas especicas, tendo sido submeti-
dos a uma srie de dispositios homogeneizadores -a comear
por uma condiao jurdico-administratia uniorme -que, ao
incidirem sobre ormaoes socioculturais muito diersas, cons-
tituram a categoria histrica ndio brasileiro` como correlato e
objeto desse processo de goernamentalizaao. O estatuto deri-
atio, digamos assim, desse objeto nao diminui seu bio inte-
resse do ponto de ista da antropologia, nao s porque os
etnlogos tieram, neste sculo, uma participaao de destaque
em sua criaao e recriaao jurdicas, como porque a condiao
de ndio brasileiro` um elemento do contexto de reproduao
social das populaoes assim deinidas, e tem sido um instru-
mento estratgico de mobilizaao poltica.
d a t ura cientica de tipo botanico ou zoolgico - isto , por naturalizar` as
sociedades indgenas ,Vidal & Barreto l, 199: 160 n . l , . Mas ha quem
entenda ,e estou com estes, que pior que tal naturalizaao` a aculturaao`
orada pelo abrasileiramento dos etnonimos. Alm disso, se os brasileiros
tm o Brasil ou os escoceses a Lsccia, enquanto os poos natios nao tm
pases ou patrias que se possam escreer com inicial maiscula, tambm
certo que seus nomes designam uma coletiidade nica, um poo ou so-
ciedade, e nao um somatrio de indiduos ,Ricardo, 1995,. Por isso, escre-
er, por exemplo, o. .ravte, em lugar de o. aravete., um modo, certam en-
te simblico, de reconhecer um coletio lingstico, tnico e territorial
dierenciado dentro da comunhao nacional` . ,A questao outra, natural-
mente, quando sao os prprios ndios que decidem como se haera de
graar seu etnonimo, como acontece nos grupos que utilizam a escrita, em
portugus e,ou no ernaculo natio,.
1 6 4
l n U A R D O V l V K l R O S DK C A S 1 R O
..o posto, por sua ez, preciso insistir em um ponto unda-
mental. Pararaseando a obseraao de Li-Strauss ,1958: 1,
sobre o uncionalismo: dizer que nao ha sociedade indgena ora
de uma situaao de contato com a sociedade nacional um trusmo,
dizer, porm, que tudo nessa sociedade se explica pela situaao de
contato com a sociedade nacional um absurdo. Se alguns traba-
lhos se mostraram pouco atentos a todas as conseqncias do
trusmo, outros ha que continuam a apostar teoricamente no ab-
surdo. Mas a etnologia brasileira nao precisa dessa ltima hiptese,
a menos que se contente em ser um ramo menor da sociologia
poltica do Brasil. A necessidade de se 'romper' com o 'senso
comum` que identiicaria a condiao de ndio a uma essncia tni-
co-cultural naturalizada ,quantiicael em graus de pureza, por exem-
plo, nao pode desembocar em uma noa reiicaao, desta ez .aravte,
que toma - talez conundindo o discurso da constituiao com o
texto da Constituiao, o constitutio com o constitucional - a
categoria jutdico-poldca ndio`, expressao de uma certa relaao
com o Lstado, como se ela encerrasse o ala e o omega da existn-
cia dos coletios assim ,auto-,identiicados, e portanto todo o inte-
resse que eles podem oerecer a etnologia. 1ais coletios certamen-
te tm outras coisas com que se ocupar alm de ser ndios`, e a
etnologia dee segui-los. Lla s nao o ara se, em nome de alguma
pretensa cesura epistemolgica ,uma ruptura com o exotismo`,
talez,, termine por se sujeitar de ato a uma cev.vra ei.tevotgica
que probe a aproximaao a tudo aquilo que, na ida dos poos
indgenas, nao traga estampado bem isel o signo da sujeiao. Se
assim proceder, a etnologia estara aceitando ser o mero relexo
terico ,positio ou negatio, pouco importa, do moimento obje-
tio de anexaao sociopoltica dos poos indgenas pelo Lstado
nacional, que os transormou em populaoes indgenas, isto , em
objetos administratios de um Lstado-sujeito ,loucault, 199,53.
53. A subsunao dos poos indgenas e outras minorias tnicas do pas pelo
conceito genrico de ovtaoe. .vbvetiaa. ,Arruti, 199: 14,, a parte o que
GZOK!! FMN!!YF!M
1 6 5
Recusar essa missao especular nada tem que er com uma
busca de ndios isolados` ou de areas preseradas` da ida social
indgena, e tampouco com uma celebraao da resistncia` das
culturas natias ace aos processos histricos de espoliaao e
dominaao. Quando digo absurda a idia de que tvao em uma
sociedade indgena seja constitudo pela situaao de contato, esse
tudo` nao pode eidentemente ser tomado em extensao, como se
houera pedacinhos da sociedade a salo da inecao colonial,
isto , como se uma sociedade ora um objeto composto de
partes. C, que estou dizendo que e ivo..ret qve vv cotetiro bvva
vo .e;a cov.titvao .evao eto qve ete rrio cov.titvi. Lstou dizendo,
em suma, que o que a histria ez desses poos inseparael do
que esses poos izeram da histria. lizeram-na, antes de mais
nada, sua, e se nao a izeram como lhes aproue -pois ningum
o az - , nem por isso deixaram de az-la a seu modo -pois
ningum pode az-lo de outro54.
maniesta do tradicional ri.bfvt tbiv/ivg a respeito da uniao dos excludos
,no caso em pauta, ndios` e negros`, , az dessa condiao comum de
submissao - ou seu inerso reatio, a resistncia` - a essncia e a razao de
tais populaoes`. ,I .v;eiao tovia.e rivciio ae .vb;etiraao. l i recorde-se aqui
uma obseraao de Peirano, eita no contexto de uma comparaao entre as
antropologias brasileira e indiana em seus comuns sentimentos de inerio-
ridade diante da metrpole: No caso brasileiro, os sentimentos de inerio-
ridade ri.ari. os centros europeus e norte-americanos sao tambm |como
na ndia, varcavte.. No entanto, o engajamento poltico do intelectual o
ajuda na sua procura de identidade: estudando o indgena, o campons, o
negro, o caipira, as classes urbanas empobrecidas, o antroplogo esta esco-
lhendo como objeto de estudo os grupos despossudos` ou oprim idos` da
sociedade` ,Peirano, 1995b: 25,.
54. Lste paragrao uma interpretaao do que Peter Gow escreeu nas pagi-
nas inais de um liro em preparaao ,1998, sobre os Piro da Amazonia
peruana: 1he present study would hae achieed little i all it said was
that what Piro people hae done, historically, is react to those eatures o
the ongoing consequences o Luropean colonial expansion that hae
impinged upon them. It is necessary to demonstrate that the speciic orm
o . v c c e . . i r e c o t o v i a t .itvatiov. a r o . e f r o v t b e ra,. Piro e o t e . e t ab o v t
constituting them, and that this so not because, in the sentimental language
1 6 6
K D U A R D O V I V K I R O S D I - C A S 1 R O
A mesma obseraao se aplica igualmente, portanto, ao in-
teresse pela dimensao histrica dos enomenos estudados pela
etnologia, da qual hoje se az grande e justo caso ,nao ha quem
nao airme o ideal de uma antropologia histrica`, e poucos nao
castigam ritualmente uma nase na sincronia` supostamente ca-
racterstica de tudo o que eio antes na disciplina,. Do ato de
que toda sociedade apreendida pelo obserador em uma situa-
ao histrica determinada nao se segue que tudo o que ele obser-
a naquela sociedade possa ser atribudo a uma situaao histrica
determinael, e em particular a uma situaao gerada e gerida pelo
sistema colonial. Recorde-se a adertncia de M. Strathern ,1992:
152, a propsito da etnologia da Noa Guin: 1he great trap o
historical analysis is presentism: the assumption that what goes
on in the postwar, paciied lighlands, or example, can be put
down to the act that it is a period o postwar paciication`55.
Com eeito, no caso dos ndios no Brasil como em qualquer
outro, o objeto da etnologia possui uma realidade bem maior que
aquela projetada pelas ronteiras histricas, polticas e discursias
do mundo dos brancos.
o resistance theories, Piro people are not passie ictim s but actie agents.
lor much o their recent history, Piro people hae indeed been passie
ictims o exploitation, brutality and injustice, in situations where they had
no say and no means to ight back, and it would be grotesque or me to
pretend that this is not so. Instead, the reason why it is necessary to
demonstrate that the speciic orm o successie colonial situations arose
rom the ways Piro people set about constituting them is because Piro
people are produced socially by other Piro people, and hence hae no
choice other than to constitute the world around them in ways that are
intrinsically meaningul to them. And, sad though it is to say, this is true
een o how they hae had to lie as passie ictim s o exploitation,
brutality and injustice. lor, as Marx pointed out, people make history, but
they do not make it as they please`.
55. A autora esta-se reerindo ao perodo do ps-guerra ,de 1945,, quando se
iniciou a penetraao da administraao australiana nas populosas terras altas
da Noa Guin e a consequente paciicaao` das relaoes intergrupais na
regiao.
! O K L G Y L E G FMN!P P M
1 6
Nao incomum que a etnologia praticada pelos estudiosos
do contato, em seu aa de mostrar a penetraao massia do siste-
ma colonial na ida dos poos autctones, termine por retroprojetar
um unierso pr-colombiano marcado exatamente por aquelas
caractersticas que eles tanto criticam na imagem que os etnlogos
classicos` ariam das sociedades indgenas contemporaneas. As-
sim, o mundo social amerndio anterior ao contato com os eu-
ropeus isto em termos descontinustas, estaticos e naturali-
zantes. Como se a histria s comeasse, para esses poos, a
partir do momento em que eles comeam a se transormar em
apndices do Lstado nacional. L s a partir dali que eles se
tornam objetia e subjetiamente desnaturalizados`, isto , his-
tricos, situacionados e assim por diante: |a| situaao de con-
tato intertnico de certo modo desnaturaliza os cdigos cultu-
rais cm que uma pessoa oi soci al izada ...` ,Olieira l, 1988:
59,. Da-se com isso a impressao alsa de que os ndios iiam,
de certo modo`, dentro de uniersos sociolgicos e cognitios
insulares, sem nenhuma noao de altcridade c nenhum disposi-
tio intertnico at o adento desnaturalizante dos europeus56.
56. Quando oi justam ente o contrario que aconteceu: como sc sabe, os ndios
isolados` , se jamais existiram, sao uma criaao ps-colonial, pois a etnia
inasora rompeu o tecido sociopoltico que ligaa, com m aior ou menor
densidade, todos os poos do subcontinente ,Vieiros de Castro, 1993b,.
Por isso, a caracterizaao eita por Alcida Ramos da trajetria histrica dos
poos indgenas -rom sel-suicient units to helpless appendages o
the national powers` ,c. .vra) - s pode ser tomada como correta no
sentido bio de que os poos pr-colombianos eram politicamente inde-
pendentes dos Lstados europeus, que ieram a dizima-los demograicamente
e sujeitar politicamente. A noao de contato intertnico sempre concebi-
da como se reerindo primordialmente ao contato entre ndios e brancos
,para uma exceao, er Ramos 1980, mas o conceito aqui passa a ser o de
relaoes intertribais`,. A idia de que e..e contato intertnico possui uma
ora desnaturalizadora toda particular, uncionando como uma espcie de
sociologia pratica que rompe os us da ittv.io cultural, desempenha um
papel importante, e igualmente questionael, nas relexoes de 1erence 1urner
,p. ex., 1993, sobre a histria dos Kayap.
1 6 8
| L D U A R D O V l V l i l R O S D l i C A S 1 R O
Alm das proas em contrario ornecidas pela arqueologia e
pela histria, as analises das mitologias indgenas sobre o con-
tato` e os brancos` mostram justamente como a construao so-
cial do outro` sempre oi um dos temas centrais do pensamento
amerndio, e como os europeus oram .itvaao. atiamente por
esse sistema cosmolgico ,Li-Strauss, 1991,.
Assim, muito do que se az sob o rtulo de antropologia
histrica`, ou cm nome de uma recusa bem-pensante da sempre
mal-entendida distinao li-straussiana entre sociedades rias` e
quentes` ,p. ex. lill, org., 1988,, comea por nao mostrar inte-
resse nas histrias indgenas, reduzindo-as a uma historiograia
do contato`, e termina por produzir uma descontinuidade abso-
luta entre o mundo pr-colonial, onde eoluam unidades auto-
suicientes`, e um mundo histrico` pooado de apndices cons-
titudos pelo contato intertnico5. Lm nome de um ataque ao
dualismo entre sociedade indgena e sociedade nacional, subscre-
e-se um outro, que se poderia chamar de cognitiamente
colonialista, entre os ndios antes` e depois` dos europeus ,er
Vieiros de Castro, 1996a: 192-194,58.
5. Por isso me parece im portante que um liro como a i.tria ao. vaio. vo
bra.it traga captulos dedicados a arqueologia e a lingstica histrica, rom-
pendo com v c o v c e a o truncada e etnocntrica da histria indgena`
como algo que comea com a inasao europia. L digno dc nota que os
antroplogos histricos` da escola do contato nao paream considerar
releantes as contribuioes da arqueologia pr-colombiana e dos estudos
de histria cultural: sua sociologia poltica do contato tem pouca coisa que
er com uma histria indgena, pois nao , nem muito histrica, nem muito
indgena.
58. listory is oten treated as something that arries, like a ship, rom outside the
society in question. 1hus we do not get the history o f that society, but the
impact o ,our, history ov that society` ,Ortner, 1984: 143,. A mesma idia
exprim ida por Gow ,1998,: lor all the criticisms o Li-Strauss and
structuralism , the arious adocates o an anti-Li-Straussian historical
anthropology regularly smuggle synchronic analysis back into the work, but in
disguised orm. Oten, this take the orm o a concern or contact` . By
positing a unique moment in which two ormerly separate social systems or
l i 1N O I . O G I A lR ASl, lI RA
1 6 9
2 =2B42 >24:?>2<
la mais, nesse assunto da brasilidade da etnologia brasilei-
ra, que uma questao de cidadania dos pesquisadores ou dos pes-
quisados. Pia a questao de sua hipottica especiicidade estilstica,
tematica, terica - enim, cultural, com o perdao da ma palara.
O que seria mesmo o brasileiro` da etnologia brasileira
Lssa questao da brasilidade substantia da etnologia eita
no pas nao meramente acadmica59. Lla nos remete, alias, a
cultures carne into contact, anthropologists arc able to speciy a base-line
period ,and preerably date, rom which reproduction becomes potential
transormation. J . ..| In the Introduction, I quoted the celebrated statement by
\ol: 1 h e global processes set in motion by Luropean expansion constitute
their history as well. 1here are thus no contemporary ancestors`, no people
without history, no peoples - to use Lei-Strauss`s phrase - whose histories
hae remained cold` |1982:385|. Careul reading reeals that \ ol`s claim implies
that there were indeed once people without history, peoples whose histories
had remained cold, and that was beore the global processes set in motion by
Luropean expansion. And readers o the second chapter o \ ol`s book,
1he world in 1400`, are entertained by a broad-brush portrait o the world in
that year, deoid o any discussion o the status o this knowledge or o how
it was acquired, and quite silent on ,he eident disparities in our knowledge o
what was happening in London, Rome and Paris in that year when compared
to parallel eents on the Bajo Urubamba, in Cuzco or Ipanema.`
59. Como tampouco o o uso, tao caracterstico de certos acadmicos, da
qualiicaao pejoratia meramente acadmico` . Quem se exprime assim nao
tem o direito de se queixar quando chegam os inimigos neoliberais da uni-
ersidade pblica cobrando produtiidade` e retorno para a sociedade` . Iixiste
enganaao, preguia e o que mais se queira na academia, s nao existe o
meramente acadmico` . Na atual conjuntura de estrangulamento inanceiro
e de ataque ideolgico a cincia e a uniersidade, em que tanto se recorre a
uma retrica antiacadmica que lana suspeiao de superluidade contra a
cincia pura` e a pesquisa basica` -nao alta quem sugira que deemos
importar os undamentos de ora, dedicando-nos a implementar seus deria-
dos tecnolgicos - , o clebre compromisso poltico` dos antroplogos e
demais cientistas sociais tem que incluir a deesa intransigente do puramen-
te acadmico` e do nao-aplicado`. O contrario de antropologia pura` , alias,
nao necessariamente antropologia aplicada`, mas pode bem ser antropolo-
gia diluda1 ,Li-Strauss, 593: 3,.
1 0
L D U A R D O V I V K I R O S D l C A S 1 R O
palpitantes debates do inal dos anos 0, ocasiao em que Darcy
Ribeiro ressuscitou uma retrica cara ao nacionalismo isebiano.
A questao nao meramente acadmica` porque a etnologia bra-
sileira nao se ocupa apenas da teoria da identidade tnica aplica-
da aos ndios ,brasileiros,, mas parece preocupar-se tambm com
o que poderamos chamar de etnicidade terica dos antroplogos
,brasileiros,, e esses dois temas as ezes terminam entrelaados60.
O tema aparentemente arcaico da irtualidade ou realidade
de uma cincia brasileira` continua na agenda de alguns etnlogos.
A oposiao entre natiistas` e cosmopolitas` antiga, e atraessa
outras cincias sociais, mas em etnologia ela parece ter uma
pungncia toda sua, em parte por causa do papel simblico dos
ndios no i m aginario da brasil idade, em parte deido ao
descolamento terico entre a etnologia dos ndios vo Brasil e a
dos ndios ao Brasil, e em parte, inalmente, graas a penetraao
tardia da teoria da dependncia` ,esse caso raro de sucesso da
cincia social peririca` na metrpole -se oi isso mesmo que
aconteceu, dentro da antropologia mundial, na qual ela continua
a serir de reerncia para algumas das abordagens ditas ps-
colonialistas`.
Mas talez haja, sim, um aspecto propriamente acadmico
nessa discussao. Penso aqui na oga recente de estudos sobre os
estilos nacionais` de antropologia e na questao das antropologias
periricas`, em eidncia tambm no Brasil61. Uma ez reconheci-
do seu indiscutel alor histrico-antropolgico ;i.e., acadmico,,
preciso cuidar para que os resultados descritios e interpretatios
60. Como ja se obserou, a respeito cia tradiao da antropologia nacional de se
concentrar em populaoes brasileiras, em contraste com as antropologias
metropolitanas: Lm geral nao s estudamos ns mesmos` . . . como a
dierena` construda as aessas: geralmente estamos nos perguntando
qual a nossa especiicidade, em que somos peculiares, o que nos separa e
a i . t i v g v e ,Peira.vo, 1:a: 53,.
61. Ver: Gerholm & lannerz, orgs., 1982, Cardoso de Olieira, 1988, Cardoso
de Olieira & Ruben, orgs., 1995.
I 1 N O L O G I A B R A S l . K I RA
1 1
desses estudos nao acabem por se conerter em imperatios cate-
gricos -a antropologia brasileira` sendo a antropologia que os
brasileiros aerevo. azer62. L curioso, diga-se de passagem, que esse
interesse pelos estilos nacionais de antropologia seja contempora-
neo da desaeiao das anguardas tericas pelo chamado regiona-
lismo` antropolgico, ja reerida acima. Mas nao esta muito claro o
que se ganha ,e o que se perde,, ao se substituir um alegado
essencialismo regionalista no plano do objeto por um irtual
essencialismo nacionalista no plano do sujeito.
1ome-se por exemplo o ensaio sobre O oro bra.iteiro, o
liro-sntese da trajetria intelectual de Darcy Ribeiro ,1995,,
escrito pelo joem etnlogo J. M. Arruti ,1995,. Lla ilustra bem
a dupla aspiraao de atvatiaaae e de bra.i,iaaae que parece moti-
ar arios etnlogos brasileiros. Arruti propoe ali um argumen-
to sobre a ps-modcrnidade` da obra de Darcy, mas seu tema
essencialmente o ideal darciano ,que o autor az seu, de uma
antropologia a brasileira, que responderia a necessidade de uma
teoria ae v. ve.vo.``. Longe de anacronicas, diz Arruti, seme-
lhantes questoes iam Darcy Ribeiro... para um debate de
grande atualidade, inicialmente proposto por antroplogos ori-
ginarios de ex-colonias asiaticas e aricanas e, mais recentemen-
te, reapropriado pelos chamados ps-modernos` ,1995: 23,6`
L nosso autor conclui:
62. Lm caso c o n tr a r i o . . . Bem, em caso contrario, por exemplo, a lundaao
lord nao i nanci a...
63. Suponho que esses antroplogos a que o autor esta-se reerindo sejam
1ala Asad, Ldward Said ,que mais um antiantroplogo honorario,, lomi
Bhabha ;iaev), Arjun Appadurai, Lila Abu-Lughod e outros. Lstes autores,
anglonos e instalados em geral nas grandes uniersidades americanas e
europias, sao na realidade muitssimo mais m etropolitanos` do que os
antroplogos brasileiros, pelos critrios mesmos de A rruti. Quanto ao de-
bate, trata-se da discussao muito em oga sobre os condicionantes macro-
e micropolticos do projeto epistemolgico da antropologia, debate que
desembocou, ao cabo das ltimas dcadas, em uma espcie de noa aoa
reisionista e hipercriticista, a qual nao altam m ortes anunciadas e herdei-
1 2
L D U A R D O V I V K I R O S D K C A S 1 R O
.o p re t e n d e r c r i a r um a ant ro po lo gia b r a si l e i r a `, nos dois s enti dos
co n ti dos pela expressao, D arcy Ribeiro l i g a - se | . . . | aos ja ci t ados antrop-
l o gos-nati os, a a n t ro po lo gia p eri ri ca que t enta se des encil har dos d i s -
cu rsos m et ropol it anos e u ndar um a i sao p rpria | . . . | M as alar cm d i e -
rentes ant ro po lo gias nacionai s, com o s ugerem os peri ri cos, nao s i g n i i c a -
ria negar, jus tam ent e, a uniersali dade undadora da propost a a n t r o p o l g i -
c a Corno nos le m b ra M a r i z a Peirano, a a i rm a ao dessa incom pat ibili dade
s poss el en qu ant o nao n o s dam os co n ta de qu e o m odelo do uniersal
com que a ant ro po lo gia m et rop ol it ana trabal ha em in en t em en t e ocidental
c, no lim ite, , ele m esm o, p ar te de ideol ogi as nacionais. L e a nd o em conta
q u e o p e n s a m e n t o a n t r o p o l g i c o p a r t e d a p r p r i a c o n i g u r a a o
soc io cu lt ur al de que em e rge e que sua orm a p redo m i nan te m oderna o
L s t a d o - n a a o . . . . . . | na nossa relaao com as ontes tericas tradicionais
ex i st e urna as si m e t ri a cuja origem o ato coloni al. O dil em a da ant ro p o l o -
g i a b ra si lei ra , com o d e outras ant ropologias peri ri cas , que tem s ido e x -
p res so na d ual idade entre ser ant roplogo c ser n a t i o . . . | . . . | Para nossa
avtrootogia vavetvca, D a r cy Ribeiro p ropoe que ela aban d on e a a spi raao
i n a lc an ael d e ser e u ro p ia e se aa origin al ;o. cit.` 24 3, g ri o m eu,.
J a imos tantas ezes esse i lm e... Darcy costumaa casti-
gar, e Arruti agora o secunda, os antroplogos brasileiros por
serem colonizados. Isso nao impediu os dois autores de aderir a
paradigmas tao pouco autctones quanto o materialismo cultu-
ral e o neo-eolucionismo ianques de Julian Steward e Leslie
\hite ,caso de Darcy,, ou as narratias europias da inenao
da tradiao` e da etnicidade` de Lric lobsbawm e lredrik Bar th
,c. A rru t i, 199,. Alm disso, se os ps-m odernos, esses
supercosmopolitas deliqescentes, ja reapropriaram` o discurso
dos antroplogos egressos das antigas colonias do imprio oci-
ros presuntios da disciplina ,\ade, org., 1996,, mas em que tambm se
comeam a perceber sinais de esgotamento, e a se ouir ozes dissidentes
,Sahlins, 1993, 1995, 199a, b, Latour, 1996a, b, Argyrou, 1999,. Valha o
que aler tal debate - no maximo, digamos assim, cinqenta por cento do
que se estima no mercado acadmico - , sua captura como supercie de
inscriao das alhas ideolgicas internas a etnologia brasileira esta baseada
em uma srie de mal-entendidos deliberados.
I i 1 N O I . O G l A lRAS I I . K I RA
1 3
dental, entao continuamos nosso repugnante contubrnio com
os metropolitanos.
Mas at a tudo bem: todo mundo por aqui tem mesmo as
idias ora do lugar. O problema outro. A obra de Darcy, em
particular esse liro resenhado por Arruti, sob o pretexto legti-
mo e interessante de indigenizar o poo brasileiro`, termina
abrasileirando os poos indgenas, c v; a ei.tvcia presente is-
ta como residual, toda a nase tendo sido deslocada para o
aporte indgena a brasilidade mestia. Os desaios que os ndios
covtivvav lanando as ideologias do Lstado-naao e da brasilidade
sao arridos para debaixo do tapete.
1eoria de ns mesmos` Ns mesmos quem . alegada
analogia do que az Darcy com o anticolonialismo dos antrop-
logos periricos` muito problematica64. Lla naturaliza uma
identiicaao tnico-cultural ,deensael, talez, no caso dos an-
troplogos aricanos e asiaticos em que pensa Arruti, entre os
antroplogos brasileiros e os ndios, contra os antroplogos me-
tropolitanos` e seus discursos` . Seria bom aisar os ndios dessa
parceria, porm - ndios que tm em geral a dierena entre eles
mesmos e os brancos` brasileiros por ininitamente maior que a
dierena entre esses ltimos e os brancos` estrangeiros65. Noa-
64. Lla repete cm outro registro a diicultosa importaao do conceito dc si-
tuaao colonial` de Balandier pela teoria cardosiana do contato, das condi-
oes aricanas para as brasileiras ,er 1urner |1988: 240| e Ramos 11990:
20| para esse problema,.
65. Por exemplo: os ndios \awalapti do Alto Xingu, que conheci em 195-
19, chamaam os brancos ,e negros, brasileiros de /araiba. Os europeus
c norte-americanos eram classiicados como /araiba/vva, super-brasilei-
ros` ,o suixo /iitva tem o sentido de outro, grande, poderoso, sobrenatu-
ral`, . J a os japoneses e outros orientais, que eentualmente isitaam o
Xingu eram classiicados como vta/a/vva, superndios xinguanos` . Ou-
tras populaoes tribais exticas` , como os Iatmul ou os Nuer, cujas oto-
graias os \awalapti iam em meus liros, oram-me classiicadas como
rara,v/vvvr. superndios braos`. A palara rara,v aplica-se a todos os
ndios nao-xinguanos, e tem a conotaao de primitiidade e selageria. Os
!%#
U D l M R D O V J V l J i O S D l i C , ` S 1RO
mente, estao-se nacionalizando os ndios pata melhor se poder
indigenizar os antroplogos nacionais e, de tabela, esta-se usan-
do o colonialismo interno` que oprime economica e politicamen-
te os ndios - colonialismo exercido pela sociedade e pelo Lstado
brasileiros, nao por uma potncia metropolitana -para undar
av at o gi c a v ev te esse requisitrio pequeno-burgus cov tr a vv co-
lonialismo externo` que alienaria intelectualmente os antroplo-
gos natios. Mas nao ai ser pegando essa carona nos problemas
enrentados pelos ndios que a antropologia brasileira ,nos dois
sentidos`, ai resoler seu inexistente dilema.
Quanto ao ideal de uma originalidade e autenticidade
mamelucas`, obsero apenas que ele destoa de certas melodias
antropolgicas de anguarda, apreciadas peio partido terico de
Arruti ,mas que eu tambm gosto de ouir de ez em quando,,
sobre a cultura como luxos e correntes, hibridismos multilocali-
zados e diaspricos e assim por diante. Criticam-se com iruln-
cia as concepoes organicistas, reiicadas e essencializadas de
cultura -mas pelo jeito s quando aplicadas aos ndios, porque,
no caso dos antroplogos natios, tudo bem66. Cabe tambm
\awalapti se identiicaam com o componente biotipicamente ndio` da
humanidade ciilizada` em oposiao a seu componente nao-ndio` , mas
em oposiao tambm ao componente nao-ciilizado` da humanidade nao-
ndia` . Nao se trataa, portanto, nem de uma oposiao nacionalista entre
brasileiros` ,ndios ou nao, e estrangeiros`, nem de uma oposiao eolu-
cionista simples entre poos tradicionais` e modernos` . Km outros casos,
possel que determinado grupo indgena se eja como muito prximo
dos setores da sociedade nacional que partilham aspectos importantes de
seu modo de ida ,os camponeses ribeirinhos da Amazonia, por exemplo,
e com quem ele interage regularmente. Mas a serao os ndios e os campo-
neses que se distinguirao em comum dos representantes da cultura domi-
nante urbana.
66. Quando aplicadas eto. va i o., tva o b e v tambm ,Olieira l, 1998,. Pare-
ce assim que os mandamentos da ps-antropologia - nao essencializaras` ,
nao naturalizaras` , nao exotizaras` , nao totalizaras` , nao dicotomizaras` ,
nao cobiaras os discursos metropolitanos do prximo` etc. - precisam ser
completados por duas clausulas de exceao. A primeira: aos natios sera
T O K L G Y L E H C M F G C C D I M
!%$
indagar se nestes tempos de multiculturalismo, como se diz, ca-
bem tais exortaoes a autenticidade:
Lm tem pos de m ulti cul turali sm o, al e le m b r a r a i n d agaao orm ula-
da p o r Radhakrishnan: por que eu nao posso ser i ndiano sem t er de s er
aut ent icam ent e indiano` A a ut e nt ic idade um lar qu e co n st ru m o s para
ns m esm os ou c um guet o que habitam os para s a ti s a z er ao m undo do m i-
nant e` ,O lieira l ` , 1998: 68,.
Boa pergunta: por que a antropologia nao pode ser brasilei-
ra sem ter que ser autenticamente brasileira Se lembramos tudo
o que dee a antropologia social britanica` aos ranceses, ou a
antropologia cultural americana` aos alemaes... Mas talez se
ache que o hibridismo seja menos chocante quando praticado
entre metropolitanos consencientes -mesmo se enole, como
o caso do namoro ranco-americano atual ,desconstrucionismo
pra ca, pragmatismo pra la,, um certo risco de cro...teritiatiov.
Quanto ao argumento sobre a particularidade cultural do
uniersalismo ,esta ideologia europia...,, manejado por Arruti
para justiicar a busca de uma antropologia autenticamente brasi-
leira, caberia indagar se ele se aplicaria, por exemplo, a sica
brasileira, isto , se esta tambm dee se desencilhar dos dis-
cursos metropolitanos`. Se me respondem que antropologia nao
sica, eu ponderaria que a sica, ainal, igualmente parte da
prpria coniguraao cultural de que emerge` ,essa rmula de
Arruti de um culturalismo impecael, e que, alias, a distinao
entre cincias da natureza e da cultura mais ocidental que a
O1AN. Se me respondem que a sica brasileira tavbev dee ser
autntica, s posso perguntar em que consistiria essa brasilidade:
o que seria uma teoria mameluca da graitaao quantica Onde
os qvcrr/. caboclos
permitido tudo o que se probe aos antroplogos` . A. segunda: a certos
antroplogos sera permitido deinir-se como natios` .
1 6
l i D U A R D O V | VIU R O S D l i C A S 1 R O
O paradoxo do uniersalismo particular interessante. A idia
de que a antropologia dee buscar uniersais hoje ,quase unier-
salmente, questionada em nome da descoberta antropolgica de
que o uniersal particular ,ao Ocidente,. Mas, se o uniersal
uma maniestaao do particular, e se por isso que nao o almeja-
mos mais, seria porque desejamos um uniersal vevo. particular,
isto , vai. uniersal Ou talez porque percebamos que o reraaaei
ro uniersal sempre particular ,logo, procuremos o nosso prprio
particular, Mas, neste caso, desejar o particular desejar o erda-
deiro uniersal. O que me recorda uma rase ironica de Antonio
Candido, citada por Mariza Peirano: Para ns a Luropa ja o
uniersal...`. Lla parece sugerir que deemos abandonar esse uni-
ersal, por ainda particular, e buscar um outro, mais uniersal. Isso
nao seria querer ser mais europeu que a Luropa Lsta bio que o
apeio aos particulares nao resole o problema dos uniersais -s
da para sair dessa em diagonal. Ao poeta da proncia, aconselha-
se: se queres ser uniersal, canta tua aldeia. Mas, ns, os antroplo-
gos da proncia, nao queremos tal uniersalidade, se bem entendi.
Ou queremos De qualquer modo, a antropologia se deine por
querer ser uniersal cantando as aldeias dos outros. Donde se con-
clui que... antropologia nao poesia, apesar de algumas disposi-
oes recentes em contrario
O colonialismo cultural mesmo uma chae-de-galao, um
gigantesco aovbte biva histrico. L, como de todo aovbte biva, s se
sai dele, ou ingindo ignora-lo, ou deolendo-o ao remetente,
acrescido de mais uma torao - por exemplo, injetando uma
certa dose de realidade em nossos dialogos` imaginarios com a
produao internacional, que, religiosamente inocados em toda
introduao de tese ou relatrio de auto-aaliaao, consistem o
mais das ezes em um eroz ataque a uma teoria estrangeira a luz
de outra teoria estrangeira, ambas as quais permanecem, graas a
impenetrabilidade de nosso ernaculo ,entre outras coisas,, im-
paidamente alheias ao que se az c o v seu v o v e e e v .ev v o v e
l 1 N O I . O G I A B R A S l . K I RA
1
por estas bandas. Se para dialogar`, e nao tem muito outro
jeito, entao seria preciso comear a rebater para a matriz nossas
lucubraoes periricas, e a meter a colher na sopa metropolitana.
Resta er se isso interessa a toda a antropologia mameluca`.
2 6D>?<?8:2 5? 4?=@B?=:CC?
As aaliaoes da produao etnolgica brasileira, como ob-
serei acima, costumam contrastar duas ertentes tematico-
estilsticas, associando-as a uma questao de origem dos pesquisa-
dores: os estrangeiros mais interessados na cultura e organizaao
social, os nacionais concentrando-se no contato intertnico e na
situaao poltico-economica dos poos indgenas. Algumas con-
sideraoes de contexto histrico e intelectual sao aduzidas para
essa dierena, mas cm ltima analise a explicaao apela para um
maior compromisso poltico` ou responsabilidade social` dos
etnlogos natios ,Ramos, 1990a,. J a imos o que pensar da
diisria estrangeiros,natios. Voltemos ao artigo de Alcida Ra-
mos, examinando agora suas teses substantias sobre a etnologia
a brasileira.
O artigo anuncia um duplo propsito: ,1, apresentar para
um pblico antropolgico nao-brasileiro algumas das caracters-
ticas da etnologia eita no Brasil, ,2, discutir a questao da respon-
sabilidade social dos etnlogos para com os poos que estudam.
Os dois temas, entretanto, reelam-se um . : o trao distintio
da etnologia brasileira a responsabilidade social dos antroplo-
gos. Nosso atiismo um ataismo. Alcida ligara essa responsa-
bilidade social ao tema aorito da etnologia natia: 1he priileged
ocus o Brazilian ethnology on interethnic relations | . . . | is
associated with an attitude o political commitment to the deense
o the rights o the peoples studied` ,p. 3,. Um leitor excessia-
mente sutil poderia extrair da o corolario: brasileiro que nao
1 8
l i D U A RD O VJ VlJ ROS D L K G H F E
e.tvaa relaoes intertnicas vao az uma etnologia tipicamente
brasileira - e nao tem compromisso com a deesa dos direitos
dos ndios. Lssa entrelinha irtual na erdade uma representa-
ao explcita ,com a qual estou certo de que Alcida nao concor-
da, de certos setores da etnologia nacional, desnecessario ena-
tizar sua utilidade nas batalhas por hegemonia acadmica. Lla a
i nternalizaao de uma acusaao tradicional dos agentes do
indigenismo de Lstado contra os etnlogos: enquanto os primei-
ros azem alguma coisa` pelos ndios, os segundos s querem
saber de suas teses etc. A acusaao ,at porque ela oi comprada
pelos ndios em certas ocasioes, sempre calou undo na consci-
ncia dos etnlogos, que se deendem reairmando seu compro-
misso poltico e responsabilidade social, e eocando a igura
emblematica de Nimuendaju ,Schaden, 196: 18-19,. Uma outra
sada transerir a pecha de academicismo alienado para os ovtro.
antroplogos, os estrangeiros, tratando-os assim como os uncio-
narios do SPI e da lunai trataam todos os antroplogos, gringos
ou da terra. Seja como or, carecia de se azer uma boa descons-
truao do tema do compromisso poltico`, esse mantra da etnologia
brasileira - nao ha quem nao ale nisso, como nao altou quem
utilizasse isso para alorizar uma inserao na administraao
indigenista ,Zarur, 196,6.
Nao ha, eidentemente, nada a objetar ao compromisso po-
ltico dos etnlogos brasileiros, como praticamente todos os
etnlogos no Brasil` ,Ramos, o. cit:. 6,, tambm tenho la meus
engajamentos. O que me incomoda sao os miasmas paternalistas
que as ezes parecem emanar de tais testemunhos de compro-
misso, e que exprimem, a meu er, a longa histria de enoli-
mento e i a e v t i f i c a a o aa e t v o t o g i a bra.iteira c o v o . aaretbo.
6. Para indicaoes sobre o tema do .ociat covvitvevt` no imaginario das cin-
cias sociais brasileiras, er as reerncias em Peirano, 1998: 116, c mais
especiicamente sua tese de 1981.
I 1 N O I . O G I A B R A S I !. K!RA
1 9
indigenistas de Lstado68. O discurso ctnlogico sobre os ndios
oi, em arios momentos, um discurso eito de dentro do Lstado,
e para os ouidos do Lstado. Voltemos um momento aquela
caracterizaao semijocosa que A. Lima az da cisao que eita-
mos abordar`: de um lado, uma etnologia depurada de compro-
missos com a aavivi.traao pblica` e oltada para as dimen-
soes internas`, de outro, uma linha descendente` direta de preo-
cupaoes administratias, ia Darcy Ribeiro, Lduardo Galao e
Roberto Cardoso de Olieira, em suas passagens pelo SPI, na
presena em instancias como o CNPI, oltada somente para o
estudo das interaoes com a sociedade nacional`` ,1998: 263,. A
caricatura me parece, no im das contas, razoaelmente iel ao
original, mas ela pede alguns retoques. Assim, muitos etnlogos
brasileiros nao mostram, de ato, grande entusiasmo por com-
68. Quero deixar bem claro que nao estou me reerindo a Alcida Ramos, cujo
compromisso com o destino dos \anomami s merece admiraao. L quero
deixar igualmente claro que nao sou contra` que se trabalhe na lunai ou
para a lunai, ou que se colabore ,no bom sentido, com rgaos responsa-
eis por polticas pblicas que isem ou aetem os ndios etc. Nao acho
que trabalhar nas agencias indigenistas condene algum ao ogo eterno -
mas tambm nao acho que canonize algum. O que me parece eetiamen-
te inaceitael o uso do discurso etnolgico para legitim ar a participaao
nessas instancias, o v o v . o aa ar ticiaao v e. .a . iv.tvcia. ata tegitivar
o discurso etnolgico, e sobretudo a deiniao dos objetos e objetios da
pratica etnolgica a partir do ponto de ista dessas instancias. Nao penso
que exista qualquer ainidade especial entre o ponto de ista da etnologia e
o dos rgaos indigenistas ,oiciais ou alternatios,. Lnim , gostaria tam-
bm de dizer que nao tenho obiamente nada a opor, muito pelo contrario,
ao projeto de uma antropologia do Brasil - sejam estudos antropolgicos
de grupos sociais nao-indgenas localizados no pas, sejam analises de ins-
piraao antropolgica sobre as ideologias da nacionalidade, do carater na-
cional etc. L muito menos m e oponho ao alioso trabalho de desconstru-
ao histrico-sociolgica do indigenismo dc Lstado, ou a uma interenao
poltica e terica de nossa disciplina sobre a questao indgena` . Varios
antroplogos m mostrando que possel azer uma antropologia do
Brasil, e da questao indgena, que nao seja tributaria das obsessoes da
nacionalidade.
1 8 0
I i D U A R D O V l V I U R O S D l i C A S 1 R O
promissos com a administraao pblica`, o que nao signiica que
eles nao tenham seus compromissos polticos -av covtraire, pode-
riam dizer alguns. L erdade ainda que a maioria deles nao se
tm distinguido no estudo sociolgico e histrico da poltica
indigenista, tema que a outra tradiao incorporou recentemente
com grande sucesso, mas aqui caberia tambm ponderar que o
esmiuamento analtico da administraao dos ndios nao legitima
automatica e,ou retrospectiamente um engajamento paralelo
,oicial ou oicioso, na mesma, ainda que na orma de participa-
ao c rt ica`. Quanto a outra linha, obsere-se, antes de mais nada,
que seus precursores` Darcy, Galao e Cardoso izeram um bo-
cado de etnologia classica, e nao estieram sempre oltados so-
mente para o estudo das interaoes etc.` -o que oi o caso de
alguns de seus sucessores. L sobre ser essa linha descendente de
preocupaoes administratias`, aqui me parece que Lima pega
lee na caricatura. Pois existe, sim, uma certa herana em muito
do que se ez em nome de uma antropologia da aao`69, nao
somente do olhar administratio do colonizador, mas sobretudo
da postura deinidora dos idelogos da etnia dominante: o Lsta-
do nacional tomado como espao analtico natural de contex-
t u a li z a ao` dos poos indgenas. A em presa terica de
desnaturalizaao` do conceito de sociedade ,indgena,, encarecida
pelos representantes do contatualismo, muitas ezes inanciada
com a moeda da essencializaao do Lstado, que se promoido
ao estatuto de instancia transcendente de que as sociedades ind-
genas deriam suas modestas e incertas cotas-parte de realidade.
lesitando entre ser um discurso .obre o Lstado, um discurso a
artir ao Lstado e um discurso ao Lstado, boa parte dessa socio-
logia indigenista ou metaindigenista termina sendo mesmo uma
69. Antropologia cia aao` nao sc reere a um a teoria da aao social, o term o
oi empregado em certo perodo para designar o indigenismo praticado
pelos contatualistas: nao sc trata portanto dc uma antropologia da aao
indgena, mas da antropologia como aao indigenista.
V U O K L V Y L E G F M N V V YV P M
! & !
civcia ae .taao ,Deleuze cc Guattari, 1980: 446ss., 464ss.,. O que
nao chega a ser muito dierente da suposta cumplicidade origina-
ria da etnologia classica, isto , da antropologia, com o imperia-
lismo metropolitano.
Apenas recentemente os antroplogos comearam a anali-
sar de modo competente os instrumentos jurdicos de sustenta-
ao do aparelho colonial ,Carneiro da Cunha, 198, 1992, A.
Lima, 1992, Perrone-Moiss, 1992, e a reconstituir os processos
de goernamentalizaao` nesse setor ,A. Lima, 1995,. Isso tra-
duz um deslocamento muito importante da posiao de enuncia-
ao do discurso etnolgico em ace do indigenismo oicial -sem
que esteja excluda, entretanto, a possibilidade de que em alguns
casos o noo discurso dos etnlogos continue a estar sendo diri-
gido aos ouidos do Prncipe. A proporao, porm, que os ndios
comeam a enunciar um discurso prprio para o Lstado brasilei-
ro e os brancos em geral ,Ramos, 1988, Albert, 1993,, o compro-
misso poltico perene dos etnlogos brasileiros talez seja aliia-
do de seus ambguos contrapesos: o poder que eles sempre exer-
ceram como mediadores e porta-ozes dos ndios ,Ramos, 1990a:
24, - poder nem sempre distinguel do elho esquema da
patronagem,0- c a incomoda intimidade, de classe senao de cre-
do, que quase sempre mantieram com os poderes constitudos.
Intimidade essa, alias, que sugere que a distancia objetia entre
os etnlogos e os ndios muito maior do que imaginam as
antasias identiicatrias da antropologia mameluca`.
0. Poder menor, talez, que o de seus congneres latino-americanos, mas
o a e r a e v e.va vatvrea, ba;a ri.ta o c o v t e o cov ti v e vt a t a o i v a i g e v i . v o `.
lm sua analise do americanismo no contexto histrico-cultural da Amri-
ca Latina, 1aylor sublinha o statut tres ortement aloris de l `anthropologie
dans ces pays, et |le| role politique non-ngligeable que jouent les ethnologues
latino-amricains dans les politiques de leur pays a l `gard des populations
indigenes, l. lare a ait remarquer que l `ethnologie tait, par excellence,
une science politique` en Amrique latine` ,1984: 220,.
1 8 2
I l D U A R D O V l V R I R O S Dl - C A S 1 R O
O compromisso poltico` da etnologia ja oi atribudo as
razes que esta e outras cincias sociais brasileiras deitam nos
modernismos nacionalistas dos anos 20, c nos projetos de cons-
truao de uma identidade nacional` ,er Peirano, 1981, 1992,,
isso teria dado a nossa antropologia em geral um sabor humanstico
dierso do de outras tradioes antropolgicas, mais marcadas
pelas cincias naturais ,Ramos, o. cif.: ,. O contraste nao me
parece indiscutel, se pensarmos nos paralelos presentes na an-
tropologia norte-americana da mesma poca ,como no esoro
dos boasianos em pensar a identidade nacional de la: Stocking,
1989,. O que realmente problematico, entretanto, a oposiao
sugerida por Alcida Ramos entre a antropologia brasileira, guia-
da pelo ideal do vatiovbvitaivg, e as antropologias britanica e
americana, instrumentos de um processo de evirebvitaivg ;o.
cit.: 26 n.6,1.Nao ha dida de que ha dierenas signiicatias -
nao tiemos antroplogos em nenhum Projeto Camelot, salo
engano -, mas preciso sublinhar com o trao mais grosso pos-
sel que, do ponto de ista dos poos indgenas, nosso vatiov
bvitaivg um caso puro e simples de evirebvitaivg. Lsquecer isso
subscreer a ideologia dos ndios do Brasil`, que os recorta
com a tesoura do Lstado e os este com o trajo da brasilidade:
| . . . | Brazilian Indians are ovrothers, they are part o our country,
they constitute an important ingredient in the process o building
our n at ion|. . .|` ;o. cit.: 9,. Lntendo o que isso possa querer
1, L altaria enquadrar o caso da antropologia rancesa, um pouco mais com -
plicado quando se introduz sua ertente americanista. Com eeito, se os
antroplogos marxistas ranceses operaam no ambito do imprio colonial
rancs ,pois eram ou sao aricanistas na maioria,, estando assim associa-
dos - criticam ente, e c l a r o . . . - a ersao gaulesa do evirebvtaittg, os
americanistas daquele pas, e penso sobretudo cm Li-Strauss, parecem
ter estado mais enolidos com o que poderamos chamar de processo de
.ecie.bvitaivg`, herdeiros que eram do sculo XVIII mais que do XIX
,1aylor 1984,, e oltados como estaam para o estabelecimento de unier-
sais sociolgicos ou cognitios da espcie humana.
K 1 N O I . O G I A B R A S I L L I R A
! & "
marcar no conronto com uma audincia norte-americana, mas
se nao reconhecermos, ca entre ns, que ormulaoes como os
ndios sao parte de nosso pas` ou os ndios sao nossos outros`
dependem de um gesto imperial e colonial ,nao existe isso de
colonialismo interno, interno do ponto de ista de quem,, conti-
nuaremos na dcada de 20 ou 30. L, se os ndios sao realmente
nossos outros`, s pode ser porque somos os outros ,entre ou-
tros, deles, pois nao
2 <Q>8E2 @B6C2
O artigo de Alcida Ramos traz tambm obseraoes pene-
trantes sobre certas deicincias do estilo etnolgico nacional. O
principal problema apontado o ritmo descontnuo das pesqui-
sas de campo: Rarely has a Brazilian ethnographer spent a whole
continuous year in the ield` ;o. cit.: 11,. A pratica usual sao
isitas curtas, distribudas ao longo de um largo perodo de tem-
po. Isso tem como consequncia o ato de que ainda sao raros os
etnlogos brasileiros que mostram uma proicincia razoael na
lngua do grupo que estudam, a maioria utiliza intrpretes ou
concentra a interlocuao nos indiduos ou setores do grupo que
alam portugus. Alcida Ramos sugere um correlato muito im-
portante dessa situaao:
G i i n g p ri o r i t y to t he the m e o i n t e r e t h n i c re l a t i o n s , i m p o r t a n t as
i t is, m ay e r y wel l work as an ali bi to d i s p e n s e w it h the need to learn the
Indian la n gua g e, as it p res u m es a l o n g s t a n d i n g ex p e r i e n c e o the Indians
w it h n at i on a ls and a ai rly g o o d co m m an d o P o r t u g u es e on t he ir p ar t
;o. cit. : 12,.
Logo em seguida, porm, a autora acha qualidades nessas
insuicincias ,isitas curtas, baixa competncia lingstica,. Ar-
gumenta que nosso estilo produz resultados muito dierentes
1 8 4
l D U A R D O V I V l I R O S n i - C A S 1 R O
do dpo tradicional de etnograia a Malinowski`, que ele desmen-
te assim a mstica do trabalho de campo prolongado` e que ele
compensa suas carncias por um enolimento cumulatio e de
longo prazo com o poo estudado, um oco terico concentra-
do` etc. Lm ez de tirar otograias ntidas, diz A. Ramos, ara-
mos cinema, etnograia em moimento. Nada disso me conence
nem um pouco. Se o estilo tradicional natio tao bom assim,
por que, desde a criaao da ps-graduaao no pas, esperamos
que os estudantes de doutorado passem pelo menos um ano
azendo trabalho de campo, como a autora obsera ,oc. cit.). Por
que, alias, o trabalho de campo inicial prolongado e o aprendiza-
do da lngua seriam impedimento a um enolimento cumulatio
e de longo prazo2 L acil er que os notaeis progressos quali-
tatios alcanados pela etnologia brasileira nas duas ltimas d-
cadas se izeram em proporao direta ao aumento do tempo
mdio de permanncia contnua no campo e a um melhor mane-
jo das lnguas natias3.
1ais argumentos de tipo em compensaao` - como aquele
outro aanado por Alcida Ramos sobre o que ganham moral e
politicamente os etnlogos brasileiros, ao se enolerem com a
luta indgena ,perdendo, diz ela com alguma ironia, um tempo
que poderia ser gasto in theoretical thinking and in sharpening
methodological tools`, o. cit.: 4, - soam como uma tentatia
pouco habil de eximir a etnologia brasileira de suas responsabili-
dades tericas, O compromisso poltico com os poos indgenas
nao pode serir de desculpa para despreparo tcnico, mediocri-
2. A carreira da prpria autora a m elhor proa de que uma coisa nao
impede a outra.
3. .vte. qve a tgv ev e v . e vi..o, a e i ev v e esclarecer que nao estou me
incluindo entre as exceoes honrosas. Minha pesquisa entre os Arawet
padeceu das mesmas deicincias apontadas por Alcida Ramos: meu traba-
lho de campo inicial oi curto ,10 meses,, c meu controle da lngua arawet
relatiamente restrito.
I 1 N O I . O G I A l R A S l L l R A
1 8 5
dade descritia e indigncia relexia, como tao reqentemente
o caso nos grotoes acadmicos do pas. O melhor desmentido a
esses argumentos o trabalho de etnlogos como a prpria Alcida
Ramos ou Bruce Albert, que produziram brilhantes interpreta-
oes da organizaao social e ritual dos \anomami, analises ino-
adoras do contato`, relexoes sobre o trabalho etnograico, ex-
tensos materiais lingusticos e etnograicos de apoio a aoes de
sade e assistncia, detalhadas justiicatias de demarcaao terri-
torial, denncias e articulaoes polticas contra inasoes genocidas
do territrio yanomami, polmicas cienticas contra idiotices
pseudodarwinistas de outros antroplogos etc.
A questao da lngua me parece undamental. Penso que
Alcida Ramos esta coberta de razao em dizer que o oco nos
processos de contato intertnico tem serido como alibi para o
nao-aprendizado da lngua, e tem limitado grandemente as possi-
bilidades de pesquisa. Acho tambm dicil encontrar antagens
compensatrias nessa ausncia. L claro que ela nao incapacitante:
como atestam algumas pesquisas conduzidas predominantemen-
te na lngua de contato, dependendo das condioes sociolings-
ticas, da sensibilidade do etngrao e do tempo de permanncia
no campo, possel obterem-se resultados que pouco deem
aos obtidos pelo procedimento classico. A questao nao se presta
a normalizaoes genricas. Uma ez que raramente se passa no
campo o tempo necessario para se adquirir um domnio luente
da lngua natia e s entao comear a azer a pesquisa -o que de
qualquer modo impossel, pois toda pesquisa comea no dia
em que se poem os ps na aldeia, ou antes as coisas se resu-
mem a alternatia pratica: ou a pesquisa o resultado do que se
pode aprender, evqvavto se aprendia a lngua, ou ela o resultado
do que se pode aprender, vv se aprender a lngua. Cada termo
da alternatia tem seus prs e contras.
Mas pode haer nisso mais que um problema de estratgia
de trabalho. A decisao metodolgica de se trabalhar com inor-
1 8 6
L i D U A R D O V l V I U R O S D l i C A S 1 R O
mantes bilnges e tradutores parece-me ser ao mesmo tempo
causa e conseqncia daquela decisao terica assumida por tan-
tos etnlogos contatualistas: a decisao de se minimizar ou
secundarizar o arbitrario cultural` natio, em aor dos proces-
sos homogeneizadores` oltados para a subordinaao das ordens
socioculturais indgenas. Um dos instrumentos cruciais de tal
subordinaao a lngua do plo tnico dominante. Por isso, a
opao de se trabalhar no ernaculo do colonizador nao direciona
apenas a pesquisa para os aspectos exprimeis nesse cdigo,
sobrealorizando-os e excluindo muitas ezes perspectias cruci-
ais, como a da parcela eminina da populaao ou a de acoes
menos ligadas as agncias de contato: eta e vva e.cotba ottica tavto
qvavto vetoaotgica, implicando o acesso dierencial a lngua domi-
nante pelos interlocutores do dialogo` etnograico4. A alternati-
a acima enunciada nao portanto neutra, e nao pode ser aalia-
da simplesmente em termos do maior ou menor conhecimento
obtido: bem possel que uma pesquisa que se ez enquanto se
aprendia a lngua natia tenha sido, sob alguns aspectos, menos
rica ,se o aprendizado oi incipiente, que aquela que se ez sem
se aprender a lngua natia -mas, se assim o oi, oi justamente
porque o etngrao decidiu recusar, nesse plano crucial que o
controle do cdigo de comunicaao, uma assimetria a seu aor.
Lsse modo de ormular o dilema esta supondo que a proi-
cincia na lngua natia, ainda que raramente ativgiaa pelos
4. 1al acesso dierencial o caso mais comum, a assimetria de competncia
nao se eriica, naturalmente, quando os ndios se sentem tao ou mais a
ontade alando o portugus que a lngua natia, ou dominando o primeiro
m elhor que o antroplogo. No caso da pesquisa de Gow ,1991, entre os
Piro, que um exemplo de boa etnograia conduzida em uma lngua nao-
natia, o autor, anglono, tee que aprender o espanhol amazonico, mui-
tssimo v e v o . amiliar a cie que aos Piro. Kssa uma .itvaao bem diersa
daquela cm que o etngrao trabalha em sua prpria lngua, tendo apenas
que se adaptar ao alar regional ,a cujas especiicidades, entretanto, ele as
ezes permanece surdo,.
l i 1 N O l . O C I A BRASI LKI RA
1 8
etnlogos brasileiros, seja um ideal consensual, talez apenas
v e v o . alorizado e perseguido por alguns. Mas ha a possibilida-
de de que aquela censura epistemolgica acima aludida esteja
operando tambm aqui, e que tal ideal seja discretam ente
desencorajado em certos crculos, por exotista, essencialista e
diersionario em relaao ao nico propsito legtimo da etnologia,
a saber: a desnaturalizaao` integral da condiao indgena, sua
reduao a uma categoria poltica mediante um combate sem quartel
a todo culturalismo`. As lnguas indgenas, nesse caso, sao um
obstaculo bio, pois, ainda que a lngua nao seja a essncia da
cultura ,Ingold, org., 1991,, ha de se conir que ela uma das
mais conincentes aparncias da cultura. Mas nao acredito que
nenhum etnlogo chegue realmente a condenar a opao de se
realizar a pesquisa na lngua natia, ou s admita o estudo de
poos indgenas que alem exclusiamente o portugus. Contra
tal absurdo dicil achar o que dizer5. Seja como or, ele casaria
bem com uma certa soisticaria ps-moderna, a cujos olhos os
grupos indgenas que nao utilizam um ernaculo prprio ,ou nao
tem uma aparncia sica distintia etc., apareceriam como mais
autnticos - justamente porque menos autnticos` aos olhos
naturalizantes` do senso comum` -que aqueles grupos que o
azem. O que nao passa de um modo mais complicado de se cair
no conto da autenticidade.
Voltando a questoes nao-hipotticas. A etnograia de gru-
pos monolingues ,no ernaculo indgena ou no portugus,, ei-
dentemente, nao oerece escolha, e, no caso das populaoes que
azem uso exclusio do portugus, tampouco problemas - apa-
5. S posso aqui lembrar o que disse J. Gledhill sobre a suposta m stica` da
autoridade etnograica, denunciada por Cliord e congneres: Being
there` does not, o course, grant absolute authority to the obserer, but it
sure as hell improes on not being there a t all` ,1996: 48,. D iga-se o
mesmo no presente caso: alar a lngua natia nao da superpoderes cienth-
cos ao etngrao, bvt i t .vre a. b e t t ...
1 8 8
KDUARDO Vl V K l RO S D l i CAS 1RO
rentemente. Na erdade, a conduao da pesquisa em portugus,
junto a um poo indgena que s ala essa lngua, nao deeria
dispensar o pesquisador de uma relexao sociolingstica, pois,
aos lermos as monograias produzidas em tais condioes, pouco
icamos sabendo sobre que espcie de portugus alam os ndios,
que deires minoritarios atraessam essas apropriaoes da lngua
aov ivavte, e c o v o . e b o v r e o e t v g c a f o para aprender essas
ovtra. lnguas. Ou, por outra: emos, sim, o emprego reqente
de uma conenao que consiste em graar as alas ,em portu-
gus, indgenas de um modo estranhamente pseudoontico, que
ai muito alm do simples respeito as contraoes-padrao do nos-
so registro oral. A intenao dessa graia bizarra, suponho, res-
saltar a oralidade do contexto de interlocuao, e as peculiaridades
prosdicas dos alares natios. Ja i isso eito tambm cm alguns
trabalhos sobre populaoes camponesas`, aro-brasileiras etc. O
resultado quase sempre desastroso, recordando a literatura cai-
pira` e outras tentatias do gnero, e criando um contraste pro-
undamente eotiavte com a prosa ortograicamente normalizada
que enole essas citaoes. L sintomatico que esse tipo de trans-
criao` s parea marcar, nas monograias antropolgicas, a ala
de minorias tnicas, raciais e sociais -a despeito do ato de que a
imensa maioria das ormas assim graadas deeriam s-lo do
mesmo exato modo osse o antroplogo ou qualquer outro mem-
bro da elite letrada a pronuncia-las6. Uma coisa, e coisa essen-
cial, preserar a ossatura sintatica do discurso do inormante,
os idiomatismos do grupo ou regiao, e eentualmente ,com
discernimento, as toroes distintias do portugus alado pelos
ndios, outra esse arremedo de graia cor local`. Pois, se a
intenao de rigor etnograico, entao seria preciso usar uma
erdadeira transcriao f o v e t i c a ; e, se ve.vo de rigor, e v ta o seria
6. Na minha cidade, quando se ala depressa, se ala, por exemplo: eli num
qu sab di coisa ninhuma` . Mas nunca i etnograias da classe mdia
carioca usando tal conenao de transcriao.
K1NOI . OGI A BRASII. K1RA
!"
preciso tambm adotar as tcnicas da etnometodologia e da ana-
lise conersacional.
& =2<$6CD2B 52 4E<DEB2
Os ltimos quinze avo. rirav a c o v . o t i a a a o da antropolo-
gia indgena no pas, com dois centros desempenhando um papel
de destaque: o Museu Nacional, onde se estabilizou a linha de
pesquisas em etnologia amazonica, marcada na dcada de 90 pela
elaboraao de uma srie de etnograias de boa ,em alguns casos,
excepcional, qualidade e por uma concertada atiidade terica,
e o eixo USP-Unicamp, onde ressurgiu a pesquisa etnograica
sistematica e onde se iniciou uma linha de pesquisa em antropo-
logia histrica que em se mostrando muito ecunda, entre ou-
tras coisas por sua capacidade de incorporar a tradiao dita clas-
sica`, e assim de despolarizar tematicamente o campo8. No Mu-
seu Nacional, ao contrario, ocorreu um aumento da polarizaao.
Lm paralelo ao grupo de pesquisadores em etnologia amazonica,
estabeleceu-se uma linha de inestigaao sobre temas como ter-
. Ver as monograias de: 1. Lima, ,986, 1995, lausto, 1991, 199, Gonal-
es, 1993, 1995, Sila, 1993, 1eixeira-Pinto, 1998, Vilaa, 1992, 1996a. Ver
tambm os estudos reunidos em Vieiros de Castro, org., 1995. Para alguns
trabalhos de corte terico ou comparatio, er, p. ex., Vieiros de Castro,
1993a, 1996b, 1998a, b, Vieiros de Castro & lausto, 1993, 1. Lima, 1996,
lausto, 1999.
8. Ver, por exemplo: Gallois, 1988, Menezes Bastos, 1990, M ller, 1990, Van
Velthem, 3995, 1iaat, org., 1992. . e . t e . . e a e r e v acrescentar trs estudos
de grande qualidade, eiaborados no comeo dos anos 80, que marcam a
retomada do mpeto da etnologia uspiana: Azanha, 1984, Ladeira, 1982,
Lopes da Sila, 11980|, 1986. Na linha da histria indgena e do indigenismo,
er: Calaia, 1995, Carneiro da Cunha, 1986, 198, org., 1992, larage,
1991, \right, 1992, Monteiro, 1994, Perrone-M oiss, 199. Um grande
projeto etnograico e histrico, coordenado por D. Gallois e L. Vidal, esta
em andamento na regiao da Guiana.
1 9 0
l i D U A RD O VIVl.1ROS D l i CAS1RO
ras indgenas, etnicidade, processos de goernamentalizaao e
histria do indigenismo que logo assumiu um peso considerael
nos contextos local e nacional. A produao dessa ertente, lidera-
da por J. Pacheco de Olieira, copiosa, suas contribuioes ao
conhecimento da situaao territorial dos poos indgenas, em
particular, sao da mais alta releancia. Mais recentemente, a aten-
ao da equipe se oltou para a paisagem indgena do Nordeste,
onde em ocorrendo um ascinante processo de etnognese`:
arias comunidades at entao percebidas como camponesas` es-
tao a reassumir identidades tnicas e culturais dierenciadas.
A primeira ista, a presena de duas linhas tao diersas de
pesquisa sobre grupos indgenas seria um salutar sinal de pluralismo,
ou mesmo sugeriria uma certa complementaridade de abordagens9.
Mas nao bem isso que se passa. A ertente de estudos sobre
terras e processos de contato desenoleu uma ilosoia de traba-
lho algo echada, tendendo a julgar a maioria do que eito ora
de seu ambito como estando marcado por srias deicincias teri-
cas e, pior, tico-polticas. A produao acadmica desses pesquisa-
dores mostra, assim, poucos indcios de comrcio intelectual com
a numerosa loraao de estudos etnolgicos iniciada nos anos 0,
inclusie com as inestigaoes sobre contato ou etnicidade realiza-
das a partir de outras abordagens. loram essas caractersticas que
me learam a chamar tal escola de Variante undamentalista` da
teoria do contato. Ainda que eu esteja pronto a reconhecer a rele-
ancia de seus aportes empricos, ejo o projeto terico dessa
ertente apenas como uma ressurgncia, em orma exacerbada,
daquela antropologia tpica` estabelecida nos anos 50-60 e deslocada
pela etnologia sul-americana das dcadas seguintes. Isso nao signi-
ica que eu subestime sua importancia poltica, deida a uma in-
9. Recorde-se que R. Cardoso de Olieira alaa, por exemplo, em uma
com plem entaridade de abordagens entre as analises estruturalistas dos
sistem as de parentesco e as analises historico-sociolgicas das situaoes
de contato.
I 1NOLOGI A URASI1. lIRA
1 9 1
tensa atuaao na interace da pesquisa uniersitaria com outras
eseras institucionais e a uma ampla disseminaao por centros aca-
dmicos ora do eixo Rio,Sao Paulo80.
Como exemplo do trabalho do grupo, examinarei um artigo
de J. P. de Olieira l ,1998,, no qual o autor apresenta os resul-
tados das pesquisas de sua equipe junto aos ndios do Nordeste
e, ao mesmo tempo, traa o que chama de um debate` com os
amcricanistas europeus`, designaao que inclui ,ou isa princi-
palmente, como qualquer leitor aisado percebera, os amcricanistas
,,\-curopeus, isto : os etnlogos brasileiros que nao rezam pela
cartilha de sua escola. Nao ou me deter aqui sobre os abundan-
tes equocos do artigo no que se reere a antropologia de Li-
Strauss, ou sobre a leitura tendenciosa que az de alguns autores
,er .vra, n. 44,. Meu interesse reside nas teses tericas dc Oli-
eira a respeito do processo nordestino de etnognese, pois elas
dao continuidade as suas relexoes mais antigas sobre o objeto
da etnologia, que ieram tendo um papel importante na presente
discussao.
O artigo comea por obserar que os poos indgenas do
Nordeste praticamente nao oram estudados pelos etnlogos, para
quem eles nao passariam de remanescentes deculturados em ase
terminal dc acamponesamento. O carater misturado' das cultu-
ras indgenas da regiao lhes daria uma baixa atratiidade` para a
etnologia, pois, carecendo dc distintiidade cultural`, elas nao
oereceriam o necessario distanciamento em relaao ao obsera-
dor. Com eeito, diz o autor, o olhar terico dominante s conse-
80. A ertente contatualista tem uma certa presena em Braslia, mas ela ali
temperada por diersas outras orientaoes e temperamentos tericos. lalei
do papel de destaque do Museu Nacional e do eixo U SP-U nicam p na
etnologia dos ltimos quinze anos. A UnB, naturalmente, continuou sendo
um dos centros mais prolicos de produao etnolgica, mantendo uma
produao constante. Mas ela nao chegou, neste perodo mais recente, a
constituir grupos de pesquisa ortemente integrados, como oi o caso da
USP-Unicamp e do Museu Nacional.
1 9 2
i DUARDO Vl VlIROS Dl i CAS1RO
guiria enxergar entidades descontnuas e discretas` ,p. 49,, e
assim teria se mostrado insensel ao mundo da mistura nordesti-
na, onde tal concepao exotizante e descontinusta do objeto
etnolgico nao encontraa apoio. Olieira seero com arios
antroplogos, por conta disso: de Li-Strauss a Darcy Ribeiro,
passando por Galao, Lowie, Mtraux, estendendo mesmo sua
censura a maioria dos etnlogos que estuda as populaoes au-
tctones sul-americanas` ,p. 49,.
L indiscutel que as sociedades indgenas do Nordeste o-
ram pouco estudadas. Olieira mesmo, por exemplo, ez sua pes-
quisa de campo ,a partir de 195, entre os 1icuna da Alta Ama-
zonia, nao no Nordeste, embora outros alunos de Roberto Car-
doso ja tiessem pesquisado na regiao81. O interesse da escola
contatualista pelo Nordeste s tomou mpeto, no Museu Nacio-
nal, na dcada de 90. Por isso, a crtica que Olieira az a toda a
etnologia precedente parece-me algo descabida. Ainal, inte anos
atras, era ele prprio quem alaa em descaracterizaao cultu-
ral` e em desarticulaao da organizaao social` dos grupos in-
dgenas do Nordeste, aludindo mesmo a um processo de
proletarizaao` que os impedia de preserar sua condiao cam-
ponesa` ,Olieira l, 198,82. loje sua isao mudou, porque
mudou a realidade: o ato social que vo. vttivo. rivte avo. em se
81. No preacio de 190 a segunda ediao de O vaio e o vvvao ao. bravco.,
Cardoso menciona que a dissertaao de P. M. Amorim sobre os Potiguara
,Museu Nacional, 191, deeria ser o ponto de partida para um estudo
comparatio dos remanescentes indgenas do Nordeste, situados no limiar
das sociedades aborgene e nacional, como um tipo particular de campons
do territrio brasileiro`. O atual interesse da equipe de Olieira sobre o
Nordeste remonta, assim, a um antigo projeto de Roberto Cardoso ,que
nao reerido no artigo de Olieira,.
82. Neste trabalho de 198, o autor contrastaa tambm os ndios nordestinos,
camponeses pr-proletarizados, com os ndios alto-xinguanos -isto , os
ndios m isturados` com os ndios puros` e localizaa os 1icuna na
categoria interm ediaria de campesinato comunal` .
I l 1NOI . OGI A I5RASI1. KIRA
1 9 3
impondo como caracterstico do lado indgena do Nordeste o
chamado processo de etnognese, abrangendo tanto a evergvcia
de noas identidades como a reivrevao de etnias ja reconhecidas`
;ia. , 1998: 53, grios meus,. L certamente injusto acusar de cego
quem nao ia o que entao era inisel, o que inclui o acusador.
Alm disso e sobretudo, patente que Olieira e sua equipe s
oram se interessar pelos ndios do Nordeste a partir do momen-
to em que esses passaram exatamente a aspirar a um estatuto
descontnuo` e discreto`, isto , a reiindicar identidades c terri-
trios dierenciados, e a elaborar sua prpria distintiidade cultu-
ral rente a condiao camponesa`.
1al constataao nos lea ao assunto que interessa. Que a
distintiidade iv f i e r i dos poos indgenas do Nordeste seja o
resultado de um projeto poltico dos poos enolidos, isto ,
que cia seja uma distintiizaao` atia e nao um dado cultural
passio ou naturalizado`, i..o vao vvta vaaa: nem o ato de que a
auto-objetiaao dos ndios do Nordeste como coletios dieren-
ciados precedeu e guiou sua recente objetiaao etnolgica pelo
contatualismo, nem o ato de que eles se tornaram objetiamente
dierenciados. Duidar desse ltimo ato supor, por contraste,
que os coletios indgenas naturalmente` distintos ,os grupos
mais isolados` da Amazonia, por exemplo, sao mesmo vatvrat
vevte distintos, e nao culturalmente, isto , politicamente distin-
tos, e que sua distintiidade nao o resultado de um processo
atio e contnuo de dierenciaao poltica: dierenciaao rente a
outros coletios humanos, aos espritos, aos animais83. Ma. e..e
83. Lsse processo - um deir-ndio`, diriam Deleuze e Guattari entretanto,
nao nem puramente dierenciante`, nem simplesmente cultural` . Kle
enole tanto uma dierenciaao vatvrat rente a outros coletios humanos,
aos espritos, aos animais, quanto uma ivcororaao cultural desses outros
coletios, dos espritos, dos a n i m a i s . . . Nao sao s os ndios do Nordeste
que tomaram ,e continuam tomando, sua distintiidade cultural interna`
do exterior` e a naturalizaram - nao no sentido pejoratio com que o
1 9 4
U D U A R D O V I V K I R O S D I C A S 1 R O
roce..o e eatavevte o ve.;vo qve aqvete o r qve a..av agora o. vaio.
ao ^orae.te. ,e. e.tao riravao vaio. ae voro, evqvavto o. ovtro. vaio.
.ivte.vevte vao ararav ae rirar vaio. e..e tevo toao. ..a e a vvica
aifereva: oi. toao. e.tao riravao vaio. eatavevte ao ve.vo ;eito. Se
assim nao osse, o processo de reculturaao dos ndios do Nor-
deste seria uma ilusao -no que estou muito longe de crer. Ao
contrario, as ezes penso que os tericos da etnognese poltica
sao os primeiros ,e talez os nicos, entre os etnlogos, a nao
acreditar que os ndios do Nordeste sejam reatvevte ndios. Com
sua obsessao pelo clich crtico` da desnaturalizaao, esses teri-
cos parecem conceber a cultura em reinenao pelos ndios do
Nordeste como uma espcie de placebo sociolgico -uma ilu-
sao bem undada`, uma inenao da tradiao` ou outro oxmoro
conceituai do gnero. Mas como toda cultura inentada, pois
toda cultura inenao ,\agner, 1981,, a inenao da tradiao`
apenas o modo pelo qual o olhar curto do socilogo objetiista
apreende a traaiao aa ivrevao. K uma ilusao bem-undada` nao
uma ilusao, ou s ilude os que se crem depositarios dos bons
undamentos cienticos da realidade. ,A propsito, a questao de
saber se as etnias emergentes do Nordeste estao irando ndios
ae voro ou pela primeira ez` -porque algumas dessas comunida-
des nao teriam continuidade histrica demonstrael` com algum
poo pr-colombiano -nao az o menor sentido. A descontinui-
dade histrica ale exatamente o mesmo que a continuidade his-
trica, o deir-ndio enole uma relaao dos poos indgenas
com seu passado, mas se trata de uma retaao re.evte cov o a..aao,
vao de uma retaao a..aaa cov o re.evte.,
Sigamos. Olieira mostra como os ndios do Nordeste se
constituem ou constituam em uma categoria problematica do
ponto de ista administratio - ndios misturados` semelhantes
term o utilizado pela crtica ocidental do ctichismo, mas no sentido cie
transorm ar atia e deliberadamente a cultura em natureza.
l i 1NOI . OGI A BRASl I . l IRA
1 9 5
em sua lngua, aparncia e modo de ida as populaoes campo-
nesas: maus regueses, portanto, para o rgao indigenista ,e para
os etnlogos puristas`, -, e como sua ressurgncia tnica colo-
cou problemas dierentes, de natureza mais undiario-assistencial
que geopoltico-ambiental, daqueles enrentados hoje pelos ndi-
os da Amazonia84. O grande problema, de cuja soluao os outros
dependem, o de reerter o estigma da mistura`, de modo a
assegurar um estatuto de indianidade jurdica plena. Isso explica
o processo dito de etnognese. O reerencial terico de Olieira
para pensar esse processo a bibliograia inglesa e norte-ameri-
cana sobre etnicidade e antropologia poltica, e - importante
acrescentar - |os| estudos brasileiros sobre contato intertnico`
,p. 53,. O aporte especico do autor a esse repertrio o concei-
to de territoriciti`aao
A inspiraao mais remota desse conceito a classica oposi-
ao eolucionista entre parentesco` e territrio`, .ocieta. c cirita.,
estabelecida por Morgan ,p. 54,. Se bem compreendi Olieira,
84. D aqueles enrentados bo;e, sublinhe-se. Os ndios da Amazonia s com e-
aram a ser tomados em termos ecol gicos` e g e o o t t i c o . ` nos v tti v o.
inte anos, mais ou menos. Ate entao, seus problem as eram istos como
de natureza igualmente undiaria` e assistenciaP ,o que eles continuam
sendo, em parti cular no que concerne a questao da sacle,. A transern-
cia do interesse de Olieira para o Nordeste tem, por isso, aspectos de
continuidade. A situaao atual dos ndios do N ordeste m ostra certas
analogias com a situaao amazonica na poca da atuaao mais intensa
desse etnlogo ali: o par Punai,terra indgena continua no centro de suas
preocupaoes. Lm boa parte da Amazonia atual, com as terras indgenas
relatiam ente garantidas c a l u r a i am plam ente ali jada de sua unao de
mediador, em ista do estabelecimento de ormas de interlocuao direta
dos ndios com os poderes locais e com ONGs nacionais e internacio-
nais, as preerncias tematicas de Olieira perdem algo de sua releancia.
Acrescente-se a isso o ato de que os ndios am azonicos precisam cada
ez menos dos antroplogos como mediadores polticos, ao passo que,
no caso do N ordeste, esses sao mais que bem-indos, pois sua presena
no gru po indgena sere de eidencia pblica da reiindicada indianidade
do grupo.
1 9 6
Ii DUARDO Vl VI i l ROS Dl- CAS1RO
seu conceito de territorializaao exprime a idia de que a incor-
poraao de uma sociedade indgena pelo Lstado nacional enol-
e uma passagem do parentesco` ao territrio` como princpio
de constituiao social, ou, pelo menos, a instauraao de uma
noa relaao da sociedade com o territrio` ;toc. cit). A territori-
alizaao por incorporaao a um Lstado, ele mesmo territorialmente
organizado, produz uma modiicaao no que poderamos chamar
de vatvrea vttiva da sociedade indgena: um processo de reor-
ganizaao social ` ,p. 55, que implica, entre outras coisas, uma
etniicaao` da sociedade, isto , o estabelecimento de uma iden-
tidade tnica dierenciadora` e uma reelaboraao da cultura e da
relaao com o passado`.
A ressurreiao da polaridade parentesco,territrio por Oli-
eira me parece rica em implicaoes, digamos, simblicas. Com
eeito, o autor escolheu teoricamente o plo do territrio, en-
quanto a etnologia classica` do Museu Nacional tem se distingui-
do exatamente por suas contribuioes a uma teoria do parentes-
co. Isso parece corresponder as preerncias mais proundas das
respectias ertentes` : a primeira icou com a cirita. nacional, a
segunda com a .ocieta. natia. L interessante ainda que, em seu
modelo de territorializaao, Olieira a atribuir ao roce..o ae
territoriatiaao e ao nexo territorial o mesmo carater sociogentico
que os roce..o. ae aarevtavevto e a relaao de parentesco desem-
penham nas analises da ertente classica`. Assim, diz o autor
sobre os grupos tnicos nordestinos, a relaao entre a pessoa e
o grupo tnico seria mediada pelo territrio` ,p. 65,, ao passo
que a relaao entre a pessoa e os coletios em que ela se inclui
sao, no caso do outro modelo, mediadas pelo parentesco. Na
erdade, a etnologia amazonica em mostrando como muitas das
ormaoes sociais daquela regiao conertem continuamente o ter-
ritrio` ,a co-residncia, em parentesco, ao deinirem os residen-
tes de um mesmo grupo local como parentes ,Vieiros de Castro
1993a,. No caso do modelo que Olieira parece estar conceben-
I 1 N O L O C I A B R A S I L L I R A
1 9
do para os ndios do Nordeste, o parentesco que se conerte
em territrio. L como se nessa situaao o conceito de vi.tvra
cororat os ndios misturados - necessitasse de uma contraparti-
da na vrea territoriat os territrios indgenas distintos reiindi-
cados pelos ndios. Compare-se tambm essa concepao da situa-
ao nordestina, em que a histria o territrio, com a isao dos
ndios misturados` estudados por Gow ,1991,, para quem a
Covvviaaa ^atira ,a coletiidade indgena reconhecida juridicamente
pelo Lstado peruano, e as terras que lhe cabem sao apenas supor-
tes para a produao e o exerccio do parentesco, e pata quem
history is kinship`85. Parece haer, entretanto, um discurso e uma
pratica do parentesco nas comunidades nordestinas ,p. 61,, mas
inelizmente icamos sabendo muito pouco sobre isso, porque na
isao de Olieira o territrio engloba o parentesco a ponto de
eclipsa-lo.
O conceito de territorializaao, diz o autor, uma extensao
das idias de Barth sobre a identidade tnica como processo
poltico: "aastando-se das posturas culturaiistas, Barth deinia
um grupo tnico como um tipo organizacional, onde uma socie-
dade se utilizaa de dierenas cul tur ais... ` ,p. 55,. Lssa parara-
se eita por Otireira . v g e r e vva reiicaao ou mesmo personii-
caao da .ocieaaae, curiosa contrapartida daquele aastamento rente
as o.tvra. cvttvraii.ta. que eriam cada cultura` como um isola-
do`. A parte isso, a teoria ck etnicidade de Barth bem parecida
com a noao li-straussiana da cultura` como conjunto de aas-
tamentos signiicatios contextualmente deinidos, ortemente
criticada por Olieira em seu artigo. No caso da etnicidade, natu-
ralmente, quem signiica` os aastamentos sao os agentes, nao o
analista, e essa signiicaao um ato poltico` ,p. 55,. Mas
85. L curioso que Olieira, neste artigo em que elabora tao detalhadam ente a
noao de ndios misturados` , nao tenha achado necessario a.er nenhuma
reerncia ao liro dc Gow, que trata de um poo que se deine exatamente
nesses termos.
1 9 8
KDUARDO Vl VlI ROS D l i CAS 1RO
como tao bem mostrou Carneiro da Cunha ,199,, a etnicidade
uma transormaao especica da lgica totmica analisada por
Li-Strauss: ela a ariante politicamente moderna do otemismo,
pertencendo a estrutura totem, casta` discutida em 0 ev.avevto
.etragev. ,O que distinguiria a etnicidade do totemismo, entretan-
to, o ser moderna, nao o ser poltica, pois o totemismo em si
mesmo um dispositio poltico. Ou, se quisermos usar a polari-
dade eolucionista reiida por Olieira, o totemismo esta para o
mundo do parentesco` como a etnicidade para o unierso do
territrio`.,
Um comentario geral sobre a poltica` e o poltico` . A esco-
la de Olieira utiliza liberalmente as ormas substantias, adjetias
e aderbiais dessas palaras em suas interpretaoes, identiican-
do-se, alm disso, com o que chama de antropologia poltica`. A
cultura, alias, parece s ter sido readmitida no cenario contatualista
porque ela oi politizada`, isto , porque ela pode ser redeinida
como a continuaao da poltica por outros meios, graas ao uso
eetiamente poltico da distintiidadc cultural por parte dos gru-
pos nordestinos ,o que explica a alta atratiidade` dos ndios do
Nordeste para essa escola,. Lm lugar, portanto, de por a poltica
na cultura, os neocontatualistas poem a cultura na poltica. Moi-
mento aparentemente interessante, mas s aparentemente.
O recurso inariael ao poltico` unciona como o instru-
mento de realizaao daquele trabalho crtico que os contatualistas
estimam mais que tudo: a desnaturalizaao das categorias antro-
polgicas e dos enomenos sociais. 1rabalho meritrio -se ele
comeasse por se aplicar a prpria noao de poltica`. Com eei-
to, dicil desnaturalizar o que quer que seja a partir de uma
concepao iolentamente naturalizada do poltico`, que o como
uma espcie de ter do mundo social, substancia mstica a medi-
ar uniersalmente as aoes humanas. Nada mais caracterstico de
certos impasses da antropologia contemporanea que esse proces-
so conceituai de e..evciati,aao aa ottica, expressao, por ezes, de
l i 1NOI . OGI A I l RASl l . KI RA
1 9 9
um naturalismo sumario ,na erdade, uma teoria da natureza
humana, que subscree princpios grandiosos e agos como o
carater central do conlito para o entendimento dos atos so-
ciais` ,Olieira l, 1988: l l , 86. Os partidarios desse politicismo
generalizado pretendem estar desnaturalizando a sociedade, mas
apenas para melhor renaturaliza-la no elemento uniersal do po-
ltico ,talez na ilusao de que ele seja naturalm ente
desnaturalizado,, que passa entao a uncionar como .egvvaa vatv
rea, isto , como o equialente naturalizado da cultura`, nos
termos do tradicional dualismo natureza,cultura` . Lssa antropo-
logia poltica, com sua retrica pr-abricada do conlito`, das
estratgias` e dos recursos` bem dierente de uma erdadeira
antropologia aa poltica ,Goldman & Palmeira, 1996,, que s
comea quando se pergunta o qve oae .er uma dimensao do pol-
tico` em sociedades dierentes da nossa. Pois nao possel por a
cultura na poltica sem por o poltico na cultura8. L, enquanto
alguns ainda se aanam em desnaturalizar a sociedade ,trabalho
86. Lste princpio tem um alor heurstico tao pequeno quanto o de seu hipo-
ttico contrario consensualista e equilibrista`.
8. lalei no dualismo natureza,cultura que continua a orientar o desiderato da
desnaturalizaao` . Mas ha, claro, os que uniicam, como bons materialis-
tas`, a dicotomia entre o mundo sico da energia e o mundo poltico do
interesse nos termos de um a termodinamica uniersal da e.ta..e`, esse tema-
chae da cosmologia ocidental com proundas razes religiosas ,Sahlins,
1996,. M esmo entre os dualistas, encontram-se sinais dessa dependncia
rente a m etasica naturalista da escassez. Nao adianta muito dourar a
plula alegando que os recursos escassos, objeto e causa daquele conlito
de interesses postulado como princpio e im da ida social, nao sao deineis
uniersalmente, mas sim recursos socialmente alorizados` ,Olieira l,
1988: 11,. 1udo que se consegue com isso produzir um monstro concei-
tuai que poderamos batizar com o nome de utilitarismo simblico` . Mas,
como os undamentos propriamente simblicos da alorizaao social de
tais recursos` nao podem ser examinados - sob pena, seja de tautologia,
seja ;borre.co referev.) de culturasmo explcito - , sua composiao ira uma
espcie de caixa-preta ,o arbitrario cultural`, , permitindo assim o retorno
clandestino de um utilitarismo sem adjetios.
2 0 0
l i D U A RD O Vl VKI RO S Dl CAS 1RO
de Ssio, pois naturalizar-se precisamente a unao da socieda-
de,, os etnlogos classicos` e outros antroplogos ja passaram
ao programa mais interessante que o de ae.vatvratiar a vatvrea,
desmontando as essncias, sicas ou polticas, com que se ten-
tam reduzir os mundos indgenas as categorias da razao ociden-
tal. A vatvratiaao aa ottica praticada pelo neocontatualismo, a
antropologia contrapoe, portanto, uma otitiaao aa vatvrea, que
problematiza a distinao -poltica, naturalmente -entre huma-
nos e nao-humanos, cultura e natureza, sociedade e ambiente
,Latour, 1991, 1998, 1. Lima, 1996, Vieiros de Castro, 1996b,.
lim do comentario.
O aporte especico do conceito de territorializaao em rela-
ao as propostas de Barth, diz Olieira, seria a idia de que a
etniicaao dos grupos territorializados, e a prpria noao de
grupo tnico, depende do processo de territorializaao: o Lsta-
do-naao que etniica, ao tcrritorializar. A hiptese seria muito
interessante, se leassemos a coisa por caminhos outros em que a
lea Olieira. Lm suas maos, a territorializaao etnilcante se
transorma em reraaae, na acepao hegeliana da palara, dos po-
os indgenas, como ja acontecia com os antepassados desse con-
ceito: a situaao colonial, a indianidade. A noao de territoriali-
zaao tem a mesma unao heurstica que a de situaao colonial
| . . . | da qual descende e caudataria em termos tericos` ,p. 56,.
Lla sobretudo caudataria do conceito de ivaiaviaaae, proposto
pelo prprio autor em seu estudo sobre os 1icuna ;ia., 1988,88.
De ato, ela sua radicalizaao: no caso ticuna, ainda haia um
arbitrario cultural` avterior ,histrica e logicamente, ao processo
de indianizaao, e ainda se alaa em instituioes natias` que
seriam iniltradas e tomadas pelas instituioes coloniais`. No caso
nordestino, tal como isto por Olieira, tvao eo.terior ao proces-
88. Lste conceito, por sua ez, descendente direto do conceito darciano de
ndio genrico`.
l i 1 N O l , OGI A UR AS II A
2 0 1
so de territorializaao. Os ndios atuais do Nordeste sao criados
pelo Lstado e vibito, isto que o oram a partir de um substrato
sociocultural aniquilado pela sociedade inasora: as instituioes
natias sao institudas pelas instituioes coloniais, isto , eta. .ao
iv.titvioe. cotoviai.. A cirita. produziu a .o cie ta.. O processo de
territorializaao
o m oim ento pelo qual um objeto p ol t ico - adm i ni st rat io em a se
t ranso rm ar cm uma co le t ii d ad e o rgani zada, orm ulando um a i de nt idade
p rp ria , insti tu in do m ecanism os de t om ada de d ec isao e de representaao,
e re estru t uran do suas orm as culturai s , inclusie as q u e o relaci on am com
o m eio am bient e e com o unierso re ligi oso ,. L a olto a re en co nt rar
Barth, m as sem restringir-m e a dim ensao i d e nt it aria, endo a d is t in a o e a
in di idual iza ao com o e t ore s d e o r gani zaao social ,,V,., 1998: 56,.
O discurso proundamente ambguo. Um ob;eto ottico
aavivi.tratiro em a se trav.forvar em uma cotetiriaaae orgaviaaa.
Isto c, a criatura parece dotada de certa autonomia rente ao
criador. Mas, ao mesmo tempo, airma-se que o processo de
territorializaao
t rou x e c o n si g o a im p o s i a o aos ndios d e i n s t i t u i o e s c cr e n a s
carat ersti cas de um modo de i d a prprio aos ndios que habit am as reser-
as indgenas e sao objeto, com m aior g r a u de com pulsao, de exerc cio
p at e rnal is ta da tutela ,at o independent e de sua diersidade cult ur al , . D en-
tre os com ponent es principais dessa ivaiaviactae |...| cabe d es t acar a e s t r u -
tura p ol t ica e os rituais di erenciado res ,p. 59,.
Ou seja, o objeto poltico-administratio na erdade vao se
transorma` em coletiidade organizada -ele c a orgaviaao dessa
comunidade organizada, ele pro as instituioes` e as represen-
taoes` ,as crenas`, da comunidade. O arbitrario cultural se
torna literalmente arbitrario. L se Barth ainda se restringija| a
dimensao identitaria` dos grupos tnicos, Olieira ai er a terri-
torializaao etniicante como enomeno total, como potncia
sociogentica. A condiao de grupo tnico anterior a de grupo
2 0 2
; 5 E 2 B 5 ? F : F ; : B ? C 5 : l 4 2 C D B ?
social, o grupo tnico produzira a sociedade, porque o Lstado
produziu o grupo tnico. Lm outras palaras: o Lstado nacional
criou a sociedade indgena. Os poos originarios sao poos origi-
nados. Origivario, . o t i . ta ao.
Mas, com isso, o discurso contatualista se diante do pro-
blema de legitimar as culturas indgenas nordestinas perante a
antropologia, isto que ele suspeita que esta suspeite que tais
culturas nao sejam autnticas`. O que aconteceu Vejamos. Os
ndios do Nordeste estao usando sua distintiidade cultural para
a irm ar sua disti nti idade cultural. Mas como o etnlogo
contatualista a distintiidade cultural ,que os ndios usam,
como expressao h is tri ca do Lstado te rri tori al iza dor , a
distintiidade cultural ,que os ndios airmam, precisa ser legiti-
mada de alguma outra orma. Se que ha alguma outra orma. O
mal-estar conceituai sentido aqui pelos contatualistas parece de-
riar da tradicional conusao entre gnese e signiicaao ,ou un-
ao, de uma orma ou enomeno social. Do ato de que as insti-
tuioes socioculturais indgenas se origivarav historicamente de
um processo de territorializaao estatal nao se segue que sua
unao presente seja a de erivir esse processo, ou que sua
.igvificaao ivageva tenha qualquer coisa a er com ele. L exata-
mente isso que o processo impropriamente chamado ,pois se
trata de um deir, nao de uma gnese, de etnognese nordestina
esta mostrando, covtra as interpretaoes do processo de
indianizaao` caractersticas da doutrina contatualista. Interpre-
taoes que ela agora se orada a modiicar -mas das quais
nao consegue abrir mao inteiramente.
As culturas indgenas da Amazonia, como imos anterior-
mente, haiam sido reduzidas por Olieira ao regime do apesar
de`, as culturas indgenas do Nordeste ao continuar modalizadas
pela retrica do apesar`. S que agora ai ser preciso inerter o
argumento. Se os ndios da Amazonia eram reduzidos a uma
comum indianidade colonial ae.ar ae sua diersidade cultural ,ou
l i 1N O I . O G l A l i RASI l . I URA
2 0 3
a diersas indianidades coloniais ae.ar ae sua unidade cultural,,
no caso nordestino sera necessario mostrar, ao contrario, que
estamos diante de culturas legtimas` ou autnticas` , ae.ar ae
elas terem sido constitudas por dierentes luxos e tradioes`
culturais, ae.ar ae nao serem distintiamente distintas - pois par-
tilhadas por grupos indgenas dierentes -, e ae.ar ae terem a
unao primariamente diacrtica de airmaao de uma indianidade
imposta pelo Lstado ,pp. 59-60,. Assim, aderte-se o leitor: para
que sejam legtimos componentes |aos olhos de quem| de sua
cultura atual, nao preciso que tais costumes e crenas sejam |...|
traos exclusios daquela sociedade` ,p. 59,. L se a nase no
caso dos ndios da Amazonia era sobre os processos
homogeneizadores`, agora ai ser preciso dizer que o processo
de territorializaao nao dee jamais ser entendido simplesmente
como de mao nica, dirigido externamente e homogencizador...`
,toc. cit). Com eeito, em uma situaao de mistura` na qual o
etor poltico indgena esta orientado exatamente para uma
desmistura`, preciso ao mesmo tempo afirvar a bovogeveiaao,
indispensael a economia terica do contatualismo ,a territoriali-
zaao impoe uma situaao de indianidade que independente
da diersidade cultural` |p. 59|,, e vegata, porque os prprios
ndios estao a az-o.
Assim, por exemplo ,pp. 6 0 - 6 1 , , aprendemos que os
Xukuru e Xukuru-Kariri |...| azem a distinao entre os ndios
puros` ,de amlias antigas e reconhecidas como indgenas, e os
braiados` ,produtos de intercasamento com brancos|...|,`. Inte-
ressante er os ndios misturados do Nordeste usando aquela
categoria tao detestada pelos contatualistas - ndios puros`,
essa coisa em que s os etnlogos classicos acreditam -e que
eles aam a distinao entre puros` e misturados`, isto , a
exata distinao que Olieira pretende desazer com seu elogio
da mistura. Isso me parece resumir o paradoxo central da teoria
contatualista: os poos que ela escolheu como ob;eto erfeito ,cria-
2 0 4
lD U A R D O V M U R O S o i , C AS 1RO
dos pelo Lstado, etniicados, territorializados, ernaculizados,
nao-exotizaeis etc., sao os principais interessados no discurso
que ela rejeita: o discurso da cultura pura e sem mistura89. 1Zai
.er reci.o evtao vao acreaitar vo. vaio..
A soluao para esse problema incomodo a transormaao
da cultura em metaora - em metaora poltica. Isto , ai ser
necessario adotar uma abordagem simbolista` da cultura, para
usarmos o ocabulario da antropologia da religiao ,Skorupsld,
196,. Os partidarios da abordagem simbolista sustentam que as
crenas religiosas dos 'primitios` nao podem ser tomadas literal-
mente ,pois, nesse caso, seriam absurdas,, mas deem ser inter-
pretadas corno signiicando reraaaeiravevte outra coisa: a socieda-
de`, ou algo do gnero ,o poltico`, por exemplo,. Os contatualistas
generalizam, por assim dizer, essa tese para toda` a cultura. Visto
terem se proibido de interpretar as culturas indgenas como cul-
turas indgenas -ja que elas nao sao na erdade` culturas origi-
narias, e se tomadas literalmente s poderiam reletir o rosto do
Lstado que as criou -, interpretam-nas como signiicando reat
vevte outra coisa: a ontade de obter terras, assistncia e identi-
dade jurdica. As culturas indgenas nordestinas sao autnticas`,
pensam, com razao, os contatualistas - mas, pensam tambm
eles, elas nao sao autnticas pelas razoes que os ndios pensam.
Llas o sao porque eta. .igvificav o. vaio., nao porque o. vaio.
.igvificav cov eta.. Ou, em outras palaras: os contatualistas pen-
sam que os ndios, com suas culturas, estao a signiicar apenas
sua prpria ivaiaviaaae` mas, para os ndios, o que se signiica
com elas a reatiaaae.
Com tais argcias teolgicas sobre uma indianidade impos-
ta que se transorma em autenticidade metarica, os contatualistas
caem nos braos de quem menos se poderia esperar: de Lmile
89. 1al paradoxo, que o contatualismo partilha com algumas outras abordagens
contemporaneas, ja oi apontado por Sahlins ,199a, b,.
11NF%?8:2 9B2C:'%9: ; 2
2 0 5
Durkheim, o patrono, justamente, da abordagem simbolista. De-
pois de haer transormado a cultura em metaora da poltica,
Olieira transorma essa cultura politizada em religiao indgena.
Ao discutir o clebre ritual do tor, praticado por todos ou quase
todos os grupos nordestinos, o autor o deine de incio como um
ritual poltico, destinado a marcar as ronteiras entre ndios` e
brancos`. Mas isso nao o torna menos religioso, muito pelo con-
trario: ao se indagar sobre a natureza ltima dos grupos tni-
cos`, Olieira ,discordando respeitosamente de Barth, para quem
essa natureza seria a poltica`, airma que, no caso nordestino,
cada comunidade imaginada como uma vviaaae retigio.a e
isso que a vavtv vvificaaa e permite criar as ba.e. ivterva. para o
exerccio do poder` ,p. 61, grios meus,. O autor menciona entao
os encantados` ,espritos,, eocados pelos ndios para legitimar
sua relaao com uma originariedade imemorial, e conclui que o
processo de etniicaao enole a criaao de uma comunhao de
sentidos e alores`, exigindo uma reairmaao de alores mo-
rais e de crenas undamentais que ornecem as bases de possibi-
lidade de uma existncia coletia` ,p. 66,.
Lssa imagem das sociedades indgenas nordestinas, cons-
truda pelo discurso contatualista, curiosamente eocatia de
.. forva. etevevtare. aa riaa retigio.a. Ao buscar mostrar como a
etnognese produz entidades autenticamente indgenas, Olieira
sai-se com entidades antropologicamente durkheimianas: uma ida
espiritual oltada para a celebraao do sentido de pertena a
comunidade, rituais que marcam a ronteira entre o sagrado ,os
membros do grupo, ou os ndios puros, e o proano ,os brancos,
os ndios misturados,, diindades que sao como totens territo-
riais a assegurar a ligaao entre o mundo histrico e sua origem
mtica, e uma natureza ltima` de tipo religioso, expressao de
uma cov.civcia cotetira tnica. Ou seja: a etnognese como
reencantamento da sociedade. Mas poderamos tambm dizer: a
etnognese como naturalizaao da sociedade, pois para isso
2 0 6
UDUARDO Vl VKI RO S D l i CAS 1 RO
que sere a r e l i g i a o ` durkheim iana90. L assim a soluao
metaorizante do paradoxo s ez desloca-lo para mais adiante:
um discurso terico dedicado a desnaturalizar a sociedade` se
diante de uma sociedade dedicada ,como toda sociedade, a se
naturalizar -e, suprema ironia, dedicada a az-lo nos termos ,o
que menos comum, ormulados por um pensador nao exata-
mente popular entre os contatualistas. Olieira, que haia come-
ado sua exposiao com uma acusaao a Li-Strauss por seu
arcasmo` terico, acabou assim recuando para eras bem mais
arcaicas: primeiro, Morgan, agora, Durkheim.
Aps ter transormado a cultura em metaora, Olieira pas-
sa entao em reista as metaoras da cultura. Lxaminando as no-
oes utilizadas para nomear o enomeno em discussao, o autor
censura, por ,como sempre, naturalizantes, o termo etnognese` ,
que, segundo ele, nao caberia tomar como conceito ou mesmo
noao`, e a expressao ndios emergentes`, a qual sugere associ-
aoes de natureza isica c mecanica quanto ao estudo da dinami-
ca dos corpos, o que pode trazer pressupostos e expectatias
distorcidos quando aplicada ao domnio dos enomenos huma-
nos` ,p. 62,. Seja... Mas, entre as nooes recusadas como natura-
lizantes, uma chama a atenao:
90. Olieira nao nos da muitos elementos sobre a ida religiosa dos poos
v o r a e . t i v o . . va a t e v a o e.t a rottaaa e c t v . i r a v e v t e ara o . a . e c t o .
durkheim ianos` , como se iu, das praticas e idias religiosas desses g r u -
pos, isto , para sua unao de expressao de uma conscincia coletia
uniicada. Nada icamos sabendo, por exemplo, das dimensoes contra-
durkheimianas` da ida espiritual indgena, como as acusaoes de eitiaria,
ou sobre praticas xamansticas, magicas` etc. Assim como tudo que se diz
sobre o parentesco sublinha exclusiamente seu papel de operador tnico
de inclusao,exclusao, assim tambm o que lemos sobre a religiao gira
exclusiamente em torno de suas unoes de separaao entre o interior` e
o exterior` do .ociv. - para recordarmos aquela distinao tao criticada
pelos contatualistas. l onde oi parar, alias, o carater central do conlito
para o ent endim ento dos atos s o c i a i s `, n essa i sao proundam ente
consensualista da etnognese nordestina
U1NOI . OGI A BRASIJ. KIRA
2 0
1am bm o ut ras nooes que ocupam lugares precisos dent ro de ce r -
tos quadros t e ric os podem i r a ser utilizadas com s ign i icad o s muito
d esl oc ados e reeri dos a m et aora n at u ralizan t e aci m a cr i t i ca d a : o caso
dos co n ce it os d e acam p on es am e nt o , pro le tari zaao , cujo p ar apl icado
p o r A m orim |...| p ar a des c ree r um ci cl o eol utio m arcado p ela atali dade
|...| a t rib ud a a h istria, ;/c. at.).
loi s isso que parece ter sobrado, no discurso dos
contatual is tas, dos conceitos de acam ponesam ento e de
proletarizaao. Sua aplicaao a situaao nordestina por um pes-
quisador anterior desqualiicada, por implicar uma concepao
atalista e eolucionista da histria. Sem dida. Mas Olieira
,198, ja usara largamente essas nooes, ainda que proaelmen-
te dentro dos tais quadros tericos mais precisos. Lle classiica-
a, entao, os 1icuna como camponeses, ele recusa, agora, a
pertinncia do conceito para o caso dos ndios muito mais cam-
poneses` do Nordeste. Por que escolheu vao usar esse conceito
agora Por que, em suma, os ditos quadros tericos nao seriam
aplicaeis a etnognese Seria talez porque eles nao tm vaaa a
dizer sobre ela
A transiao da ricao acam ponesadora a etnicidade
indianizadora traduz um reconhecimento da inadequaao e im-
precisao do equipamento terico do contatualismo. 1ributario do
prognstico darciano da desapariao das culturas indgenas, e em
seguida dos tais quadros tericos` que preiam com precisao
cientica o acamponesamento dos poos indgenas -nao eram
apenas as ersoes naturalizantes` que o aziam, ao contrario do
que diz Olieira -, o discurso contatualista nao dispunha de es-
pao conceituai para a irada` indgena da reculturaao e da
retradicionalizaao. Na erdade, os contatualistas nao aziam a
menor idia de que tal processo osse acontecer. Para eles, os
ndios do Nordeste eram deinitiamente camponeses, e os da
Amazonia, se ja nao o eram, estaam irando camponeses. Quando
os ndios pr-camponeses da Amazonia comearam a tirar suas
2 0 8
l i D U A RD O VJ VlJ ROS O l i C.1RO
roupas de branco`, a se pintar de ermelho e a danar com
cocares e bordunas na Praa dos 1rs Poderes - bem, nesse caso
ainda se podia achar alguma sada honrosa. Ma. qvavao cavove.e.
ao ^orae.te covearav a rirar vaio. -, a icou claro que algo estaa
muito errado. A teoria do acamponesamento,proletarizaao` aca-
bou, assim, abandonada pelos contatualistas. J a nao era sem tem-
po, s acho que ela merecia um enterro mais decente que o
proporcionado por esse artigo.
O discurso terico da etnognese representa a incorpora-
ao, algo constrangida e recalcitrante, daquele culturalismo` ou-
trora e ainda tao ilipendiado pela escola do contato, em parti-
cular por sua ariante undamentalista. Mas ha passos adicio-
nais a dar. 1endo aceitado a cultura` que os ndios lhe impuse-
ram, o discurso do contato precisa agora comear a tomar suas
distancias do paradigma indiidualista e politicista que ele her-
dou de abordagens como a dc Barth ,nao que precise ir tao
longe a ponto de encontrar Durkheim,. Olieira az algumas
relexoes nesse sentido. Lle haia comeado o artigo com um
castigo nos culturalistas e outros essencializadores das culturas
autctones, mas ele o termina aludindo a necessidade de se
superar a polaridade` entre as teorias instrum entalistas e
primordialistas da etnicidade ,p. 64, - tarea nada acil eo-
cando todo um imaginario da origem e chegando, por im, a
ormulaoes de um lirismo tnico que nao energonhariam lerder.
O tema da iagem de olta`, tao belamente desenolido por
Olieira, poderia assim se aplicar em mais de um sentido. Parece
que comeamos a assistir a uma iagem de olta da escola brasi-
leira de etnologia ao pas da cultura.
Lssa iagem nao ai ser acil. la enigmas e paradoxos no
caminho:
L nquanto o percurso dos antroplogos oi o de desm ist ii car a no-
ao de raa` e d es c o n st ru ir a dc et n i a ` , os m em bros de um g r u p o tnico
) ( ' # $ + $ ! ) "% & * "+%
( & /
encam inham - se, reqent em ente, na direao oposta, r e a irm a nd o a s u a u n i -
dade e s ituando as conexoes com a origem em planos que nao podem ser
at raessados ou arb it rados pelos de ora ,p. 65,.
Pois bem -como reagir rente a esses enigmas Deemos
tentar conencer os ndios de que cultura pura e conexao com a
origem sao mitos` da ma antropologia ,1alez deamos, ao con-
trario, reconhecer que esses temas sao, precisamente, vtico., no
sentido antropolgico do termo -donde sua ora,. Ou sera que
simplesmente vao .abevo. o qrte cti,er a tal respeito, e por isso nao
deemos dizer nada, como propoe Olieira, mas apenas nos re-
colher humildemente diante do vi.terio desses planos que nao
podem ser atraessados ou arbitrados pelos de ora` A parte
essa sada mstica para o paradoxo da contradesmistiicaao -
paradoxo que oi criado pela teoria dos contatualistas, nao pelos
ndios que ela pretendia compreender -, o autor nao parece ter
mesmo muito a dizer91. Nao deixa, ademais, dc soar estranha sua
sugestao implcita de que a antropologia possa alguma ez ter
legitimamente reiindicado o direito dc arbitrar` o que quer que
seja. Pois, ainal, o arbitrario cultural` c justamente aquilo que
nunca coube aos de ora` arbitrar.
Lm conclusao a seu artigo, Olieira da quatro lioes de
moral tericas aos americanistas europeus` ,sindoque que, como
ja aderti, designa a etnologia nao-contatualista eita no Brasil ou
alhures,. Nao ou comentar trs dessas lioes, pois sao de muito
pequena alia. Mas uma delas merece uma rapida relexao, tam-
bm conclusia, pois este ensaio ja ai demasiado longo:
1. 1enho as e.es a im pressao de que a sociologia da desnaturalizaao rom-
peu tantas ezes com o senso comum que este perdeu a pacincia e
resoleu rom per de c, com ela. L se ha pelo menos uma dierena
im portante entre as cincias humanas e sicas, que nas prim eiras as
rupturas com o senso comum costumam ser pagas na mesma moeda.
2 1 0
QO5E2B5? FQF:OQB?C ?Q$ 42CDB?
|A|s cult ur as nao sao coextensias as s ociedades nacionais nem aos
g r u p o s tnicos. O q u e as t orna assim sao, por um lado as dem andas dos
p rprios g r u p o s s oc iais , que at ras de seus port a-oz es in sti tu em suas
ronteiras,, e, por outro, a com pl exa t em atica da a ut e nt ic idade ,que acaba
por co n eri r um a posiao de poder ao ant roplogo, dem arcando espaos
s ociais com o legtim os ou il eg ti m os, ,p. 68,.
Leiam-se com cuidado essas proposioes. Comecemos pela
segunda parte, mais simples: a complexa tematica da autentici-
dade`. Quanto a isso, s posso concordar com o autor: ela de
ato complexa, mas nao necessario torna-la misteriosa, nem
imaginar que os antroplogos sejam co-autores do mistrio. A
primeira parte da liao, entretanto, que propriamente comple-
xa, ou, melhor dizendo, paradoxal. Atenao ao argumento: as
culturas vao .ao coextensias as sociedades nacionais ou aos gru-
pos tnicos, o qve a. torva a..iv sao as demandas dos grupos
sociais. Muito bem, mas, ainal, elas .ao ov vao .ao coextensias as
sociedades nacionais e grupos tnicos Lxistiria por acaso uma
e..vcia, uma vatvrea cultural nao-coextensia ,as sociedades na-
cionais etc.,, que tornada aarvcia coextensia Lxistiria algo
alm, algo atras, algo antes das demandas dos prprios grupos
sociais`, algo que esses grupos torvav a..iv -assim coextensio
a si mesmos Mas isso seria supor que existe uma cultura qual-
quer, em algum lugar, e.eravao que uma demanda poltica de um
grupo social enha se acoplar a ela, tornando-a coextensia. Isso
naturalizaao. Se nao isso, se as culturas sao criaaa. pelas
demandas dos grupos sociais, e se sao criadas covo coextensias
aos grupos sociais, bem, entao elas .ao realmente coextensias.
Mas isso tambm naturalizaao.
Perturbado por arios paradoxos e preso em impasses di-
ersos, o discurso contatualista nao tem muitas lioes de moral a
dar a etnologia brasileira. A conclamaao de Olieira a um retor-
no as preocupaoes inoadoras e relexoes bastante originais`
K1NOI . OGI A BRASI J. KI RA
,p. 6, da antropologia brasileira das dcadas de 50 e 60 nao me
entusiasma. Lntusiasma-me ainda menos a lamentael menao iv
etrev. a uma dimensao tico-aloratia do exerccio da cin-
cia` ;]oc. cit.,, dimensao a qual a escola contatualista teria um
acesso priilegiado, e da qual os americanistas europeus` estari-
am - o que se deixa entender -tristemente distanciados. Seme-
lhante insinuaao nao contribui para o melhor enquadramento de
nenhum dos problemas tericos ou praticos com que se deronta
a antropologia brasileira. Pois, quanto a tica e aos alores, penso
que estamos todos mais ou menos do mesmo lado. Aqui nao ha
erdadeiro dualismo, nem cisao que eitamos abordar, nem gran-
de dierena.
BLMLWcSJOHX 3OIQOTNW_MOJHX
ALBLR1, Brucc. 1985. 1ev. av .avg, tev. ae. cevare.: rere.evtatiov ae ta vataaie,
.,.teve ritvet et e.ace otitiqve cbe te. Yavovavi av .vae.t ;.vaovie bre.itievve).
Uniersit de Paris-X ,Nanterre,, tese de doutorado.
_________ . 1988. La ume du mtal: histoire et reprsentations du contact
chez les \anomami ,Brsil,. ovve 106-10: 8-119.
_________ . 1993. L`O r cannibale et la chute du ciel: une critique chamaniquc
de l`conomie politique de la nature. `ovve 126-128: 349-38.
__________. 1995. A nthropologie appli que ou a nt h rop ol ogi e i m p liq u e`
Lthnographie, minorits et deloppement. In: BARL J.-l. ,org.,. e.
aticatiov. ae t `avttrrootogie. Paris: Lditions Karthala. pp. 8-118.
ARG\ROU, Vassos. 199. Sameness and the ethnological wii to meaning.
Cvrrevt .vtbrootog, 40, Supplment: S29-S41.
ARRU1I, Jo s Maurcio. 1995. A narratia do azimento, ou, por uma antropo-
logia brasileira. ^oro. .tvao. 43: 235-243.
_________ . 199. A emergncia dos remanescentes` : notas para o dialogo en -
tre indgenas e quilombolas. Mava 3 ,2,: - 38.
AZAN l A, G ilberto. 1984. . forva` tivbira: e.trvtvra e re.i.tvcia. Sao Paulo:
Dcpto. de Antropol og ia, lPLCl da Uniersidade de Sao Paulo, d i s -
s ertaao de m estrado:
2 1 2
l n U A R R O Vl V K l RO S D l i CAS 1 RO
BALDUS, lerbert. 1968. ibtiografia crtica aa etvotogia bra.iteira ;rot. ). lannoer:
Volkcrkundlichc Abhandlungen, Bd IV.
BAR1l, lredrik. 1992. 1owards greater naturalism in conceptualizing societies.
In: KUPLR A. ,org.,, Covcetvati.ivg .ociet,. Londres: Routledge. pp. 1-
33.
BASSO, L. 193. 1be Ka,aa,o vaiav. o f Cevtrat rait. New \ork: lolt, Rinehart
& \ inston.
BU11 COLSON, Audrey & lLINLN, l. Dieter ,orgs.,. 1983-1984. 1beve.
iv otiticat orgavi.atiov: 1be Carib. ava tbeir veigbbovr. ;.vtrootogica :2).
Caracas: lundacin La Salle.
CALAVIA S., Oscar. 1995. 0 vove e o tevo ao. Yavivcva. Sao Paulo: Uniersi-
dade de Sao Paulo, tese de doutorado.
CARDOSO, lernando lenrique. 1962. Caitati.vo e e.crariaao vo ra.it veriaio
vat Sao Paulo: DIlLL.
CARDOSO DL OLIVLIRA, Roberto. 1964. 0 ivaio e o vvvao ao. bravco.. Sao
Paulo: Pioneira.
_________ . 196. Areas de ricao interctnica na Amazonia. In: LLN1, 11.
,org.,. .t a. ao iv.io .obre a iota .vavica ;rot. 2: .vtrootogia). Rio de
Janeiro: Conselho Nacional de Pesquisas, pp. 18-193.
_________ . 196. aevtiaaae, etvia e e.trvtvra .ociat. Sao Paulo: Pioneira.
_________ . 198. . .ociotogia ao ra.it ivageva. Rio de Janeiro: 1empo Brasileiro.
__________. 1988. obre o ev.avevto avtrootgico. Rio de Janeiro: 1empo Brasi-
leiro.
CARDOSO DL OLIVLIRA, Roberto & RUBLN, G uilherm o R. ,orgs.,. 1995.
.tito. ae avtrootogia. Campinas: Lditora da Unicamp.
CARNLIRO DA CUNlA, M. 193. Logique du mythe et de Paction: le
mouement messianique canela de 1963. ,ovve XIII: 5-3.
_________ . 198. O. vorto. e o. ovtro.: vva avati.e ao .i.teva fvverario e aa voao ae
e..oa evtre o. vaio. Krab. Sao Paulo: lucitec.
_________ . 199. Ltnicidadc: da cultura residual mas irredutel. Reri.ta ae
Cvttvra e Pottica 1: 35-39.
_________ . 1986. .vtrootogia ao ra.it: vito, bi.tria, etviciaaae. Sao Paulo: Brasi-
liense.
_________ . 198. O. aireito. ao vaio: ev.aio. e aocvvevto.. Sao Paulo: Brasiliense.
_________ . 1992. Poltica indigenista no sculo XIX. In: CARNLIRO DA
CUNlA, M. ,org.,, i.tria ao. vaio. vo ra.it Sao Paulo: Companhia das
Letras, pp. 133-154.
l i 1 N O I . O CI A BRASl. ICI RA
2 1 3
________ ,org., 1992. i.tria ao. vaio. vo ra.it Sao Paulo: lapesp,SMC,
Companhia das Letras.
CARNLIRO DA CUNlA, Manuela & Lduardo VIVLIROS DL CAS1RO.
1985. Vingana e temporalidade: os 1upinambas. ]ovrvat ae ta ociete ae.
.tvericav.tc. LXXI: 191-21.
ClAUMLIL, Jean-Pierre. 1983. 1oir, .aroir, ovroir: te cbavavi.ve cbe te. Yagva
av ^ora.t ervriev. Paris: Lcole des lautes Ltudes en Sciences Sociales.
CRLPLAU, Robert. 1995. A antropologia brasileira ista do Qubec: uma
proposta de pesquisa. In: CARDOSO D L OLIVLIRA, R. & RUBLN,
G. ,orgs.,, .tito. ae avtrootogia. Campinas: Lditora da Uncamp. pp. 139-
154.
CROCKLR, J. Christopher. 1985. 1itat .ovt.: ororo co.votog,, vatvrat .,vboti.v,
ava .bavavi.v. 1ucson: Uniersity o Arizona Press.
DaM A11A, Roberto. 190. Mito c antimito entre os 1imbira. In: LLVI-
S1RAUSS, C. et a t Mito e tivgvagev .ociat Rio de Janeiro: 1empo Brasileiro
;Covvvicaao, rot. ,,, pp. -106.
_________ . 196. |v vvvao airiaiao: a e.trvtvra .ociat ao. vaio. .iva,e. Petrpolis:
Vozes.
D AVIS, Shelton. 19. I i,iva. ao vitagre: o ae.evrotrivevto c o. vaio. ao ra.it Rio
de Janeiro: Zahar.
DLLACAMPAGNL, Christian & 1RAIMOND, Bernard. 199. La polemique
S a r t r e , L i - S t r a u s s r e is it e . Aux s ou rces des sci en ce s s oc ia le s
d `aujourd` hui. e. 1ev. Moaerve. 596.
DLLLUZL, Gilles & GUA11ARI, llix. 1980. Mitte. tateav. Paris: Minuit.
DLSCOLA, Philippe. 1986. `M vatvre aove.tiqve: .,vboti.ve et rai. aav. t `ecotogie
ae. .cbvar. Paris: Maison des Sciences de l`lomme.
_________ . 1992. Societies o nature and the nature o society. In: KUPLR, A.
,oi-g.,. Covcetvati.ivg .ociet,. Londres: Routlcdge, pp. 10-126.
DLSCOLA, Philippe & 1A\LOR, Anne-Christine ,orgs.,. 1993. a revovtee ae
,.vaaove. `ovve 126-128.
lABIAN, Johannes. 1983. 1ive ava tbe otber. or avtbrootog, va/e. it. ob;ect.
N ew \ork: Columbia Uniersity Press.
lARAGL, Nadia. 1991. .. vvratba. ao. .ertoe.: o. oro. ivageva. ao tiio ravco e a
cotoviaao. Rio de Janeiro: Paz & 1erra,Anpocs.
lARDON, Richard. 1990. General introduction. In: lARDON, R. ,org.,.
ocatiivg .trategie.: regiovat traaitiov. o f etbvograbic rritivg. Ldinburgh,\ ash-
ington: Scottish Academic Press,Smithsonian Institution Press, pp: 1-35.
2 1 4 KD U A R D O V I V K I R O S D I C A S 1 R O
lAUS1O, Carlos. 1991. Ox Para/ava: arariaiavato e ca.avevto arvvcvtar va .va
via. Rio de Janeiro: PPGAS do Museu Nacional, dissertaao de mestrado.
_________ . 199. . aiatetica aa reaaao e favitiariaao evtre o. Para/ava aa .va
vica orievtat: o r vva teoria aa gverra ivageva. Rio de Janeiro: PPGAS do
Museu Nacional, tese de doutorado.
_________ . 1999. O ennemies and pets: warare and shamanism in Amazonia.
Rio de Janeiro: Museu Nacional,UlRJ. .vericav tbvotogi.t, no prelo.
lLRNANDLS, llorestan. |1956-195|. 195. 1endncias tericas da moderna
inestigaao etnolgica no Brasil. In: vre.tigaao etvotgica vo ra.it c ovtro.
ev.aio.. Petrpolis: Vo.es, pp: 119-190.
lOUCAUL1, Michel. 199. A goernamental idade. In: Microf.ica ao Poaer. Rio
de Janeiro: Graal, pp: 2-293.
GALLOIS, Dominique. 1988, 0 vorivevto va co.votogia vi,ai: criaao, eav.ao e
trav.forvaao ao vvirer.o. Sao Paulo: Depto. de Antropologia, llLCl da
Uniersidade de Sao Paulo, tese de doutorado.
_________ . 1993. Mairi reri.itaaa: a reivtegraao aa ortatea ae Macaa va traaiao
ora ao. !a,ai. Sao Paulo: NlI,USP.
GLLL, Alred. 1995. Strathetnogram s: or, the semoties o mixed metaphors.
In: GLLL, A. be art o f avtbroo,og, ,no prelo,.
G LRl O LM , 1. & l AN N LRZ, U. ,orgs.,. 1982. be .baivg o f vatiovat
avtbrootogie.. tbvo. 42 ,special issue,.
G LLDlILL, John. 1996. Against the motion. In: \ADL, Peter ,org.,, Cvttvrat
tvaie. ritt be tbe aeatb o f avtbroo,og,. Manchester: 1he GDA1 Debate 8:
42-48.
GOLDMAN, Mareio & PALMLIRA, Moacir. 1. Apresentaao, in : PAL-
MLIRA, M. & GOLDMAN, M. ,orgs.,. .vtrootogia, roto e rere.evtaao
ottica. Rio de Janeiro: Contracapa, pp: 1-12.
GON(ALVLS, Marco Antonio. 1993. 0 .igvificaao ao vove: co.votogia e vovivaao
evtre o. Pi,aba. Rio de Janeiro: Sette Letras.
__________ . 1995. |v vvvao ivacabaao: co.votogia e .ocieaaae iraba ;oro aa .vavia
orievtat) R`o de Janeiro: PPGAS do Museu Nacional, tese de doutorado.
CO`,, Peter. 1991. O f riea b,ooa: /iv.bi vva bi. to,, iv Perv r i av .vavia.
Oxord: Clarendon Press.
_________ . 1998. . vav vbo v v t avaer tbe ear,b: bo,r av ivaigetiov. .va`o,iiav
rorta ebavge. iv tive. Liro em preparaao.
_________ . 1999. Between comparison and cultural history: an Amazonian case
study. Londres: LSL ,indito,.
l i 1NOI . OGI A ISRAS1I.K1RA
2 1 5
GRUPIONI, Lus D, B. ,org.,. 1994. vaio. vo ra.it Braslia: M inistrio da
Lducaao e do Desporto.
lLMMING, John. 198. Rea Co,a: 1be covqve.t o f tbe raitiav vaiav., 1:00
10. Cambridge: larard Uniersity Press.
_________ .. 198. .vaov frovtier: tbe aefeat o f tbe raitiav vaiav.. Londres:
MacMillan.
lLNLL\, Paul. 1996a. South Indian models in the Amazonian lowlands.
Mavcbe.ter Paer. iv ociat .vbtrootog, 1.
_________ . 1996b. Rcccnt themes in the anthropology o Amazonia: history,
exchange, alterity. vttetiv o f `.ativ .vericav Re.earcb. 231-245.
lILL, Jonathan ,org.,. 1988. Retbiv/ivg bi.tor, ava v,tb: vaigevov. ovtb .vericav
er.ectire. ov tbe a.t. Urbana: Uniersity o Illinois Press.
lIR1ZLL, Vincent. 1998. De 1`anthropologic morale a Pconomie symboliquc
dc la prdation: a propos de deux sociologies amazonistes, Mmoire de
DLA: Lcole des IIautes Ltudes en Sciences Sociales.
lORNBORG, Al. 1988. Dvati.v ava bierarcb, iv tortava ovtb .verica: tra;ectorie.
o f ivaigevov. .ociat orgaviatiov. Stockholm: Almqist & \ikscll.
lUGl-JONLS, Christine. 199. rov tbe vit/ rirer: .atiat ava tevorat roce..e.
iv ^ortbre.t .vavia. Cambridge: Cambridge Uniersity Press.
lUGl-JONLS, Stephen. 199. 1be Patv ava tbe Pteiaae.: ivitiatiov ava co.votog,
iv ^ortbre.t .vaov. Cambridge: Cambridge Uniersity Press.
_________ . 1988. 1he gun and the bow: myths oi white men and indians.
`.`ovve 106-10 XXVIII ,1-3,: 138-155.
INGOLD, 1im ,org.,. 1991 11996|. Language is the essence o culture. In: INGOLD,
1im ,org.,. Ke, aebate. iv avtbrootog,. Londres: Routledge, pp: 14-198.
KLNSINGLR, Kenneth ,org.,. 1984. Marriage ractice. iv ortava ovtb .verica.
Urbana: Uniersity o Illinois Press.
KUPLR, Adam. 1992. Introduction. In KUPLR, A. ,org.,, Covcetvatiivg .ociet,.
Londres: Routledge.
LADLIRA, Ma. Llisa. 1982. . t roca ae vove. e a trace, ae cv;vge.: vva covtribviao
ao e.tvao ao arevte.co tivbira. Sao Paulo: Uniersidade de Sao Paulo, disser-
taao de mestrado.
LA1OUR, Bruno. 1991. ^ov. v `arov. ;avai. e,e voaerve.. Paris: Lditions La
Dcouerte.
_________ . 1996a. Not the question. .vtbrootog, ^er.tetter 3 ,3,.
_________ . 1996b. Petite refteiov .vr te cvtte voaerve ae. aiev faiticbe.. Paris: Les
Lmpcheurs de Penser en Rond.
2 1 6
I i DUARDO Vl VKI RO S D l i CAS 1RO
_________ . 1998. Potitiqve. ae ta vatvre. Liro em preparaao.
LLA, Vanessa. 1986. ^cr,e. e ve/ret. Ka,a: vva covceao ae riqvea. Rio de
Janeiro: Museu Nacional,UlRJ, tese de doutorado.
LLVI-S1RAUSS, Claude. 193 | 1950|. Introduction a l`oeu red e Mareei Mauss.
In: MAUSS, M. ociotogie et avtbrootogic. Paris: PUl, pp. ix-lii.
_________ . 1958. .vtbrootogic .trvcbvite. Paris: Plon.
_________ . 1964-191. M,tbotogiqiie. 1. Paris: Plon.
_________ . 193. .vtbrootogie .trvctvrate aev. Paris: Plon.
_________ . 195. `, roie ae. vvqve.. Genebra: Lditions Albert Skira.
_________ . 1985. ,vi otiere ;atov.c. Paris: Plon,
_________ . 1991. bti.toire ae t,v. Paris: Plon.
_________ . 1998. Voltas ao passado. Mvva 4 ,2,: 10-11.
LIMA, Antonio Carlos de Souza. 1992. O goerno dos ndios sob a gestao do
SPI. In: CARNLIRO DA CUNlA, M. ,org.,, ti.,ria ao. vaio. vo ra.it.
Sao Paulo: lapesp,SMC,Companhia das Letras, pp. 155-12.
_________ . 1995. |v gravae cerco ae a. Sao Paulo,Pctrpolis: Anpocs,Vozes.
_________ . 1998. Os relatrios antropolgicos de identiicaao de terras ind-
genas da lundaao Nacional do ndio. N otas sobre o estudo da relaao
entre antropologia e incligenismo no Brasil, 1968-1985. In: OLIVLIRA,
J. P de ,org.,, vaigevi.vo e ,erri,oriab`fiao:oaere., rotiva. e .abere. cotoviai. vo
ra.it covtevorveo. Rio de Janeiro: Contra Capa Liraria.
LIMA, 1ania Stolze. 1986. . riaa .ociat evtre o. Yva;a ;vaio. ]irrvtia): etevevto. ae
.va etica ativevtar. Rio de Janeiro: PPGAS do Museu Nacional, dissertaao
de mestrado.
_________ . 1995. . arte ao caviv: etvografia ;vviva. Rio de Janeiro: PPGAS do
Museu Nacional, tese de doutorado.
_________ . 1996. O dois e seu mltiplo: relexoes sobre o perspectiismo em
uma cosmologia 1upi. Mava 2 ;2) 21-4.
LOPLS DA SILVA, A racy & GRUPIONI, Lus D. B. ,orgs.,. 1995. ,I tevatica
ivageva va e.cota. Braslia: MLC,MARI,Unesco.
LOPLS DA SILVA, Aracy. ,1980|. 1986. ^ove. e avigo.: aa ratica aravte a vva
refteao .obre o. ]. Sao Paulo: llLCl,USP.
MARCLLIN, Louis. 1996. . ivrevao aa favtia afroavericava: favtia, arevte.co e
aove.ticiaaae evtre o. vegro. ao Recvcaro aa abia, ra.it Rio de Janeiro:
PPGAS do Museu Nacional, tese de doutorado.
MA\BUR\-LL\ IS, D aid. 196. ./irebaravte .ociet,. Oxord: Clarendon
Press.
K1NOI . OGI A BRASl. KIRA
2 1
MA\BUR\-Ll\IS, Daid ,org.,. 199. Diatectica .ocietie.: tbe C ava ororo o f
Cevtra rait Cambridge, MS: larard Uniersity Press.
McCALLUM , Cecilia. 1989. Cevaer, er.ovbooa ava .ociat orgaviatiov avovg.t tbe
Ca.bivavbva o f !e.terv .vaovia. Londres: London School o Lconomics,
tese de doutorado.
MLL, A11I, Jul io Cezar. 198. Kit o. ae vva tribo 1ivbira. Sao Paulo: tica.
_________ . 1982. A etnologia das populaoes indgenas do Brasil, nas duas
ultimas dcadas. .vvario .vtrootgico 80: 253-25.
_________ . 1983. A antropologia v o Brasil: vv roteiro. Braslia: Uniersidade
de Braslia, 1rabatbo. ev Civcia. ociai., erie .vtrootogia 38.
M LNLZLS BAS1OS, Raael Josc. 1990. . fe.ta aa ;agvatirica: vva artitvra
crticoiiiterretatira. Sao Paulo: Depto. de Antropologia, llLCl da Uni-
ersidade de Sao Paulo, tese de doutorado.
MLN GL1, Patrick ,org.,. 1985. Guerres, socits et ision du monde dans les
basses terres de lAmrique du Sud. ]ovrvat ae ta ociet ae. .vericavi.te.,
LXX1: 129-208.
MON1LIRO, John Manuel. 1994. ^egro. aa terra: vaio. e bavaeiravte. va. origev.
ae ao Paiito. Sao Paulo: Companhia das Letras.
MULLLR, Regina Polo. 1990. O. ..vriv ao `ivgv: bi.tria e arte. Campinas:
Lditora da Uncamp.
OLIVLIRA l. 198. . frovteira e a riab|iaaac ao cave.ivato ivageva. Rio de
Janeiro: Biblioteca do PPGAS do Museu Nacional, trabalho apresentado
na IIIa Reuniao do Grupo de Pesquisadores da Agricultura na Amazonia.
_________ . 1988. O vo..o gorervo: o. 1icvva e o regive tvtetar. Sao Paulo: Marco
Zero,CNPq.
_________ . 1998. Uma etnologia dos ndios misturados` Situaao colonial,
territorializaao e luxos culturais. Mava 4 ,1,: 4-.
OLLMAN, Bertell. 196. .tievatiov: Mar`. covcetiov o f vav iv caitati.t .ociet,.
Cambridge: Cambridge Uniersity Press.
OR1NLR, Sherry B. 1984. 1heory in anthropology since the sixties. Covaratire
tvaie. o f ociet, ava i.tor, 26 ,1,: 126-166.
OVLRING KAPLAN, Joanna. 195. 1be Piaroa, a eote o f tbe Orivoco a.iv: a
.tva, iv /iv.bi ava varriage. Oxord: Clarendon.
__________. 19. Com m ents to the sym posium Social tim e and social space
in lowland South A m e r i c a n s o c i e t i e s ` . In: . cte. av ` ]1 Covgre.
vtervatiovat ae. . vericavi.te. , P a r i s , 19 6 , . P a r i s : S o c i t des
A m ricanistes, pp. 38-394.
2 1 8
l d u a r d o V i b i r o s D C a s t r o
_________ . 1981. Reiew article: Amazonian anthropology. ]ovrvat o f a,iv
.vericav tvaie. 13 ,1,: 151-164.
OVLRING KAPLAN, Joanna ,org.,. 19. Social tim e and social space in
lowland South American societies. In: .cte. av `1 Covgre. vtervatiovat
ae. .vericavi.,e., II, pp. -394,. Paris: Socit des Amricanistes.
PLIRANO, Mariza. 1981. be avtbrootog, o f avtbrootog,: tbe raitiav ca.e.
Cambridge: larard Uniersity, tese de doutorado.
_________ . 1992. |va avtrootogia vo tvrat: tr. eerivcia. covtevorvea.. Bras-
lia: Lditora Uniersidade de Braslia.
_________ . 1995. D esterrados e exilados: antropologia no Brasil e va ndia. In:
CARDOSO DL OLIVLIRA, R. ,org.,. .tito. ae avtrootogia. Campinas:
Lditora da Unicamp, pp 13-30.
_________ . 1995. . f a r o r aa etvografia. Rio de Janeiro: Relume Dumara.
_________ . 1998. \hen anthropology is at home: the dierent contexts o a
single discipline. .vvvat Rerier o f .vtbrootog, 2: 105-128.
PLRRONL-MOISLS, Beatriz. 1992. ndios lires e ndios escraos: os princ-
pios da legislaao indigenista do perodo c o t o v i a t ; . e c v t o . `1 a XVIII,.
In: CARNLIRO DA CUNlA, M. ,org.,. i.tria ao. vaio. vo ra.it. Sao
Paulo: lapesp,SMC,Companhia das Letras, pp. 115-132.
_________ . 199. Retaoe. recio.a.: fravce.e. e avervaio. vo .ecvto `1. Sao Paulo:
Depto. de Antropologia, llLCl da Uniersidade de Sao Paulo, tese de
Doutorado.
RAMOS, Alcida R. 1980. ierarc,via e .ivbio.e: retaoe. ivtertribai. vo ra.it Sao
Paulo: lucitec,INL.
_________ . 1988. Indian oices: contact experienced and expressed. In: lILL,
J . ,org.,. Retbiv/ivg bi.tor, ava v,tb. Urbana: Uniersity o Illinois Press,
pp. 214-234.
_________ . 1990a. Lthnology Brazilian style. Braslia: Uniersidade de Brasilia,
1rabatbo. ev Civcia. ociai., erie .vtrootogia 89.
_________ . 1990b. Mevria. avvva: e.ao e tevo ev vva .ocieaaae Yavovavi. Sao
Paulo: Marco Zero,UNB.
RLIS, labio \. 1991. O tabelao e a lupa: teoria, mtodo generalizante e idiograa
no c o v t e t o brasileiro. Reri.ta ra.iteira ae Civcia. ociai. 16, ano 6: 2-42.
RIBLIRO, Darcy. 190. O. vaio. e a ciritiaao: a ivtegraao aa. ovtaoe. ivageva.
vo ra.it voaervo. Rio de Janeiro: Ciilizaao Brasileira.
_________ . 1995. 0 oro bra.iteiro. Sao Paulo: Companhia das Letras.
RICARD O, Carlos Alberto. Os ndios e a sociodiersidade natia contempo-
l1NOI . OGI A B RAS I Ui l RA
2 1 9
ranea no Brasil. In: LOPLS DA SILVA, Aracy & GRUPIONI, Lus D.
B. ,orgs.,. . tevatica ivageva va e.cota. Braslia: MKC,MARI,Unesco,
pp.29-60.
RIVILRL, Peter. 1969. Marriage avovg tbe 1rio: a rivcite o f .ociat orgavi.atiov.
Oxord: Clarendon Press.
_________ . 1984. vairiavat avct .ociet, iv Cviava: . covaratire .tva, o f .verivaiav
.ociat orgavi.atiov. Cambridge: Cambridge Uniersity Press.
_________ . 1993. 1he amerindianization o descent and ainity. ]ovve 126-
128 XXXIII ,2-4,: 50-516.
S Al LINS, Marshall. 1981. i.toricat vetabor. ava v,tbicat reatitie.: trvctvre iv
tbe eart, bi.tor, o f tbe avaricb i.tava. Kivgaov. Ann Arbor: 1he Uniersity
o Michigan Press.
_________ . 1993. \ aiting or loucault. Pric/t, Pear Pavbtet 2: 21.
_________ . 1995. or vatire. tbiv/: abovt Cataiv Coo/, f o r eavte. Chicago:
1he Uniersity o Chicago Press.
_________ . 1996. 1he sadness o sweetness: the natie anthropology o \estern
cosmology. Cvrrevt .vtbrootog, 3 ,3,: 395-428.
_________ . 199. O pessimismo sentimental` e a experincia etnograica: por
que a cultura nao um objeto` em ia de extinao` ,Parte I,. Mava 3 ,1,:
41 - 3.
_________ . 199. O pessimismo sentimental` e a experincia etnograica: por
que a cultura nao e um objeto` em ia de extinao` ,Parte II,. Mava 3 ,2,:
103-150.
SClADLN, Kgon. 196. O estudo atual das culturas indgenas. In: SClADLN,
L. ,org.,. eit,ira. ae etvotogia bra.iteira. Sao Paulo: Cia. Lditora Nacional.
SLLGlR, Anthony. 1981. ^atvre ava .ociet, iv Cevtrat ra.it: tbe t , a vaiav. o f
Mato Cro..o. Cambridge, MS: larard Uniersity Press.
SLLGLR, Anthony & VIVLIROS D L CAS1RO, Lduardo B. 19. Pontos dc
ista sobre os ndios brasileiros: um ensaio bibliograico. otetiv vforvati
ro e ibtiografico ae Civcia. ociai. 2.
SLLGLR, Anthony, DAMA11A, Roberto A. & VIVLIROS DL CAS1RO,
Lduardo B. 199. A construao da pessoa nas sociedades indgenas brasi-
leiras. otetiv ao Mv.ev ^aciovat 32: 2-19.
SILVA, Marcio. 1993. Rovavce ae riva. e rivo.: etvografia ao arevte.co raiviri
atroari. Rio de Janeiro: PPGAS do Museu Nacional, tese de doutorado.
SIMONDON, Gilbert. 1964. iv airiaa et .a geve.eb,.icobiobgiqve ; .ivairiavatiov
a ta tvviere ae. votiov. ae forve et a `ivforvatiov). Paris: PUl
2 2 0
KDUARDO V l V l i l R O S Dl- CAS 1RO
SKORUPSKI, John. 196. ,vbot ava tbeor,: a bito.obicat .tva, o f tbeorie. o f
retigiov iv .ociat avtbrootog,. Cambridge: Cambridge Uniersity Press.
S1OCKING JR . , George. 989. 1he ethnographic .ev.i b i ti t , o f t b e 1920s and
die dualism o die anthropological tradition. In: S1OCKING JR . , G.
,org.,. Rovavtic votire.: e..a,. ov avtbrootogicat .ev.ibitit,. M adison: 1he
Uniersity o \ isconsin Press, pp. 208-26.
S1RA1lLRN, Marilyn. 198. 1he limits o auto-anthropology. In: JACKSON,
A. ,org.,. .vtbrootog, at bove, pp. 16-3.
_________ . 1988. 1be gevaer o f tbe gift: robtev. ritb rovev ava robtev. ritb .ociet,
iv Metave.ia. Berkeley: Uniersity o Caliornia Press.
_________ . 1992. Book Reiew lorum: M. Strathern, 1he Gender o the Git.
Pacific tvaie. 15 ,1,: 123-159.
SURRALLS, Alexandre 1999. .v covr av .ev.: ob;ectiratiov et .vb;ectiratiov cbete.
Caiiao.,;iae ,.vaovieevveve.Pvri.. Lcole des lautes Ltudes en Sciences
Sociales, tese de doutorado.
1A\LOR, Anne-Christine. 1984. L`americanisme tropical: une rontiere ossile
de l `ethnologie In: RUPP-LISLNRBICl, B. ,org.,. i.toire. ae tavtbrootogie:
`1`i` .iecte.. Paris: Klinksieck, pp. 213-233.
_________ . 1998. Jiaro kinship: simple` and complex` ormulas: a Draidian
transormation group. In: GODLLILR, M. et at. ,orgs.,. 1rav.forvatiov. o f
Kiv.bi. \ ashington,Londres: Smithsonian Institution Press, pp. 18-213.
1LIXLIRA-PIN1O, Marnio. 1998. teiari: .acrifcio. e riaa .ociat evtre o. vaio.
.rara ;Caribe). Sao Paulo: lucitec,Anpocs,Lditora da UlPll.
1lOM AS, Georg. |1968`. 1982. Pottica ivaigeiii.ta ao. ortvgve.e. vo ra.it, 1:00
110. Sao Paulo: Loyoia.
1O\ NS LL\, Graham. 1988. aea. o f oraer ava atterv. o f cbavge iv Yavivabva
.ociet,. Cambridge: Cambridge Uniersity Press, tese de doutorado.
1URN LR, 1erence. 199. 1he Ge and Bororo societies as dialectical systems:
a general model. In: MA\BUR\-LL\IS, D. ,org.,. Diatecticat ocietie.: tbe
Ce ava ororo o f Cevtrat rait Cambridge, Mass: larard Uniersity Press,
pp. 14-18.
_________ . 1980. Le dnicheur d `oiseaux en contexte. .vtbrootogie et ociete. 4
,3,: 85-115.
_________ . 1984. Dual opposition, hierarchy, and alue: moyety structure and
symbolic polarity in Central Brazil and elsewhere. In: GALL\, J.C. ,org.,.
Differevce., ratevr., bierarcbie: tete. offert. a `;>vi. Dvvovt. Paris: Lditions de
l` LlLSS, pp. 333-30.
L 1 N O L O G I A BRASl. Kl RA
2 2 1
_________ . 1985. Animal symbolism, totemism and the structure o myth. In:
UR1ON, G. ,org.,. .vivat v,tb. ava vetabor. iv ovtb .verica. Salt Lake
City: Uniersity o Utah Press, pp. 49-106.
_________ . 1988. Lthno-ethnohistory: myth and history in natie South American
representations o contact. In: lILL, ,. D. ,org.,. Retbiv/ivg M,tb ava
i.tor,: vaigevov. ovtb .vericav er.ectire. ov tbe a.t. Urbana: Uniersity
o Illinois Press, pp. 235-281.
_________ . 1991. Representing, resisting, rethinking, historical transormations
o Kayapo culture and anthropological consciousness. In: S1OCKING
G. \. ,org.,. Cotoviat .itvatiov.: e..a,. ov tbe covtet vtiti.atiov o f etbvograbic
/vorteage ;i.tor, o f .vtbrootog,, ,. Madison: Uniersity o \isconsin
Press, pp. 285-313.
_________ . 1993. De cosmologia a histria: resistncia, adaptaao e conscincia
social entre os Kayap. In: VIVLIROS DL CAS1RO, L. B. ,org.,. .va
ovia: etvotogia e bi.tria ivageva. Sao Paulo: NlI,USP, pp. 43 - 66.
VAN VLL1II LM, Lcia 11. 1995. 0 be,o e afera: a e.tetica aa roavao e aareaaao
evtre o. !a,ava. Sao Paulo: Uniersidade de Sao Paulo, tese tic doutorado.
VLLlO, Otaio. 1980. Antropologia para sueco er. Daao.: Reri.ta ae Civcia.
ociai. 23 ,1,: 9-91.
VIDAL, Lux & BARRL1O I", Ilenyo. 199. O elo perdido Diario. vaio., de
D arcy Ribeiro,. .vvario .vtrootgico 96: 159-188.
VIDAL, Lux ,org.,. 1992. Craf,.vo ivageva. Sao Paulo: Studio Nobel,lapesp,
Ldusp.
VILA(A, Aparecida. 1992. Covevao covo gevte: forva. ao cavibati.vo rari`. Rio de
Janeiro: Lditora da UPRJ.
_________ . 1996a. Ovev .ovo. v.: qve.toe. aa atteriaaac vo evcovtro ao. !ari` cov o.
ravco.. Rio de Janeiro: PPGAS do Museu Nacional, tese de doutorado.
_________ . 1996b. Cristaos sem : alguns aspectos da conersao dos \ ari`
,Pakaa Noa,. Mava 2 ,1,: 109-13.
VIVLIROS D L CAS1RO, Lduardo. 1986. .rarete: o. aev.e. cavibai.. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Lditor,Anpocs.
_________ . 1992. O campo na sela, isto da praia. .tvao. i.trico. 5 ,10,:
10-190.
_________ . 1993a. Alguns aspectos da ainidade no draidianato amazonico. In:
VIVLIROS D L CAS1RO, L. & CARNLIRO DA. CUNlA, M. ,orgs.,.
.vavia: etvotogia e bi.tria ivageva. Sao Paulo: Ncleo de listria Indge-
na e do Indigenismo ,USP,,lapesp, pp. 150-210.
2 2 2
lDUARDO Vl VI UROS Dl - CAS1RO
_________ . 1993b. listrias amerndias. ^oro. .f,,ao. Cebra 36: 22-33.
_________ . 1993c. Le marbre et le myrte: de l `inconstance de l `ame sauage. In:
BLCQ ULLIN , A. & M O LIN IL, A. ,orgs.,. M evoire ae ta traaitiov.
Recherches thmatiques. Nanterre: Socit d`Lthnologie, pp. 365-431.
_________ . 1995. Pensando o parentesco amerndio. In: VIVLIROS DL CAS-
1RO, l. ,org.,. .vtrootogia ao arevte.co: e.tvao. avervaio.. Rio de Janeiro:
Lditora da UlRJ, pp. -24.
_________ . 1996a. Os pronomes cosmolgicos e o perspectiismo amerndio.
Mava 2 ,2,: 115-144.
_________ . 1996b. Images o nature and society in Amazonian ethnology. .vvvat
Rerve o f .vtbrootog, 25: 19-200.
_________ . 1996c. Le meurtrier et son double ,Arawet, Amazonie,. ,.teve. ae
Pev.ee ev .friqve ^oire 14 ,Destins de m eurtriers`,: -104.
_________ . 1998a. Draidian and related kinship systems. In M. G odelier et al.
, orgs.,, 1rav.forvatiov. o f Kiv.bi. \ ashington,Londres: Sm ithsonian
Institution Press, pp. 332-385.
_________ . 1998b. Cosmological pcrspectrism in Amazonia anc elsewhere.
Cambridge: Simon Boliar Lectures.
_________ . ,org., 1995. .vtrootogia ao arevte.co: e.tvao. avervaio.. Rio de Jan ei-
ro: Lditora da UlRJ.
VIVlIROS DL CAS1RO, lduardo B. & CARNLIRO DA CUNlA, Manuela
,orgs.,. 1993. ,`va`ttia: etvotogia c bi.tria ivageva. Sao Paulo: NlI,USP,
lapesp.
VIVLIROS D L CAS1RO, Lduardo B. & lAUS1O, Carlos. 1993. La puissance
et Pacte: la parent dans les basses terres d`Amrique du Sud. `ovve
126-128: 141-10.
\ ADL, Peter ,org.,. 1996 Cvttvrat .tvaie. ritt be tbe aeatb o f avtbrootog,. 1he
GDA1 Debate 8, Manchester.
\AGNLR, Roy. 1981. 1be ivrevtiov o f cvttvre. Chicago: 1he Uniersity o Chi-
cago Press.
\ l I1Ll LA D , N eil . 1995. 1 h e h i s t o r i c a l a n t h r o p o l o g y o text : the
interpretation o Raleigh`s Di.corer,e o f Cviava. Cvrrevt .vtbrootog, 36 ,1,:
53 - 4.
\ OLl, Lric. 1982. vroe ava tbe eote ritbovt bi.tor,. Berkeley: Uniersity o
Caliornia Press.
\ RIGl1, Robin. 1992. listria indgena do Noroeste da Amazonia: hipte-
ses, questoes e perspectias. In: CARNLIRO DA CUNlA, M. ,org.,.
K1 N O I .OG I A lRAS U.KIRA
2 2 3
i.tria ao. vaio. vo ra.it Sao Paulo: Companhia das Letras,lapesp,
SMC, pp. 253-266.
ZARUR, George. 196. Lnolimento de antroplogos e desenolimento da
antropologia no Brasil. otetiv ao Mv.ev ao vaio, Antropologia 4: 1-4.
Você também pode gostar
- BUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFDocumento132 páginasBUTLER, Judith. Relatar A Si Mesmo - Crítica Da Violência Ética PDFCésar Jeansen Brito100% (2)
- O Sumiço de CarolinaDocumento11 páginasO Sumiço de CarolinaNatã SouzaAinda não há avaliações
- Acom B 1 2020 - 0Documento3 páginasAcom B 1 2020 - 0Felipe Nassar100% (1)
- Grace for You: A Compelling Story of God's RedemptionNo EverandGrace for You: A Compelling Story of God's RedemptionNota: 3 de 5 estrelas3/5 (1)
- (Re)membering Kenya Vol 1: Identity, Culture and FreedomNo Everand(Re)membering Kenya Vol 1: Identity, Culture and FreedomAinda não há avaliações
- Basotho Oral Poetry At the Beginning of the Twenty-first CenturyNo EverandBasotho Oral Poetry At the Beginning of the Twenty-first CenturyNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Vyavasayik Evam Shaskiy Patra: Patra-Lekhan Sikhane Ka Saral Evam Aadhunik CourseNo EverandVyavasayik Evam Shaskiy Patra: Patra-Lekhan Sikhane Ka Saral Evam Aadhunik CourseAinda não há avaliações
- E-Leetspeak: All New! the Most Challenging Puzzles Since Sudoku!No EverandE-Leetspeak: All New! the Most Challenging Puzzles Since Sudoku!Ainda não há avaliações
- Tantrik Sadhnayen Evam Siddhiyan: Mantra, Yantra Evam Tantra Dawara Vekhit Ko Chintarahit Aur Kushal Banane Hetu Ek Upyogi PustakNo EverandTantrik Sadhnayen Evam Siddhiyan: Mantra, Yantra Evam Tantra Dawara Vekhit Ko Chintarahit Aur Kushal Banane Hetu Ek Upyogi PustakNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (5)
- Sankshipt Prayavachi Evam Vilom Shabadkosh: Civil Service, Bank Po, Railway, Tet, School Va College Ke Chatr-Chatro Evam Sabhi Pratiyogi Parichao Ke Liye Upyogi PustakNo EverandSankshipt Prayavachi Evam Vilom Shabadkosh: Civil Service, Bank Po, Railway, Tet, School Va College Ke Chatr-Chatro Evam Sabhi Pratiyogi Parichao Ke Liye Upyogi PustakAinda não há avaliações
- Facial Beauty Tips: Ghar Mai Uplabdh Bastuo Se Kare Aapna Saundariya UpcharNo EverandFacial Beauty Tips: Ghar Mai Uplabdh Bastuo Se Kare Aapna Saundariya UpcharAinda não há avaliações
- Madhumeh Illaj: Madhumeh Ke Bhojan, Viyama Evam Prakitik Chikitsh SahitNo EverandMadhumeh Illaj: Madhumeh Ke Bhojan, Viyama Evam Prakitik Chikitsh SahitNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Daihik Bhasha: Hav-Bhav Evam Mudharo Se Samjhe Dushro Ki Maan Ki BaatNo EverandDaihik Bhasha: Hav-Bhav Evam Mudharo Se Samjhe Dushro Ki Maan Ki BaatAinda não há avaliações
- Aadhunik Naari Evam Khushhal Pariwar: Sukhi Dampayt Jeevan Ke Liye Vishetha Upyogi PustakNo EverandAadhunik Naari Evam Khushhal Pariwar: Sukhi Dampayt Jeevan Ke Liye Vishetha Upyogi PustakAinda não há avaliações
- Nari Swasthya Ki Dekhbhal: Visheshagy Doctoron Ki Salah Par - AadharitNo EverandNari Swasthya Ki Dekhbhal: Visheshagy Doctoron Ki Salah Par - AadharitAinda não há avaliações
- Pati Patni: Damptye Jeevan Madhur Banaye Rakhne Hetu Upyogi PustakNo EverandPati Patni: Damptye Jeevan Madhur Banaye Rakhne Hetu Upyogi PustakAinda não há avaliações
- Mahilaon Ki Swasthy Sambandhi Mithak Dharnayen: 100 Se Aadhik Swasthy Sambandhi Yesi Galatfahmiyan Jo Mahilaon Ke Swasthy Jeevan Jeene Mai Badhak Banti HaiNo EverandMahilaon Ki Swasthy Sambandhi Mithak Dharnayen: 100 Se Aadhik Swasthy Sambandhi Yesi Galatfahmiyan Jo Mahilaon Ke Swasthy Jeevan Jeene Mai Badhak Banti HaiAinda não há avaliações
- Improve Your Inner Personality: Vyaktitv Vikas Hetu Aadhunik CourseNo EverandImprove Your Inner Personality: Vyaktitv Vikas Hetu Aadhunik CourseAinda não há avaliações
- Madhumeh Ek Parichay: Diabetes : Karan, Lakshan Evam NivaranNo EverandMadhumeh Ek Parichay: Diabetes : Karan, Lakshan Evam NivaranAinda não há avaliações
- Nari Tere Roop Anek: Sabhi Ristho Ko Ek Saath Nibhana Shikhne Wali Mahilao Ke Liye Upyogi PustakNo EverandNari Tere Roop Anek: Sabhi Ristho Ko Ek Saath Nibhana Shikhne Wali Mahilao Ke Liye Upyogi PustakAinda não há avaliações
- 2004 - Carvalho - o Olhar Etnográfico e A Voz SubalternaDocumento41 páginas2004 - Carvalho - o Olhar Etnográfico e A Voz SubalternamarcioneskeAinda não há avaliações
- Mudanças Nas Famílias No Brasil 1976 2012 Uma Perspectiva de Classe e Gênero Nathalie Reis ItaboraíDocumento491 páginasMudanças Nas Famílias No Brasil 1976 2012 Uma Perspectiva de Classe e Gênero Nathalie Reis ItaboraíNatã SouzaAinda não há avaliações
- Antropologia No Brasil-Um RoteiroDocumento64 páginasAntropologia No Brasil-Um RoteiroNatã SouzaAinda não há avaliações
- Flavio Luiz Tarnovski. HomoparentalidadeDocumento8 páginasFlavio Luiz Tarnovski. HomoparentalidadeNatã SouzaAinda não há avaliações
- Fabrício Mendes - Uma Crítica Ao Conceito de Masculinidade HegemônicaDocumento14 páginasFabrício Mendes - Uma Crítica Ao Conceito de Masculinidade HegemônicaNatã SouzaAinda não há avaliações
- Ella Shohat - Des-Orientar CleópatraDocumento44 páginasElla Shohat - Des-Orientar CleópatraNatã SouzaAinda não há avaliações
- Evans-Pritchard. Inversão Sexual Entre Os AzandeDocumento16 páginasEvans-Pritchard. Inversão Sexual Entre Os AzandeNatã SouzaAinda não há avaliações
- Cláudia Fonseca - Cada Caso Não É Um CasoDocumento21 páginasCláudia Fonseca - Cada Caso Não É Um CasoNatã Souza100% (1)
- Debora Breder - A Valencia Diferencial Dos Sexos em Francoise HeritierDocumento11 páginasDebora Breder - A Valencia Diferencial Dos Sexos em Francoise HeritierNatã SouzaAinda não há avaliações
- Cynthia Sarti - Feminismo e ContextoDocumento18 páginasCynthia Sarti - Feminismo e ContextoNatã SouzaAinda não há avaliações
- Clarice Cohn - A Criança IndígenaDocumento187 páginasClarice Cohn - A Criança IndígenaNatã SouzaAinda não há avaliações
- Christina Toren - A Matéria Da ImaginaçãoDocumento30 páginasChristina Toren - A Matéria Da ImaginaçãoNatã SouzaAinda não há avaliações
- Alda Brito Cecília Sard e Márcia Gomes - Um Diálogo Com Simone de Beauvoir e Outras FalasDocumento325 páginasAlda Brito Cecília Sard e Márcia Gomes - Um Diálogo Com Simone de Beauvoir e Outras FalasNatã SouzaAinda não há avaliações
- Benedito Medrado - Homens - MasculinidadesDocumento184 páginasBenedito Medrado - Homens - MasculinidadesNatã SouzaAinda não há avaliações
- A Revolução Constitucionalista de 32 e A Maçonaria PaulistaDocumento8 páginasA Revolução Constitucionalista de 32 e A Maçonaria PaulistaFrancisco KaupaAinda não há avaliações
- Escala Upa Noroeste Dezembro 2023Documento20 páginasEscala Upa Noroeste Dezembro 2023Marcia Regina SoaresAinda não há avaliações
- PD 10-2024-GptFNNa-19 A 22JANDocumento5 páginasPD 10-2024-GptFNNa-19 A 22JANcfn srad FerreiraAinda não há avaliações
- Artigo Científico - Cap XAVIER - Calibre 338 Lapua - Caçadores Do EBDocumento20 páginasArtigo Científico - Cap XAVIER - Calibre 338 Lapua - Caçadores Do EBLeandro MendesAinda não há avaliações
- 29.1 - Tec - Taticas de Interv - Situacoes Risco Iminente - FICHAS de AVALIACAODocumento10 páginas29.1 - Tec - Taticas de Interv - Situacoes Risco Iminente - FICHAS de AVALIACAOAlanoNetoAinda não há avaliações
- 16 - Expedição Centenária Roosevelt-Rondon - II Parte - 288 PáginasDocumento287 páginas16 - Expedição Centenária Roosevelt-Rondon - II Parte - 288 PáginasHiram Reis SilvaAinda não há avaliações
- Projeto SACABOM VERSAO 02 - NOV - 2017Documento79 páginasProjeto SACABOM VERSAO 02 - NOV - 2017Maicon BonilhaAinda não há avaliações
- Regulamento Idpa CBTDDocumento68 páginasRegulamento Idpa CBTDWallace E Eliana LimaAinda não há avaliações
- Polícia Militar Do Estado de São PauloDocumento67 páginasPolícia Militar Do Estado de São PauloJoão Carlos AranhaAinda não há avaliações
- CI Geoinfo 1aedicao 211218Documento255 páginasCI Geoinfo 1aedicao 211218Ednilson Mendes FerreiraAinda não há avaliações
- EspecialDocumento17 páginasEspecialHalk LurenhevAinda não há avaliações
- Resultado Final T I 2023Documento11 páginasResultado Final T I 2023Breno DiasAinda não há avaliações
- PISTOLAS REVÓLVERES ARMAS LONGAS. CatálogoDocumento68 páginasPISTOLAS REVÓLVERES ARMAS LONGAS. CatálogorumargasAinda não há avaliações
- NomesDocumento20 páginasNomesHigino MacedoAinda não há avaliações
- POP Deslocamento de Viaturas AN PDFDocumento5 páginasPOP Deslocamento de Viaturas AN PDFFrancisco SousaAinda não há avaliações
- Sunor009 - 2022 - Alterações Nos UniformesDocumento11 páginasSunor009 - 2022 - Alterações Nos UniformesLaura Sandes de MoraesAinda não há avaliações
- Curso de ArmeiroDocumento9 páginasCurso de ArmeiroPhilippeMeirellesAinda não há avaliações
- Ficha GURPS 3ed - Fantasia PDFDocumento2 páginasFicha GURPS 3ed - Fantasia PDFNightwings_br0% (1)
- HistórianmnDocumento6 páginasHistórianmnThiago SouzaAinda não há avaliações
- Elio Assis Malandro Na Linha Do TremDocumento73 páginasElio Assis Malandro Na Linha Do TremvivocoAinda não há avaliações
- Teste de História e Geografia de Portugal - Invasões Francesas e Revolta LiberalDocumento3 páginasTeste de História e Geografia de Portugal - Invasões Francesas e Revolta LiberalPauloMoreiraAinda não há avaliações
- PLADIS - Ala - 2011Documento30 páginasPLADIS - Ala - 2011Bruno Silva Araújo100% (1)
- A Batalha Do RadarDocumento190 páginasA Batalha Do RadarJulio CesarAinda não há avaliações
- Aula 16 Hro - AlunoDocumento49 páginasAula 16 Hro - AlunoMarco AurélioAinda não há avaliações
- As Capitanias Hereditárias e A Administração ColonialDocumento4 páginasAs Capitanias Hereditárias e A Administração ColonialNatália MergenAinda não há avaliações
- Plano de Atuação Da BrigadaDocumento11 páginasPlano de Atuação Da BrigadaPaula RAinda não há avaliações
- Senhor Das MoscasDocumento2 páginasSenhor Das MoscasGustavo PereiraAinda não há avaliações
- A Tomada de Caiena Vista Do Lado FrancesDocumento11 páginasA Tomada de Caiena Vista Do Lado FrancesGabi OoAinda não há avaliações
- Pks 4236Documento2 páginasPks 4236Rodrigo Siqueira CalliariAinda não há avaliações