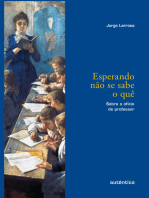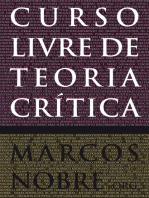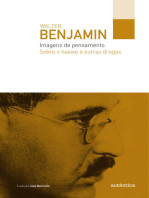Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
BADIOU, Alain. Pequeno Manual de Inestética
Enviado por
I BramDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
BADIOU, Alain. Pequeno Manual de Inestética
Enviado por
I BramDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Alain Badiou
Pequeno manual
de inesttica
Traduo
Marina Appenzeller
Sistema Alexandria
AL: 1099120
Tombo: 1737497
11111111111111I1111111111111111111111 1111111I
r--":'<t~"'''Ql _~~.~~
I: '"'CC:P J
,; v ..... ,
.. ",. f""!,
,I '''I'I~aode "'!hi'r"pi''1t'' '.
' .lI \ ''', U,l.illv,vVCl;:>
It,..... _, .,.... ".~. ~ 1l' . ..:.:_ .;~~.,..,,7'"
Ttulo original: Petit manuel d'inesthtique
Copyright ditions du Seuil, Paris, outubro de 1998
Estao Liberdade, 2002, para esta traduo
SUMRIO
Reviso
Composio
Assistncia editorial
Capa
Ilustrao da capa
Traduo complementar
Marcelo Rondinelli e Tereza Loureno
Pedro Barros I Estao Liberdade
Flvia Moino
Isabel Carballo
Fernand Lger. LesDisques dans Ia ville.
leo si tela, 130 x 160 em, 1920.
Centre Pompidou-MNAM-CCI, Paris.
Documentao fotogrfica do MNAM/CCI
Angel Bojadsen
1. Arte - Filosofia 2. Crtica literria 3. Esttica
I. Ttulo.
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
(Cmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
Titulo original: Petit manuel d'inesthtique
Bibliografia.
ISBN 85-7448-069-X
Badiou, Alain, 1937-
Pequeno manual de inesttica / Alain Badiou ;
traduo Marina Appenzeller. - So Paulo: Estao
Liberdade, 2002.
11
29
43
53
65
79
97
103
117
163
189
1 Arte e filosofia
2 O que um poema, e o que pensa dele a filosofia
3 Um filsofo francs responde a um poeta polons
4 Uma tarefa filosfica: ser contemporneo de Pessoa
5 Uma dialtica potica: Labid ben Rabi'a e Mallarm
6 A dana como metfora do pensamento
7 Teses sobre o teatro
8 Os falsos movimentos do cinema
9 Ser, existncia, pensamento: prosa e conceito
10 Filosofia do fauno
Anexo
CDD-701
ndices para catlogo sistemtico:
1. Arte e filosofia 701
2. Filosofia e arte 701
02-6136
ESTE LIVRO, PUBLICADO NO MBITO DO PROGRAMA DE PARTICIPAO PUBLICAO,
CONTOU COM o APOIO DO MINISTIUO fRANCS DAS RELA6ES EXTERIORES.
J A.g S
Todos os direitos reservados
Editora Estao Liberdade Ltela.
Rua Dona Elisa, 116 01155-030 So Paulo-SP
Te!.: (11) 3661 2881 Fax: (11) 3825 4239
e-mail: editora@estacaoliberdaele.com.br
http://www.estacaoliberelade.com.br
)C~
Por "inesttica" entendo uma relao da filosofia com a
arte, que, colocando que a arte , por si mesma, produtora
de verdades, no pretende de maneira alguma torn-Ia,
para a filosofia, um objeto seu. Contra a especulao est-
tica, a inesttica descreve os efeitos estritamente intrafilo-
sficos produzidos pela existncia independente de algumas
obras de arte.
Alain Eadiou, abril de 1998
1
ARTE E FILOSOFIA
Lao que desde sempre alterado por um sintoma, o de uma
oscilao, de um batimento.
Nas origens, existe o repdio sustentado por Plato acerca do
poema, do teatro, da msica. De tudo isso, deve-se dizer que o
fundador da filosofia, evidentemente refinado conhecedor de to-
das as artes de seu tempo, s d importncia, na Repblica,
msica militar e ao canto patritico.
Na outra extremidade, encontra-se uma devoo piedosa em
relao arte, um ajoelhar-se contrito do conceito, pensado como
niilismo tcnico, diante da palavra potica que oferece sozinha o
mundo ao Aberto latente de seu prprio desamparo.
Mas o sofista Protgoras j designava, afinal, o aprendizado
artstico como a chave da educao. Havia uma aliana de Prot-
goras e de Simnides, o poeta cuja impostura o Scrates de Plato
tenta frustrar e sujeitar a seus prprios fins a intensidade pensvel.
Vem-me mente uma imagem, uma matriz analgica do sen-
tido: filosofia e arte so historicamente acopladas tal qual so,
segundo Lacan, o Mestre e a Histrica. Sabe-se que a histrica vem
dizer ao mestre: "Averdade fala por minha boca, estou aqui, e tu,
que sabes, diga-me quem sou." E adivinha-se que, por maior que
seja a sutileza dou ta da resposta do mestre, a histrica lhe dar a
entender que ainda no isso, que seu aqui escapa apreenso,
11
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
que se deve retomar tudo e redobrar esforos para lhe agradar.
Nesse momento, ela ruma para o mestre e toma-se sua cortes. E, da
mesma maneira, a arte j est sempre aqui, dirigindo ao pensador
a questo muda e cintilante de sua identidade, enquanto, por sua
constante inveno, por sua metamorfose, ela declara-se decepcio-
nada com tudo o que o filsofo enuncia a seu respeito.
O mestre da histrica praticamente no tem outra escolha, caso
demonstre m vontade servido amorosa, idolatria que deve
pagar com uma produo de saber estafante e sempre decepcio-
nante, a no ser lhe passar o cetro. E, da mesma maneira, o mestre
filsofo permanece dividido, no que diz respeito arte, entre ido-
latria e censura. Ou dir aos jovens, seus discpulos, que o cerne
de qualquer educao viril da razo manter-se afastado da Cria-
tura, ou acabar por conceder que s ela, esse brilho opaco do
qual s podemos ser cativos, nos ensine sobre o vis por onde a
verdade comanda que o saber seja produzido.
E, como o que nos solicita o entrelaamento da arte e da
filosofia, parece que, formalmente, esse entrelaamento pensado
sob dois esquemas.
Chamarei ao primeiro de esquema didtico. Sua tese que a
arte incapaz de verdade ou que toda verdade lhe exterior.
Decerto reconhecer-se- que a arte apresenta-se (como a histrica)
sob a aparncia da verdade efetiva, da verdade imediata, ou nua.
E que essa nudez expe a arte como puro encanto do verdadeiro.
Mais precisamente: que a arte a aparncia de uma verdade infun-
dada, no argumentada, de uma verdade esgotada em seu estar-a.
Porm - e esse todo o sentido do processo platnico - rejeitar-
se- essa pretenso, essa seduo. O cerne da polmica platnica
relativa mmesis designa a arte no tanto como imitao das
coisas, mas como imitao do efeito de verdade. E essa imitao
extrai seu poder de seu carter imediato. Plato sustentar ento
que ser cativo de uma imagem imediata da verdade desvia do
desvio. Se a verdade pode existir como encanto, ento perdere-
mos a fora do labor dialtico, da lenta argumentao que prepara
12
ARTE E FILOSOFIA
o retorno ao Princpio. Exige-se, portanto, que se denuncie a pretensa
verdade imediata da arte como uma falsa verdade, como a aparn-
cia prpria do efeito de verdade. E esta a definio da arte e s
dela: ser o encanto de uma aparncia de verdade.
Disso resulta que a arte deve ser condenada ou tratada de ma-
neira puramente instrumental. Estritamente vigiada, a arte pode
ser o que proporciona a uma verdade prescrita de fora a fora
transitria da aparncia, ou do encanto. A arte aceitvel deve ser
submetida vigilncia filosfica das verdades. uma didtica sen-
svel cujo propsito no poderia ser abandonado imanncia.
A norma da arte deve ser a educao. E a norma da educao a
filosofia. o primeiro entrelaamento de nossos trs termos.
Nessa perspectiva, o essencial o controle da arte. Ora, esse
controle possvel. Por qu? Porque, se a verdade de que a arte
capaz lhe exterior, se a arte uma didtica sensvel, o resultado, e
este um ponto capital, que a essncia "boa" da arte vir no na
obra de arte, mas em seus efeitos pblicos. Rousseau escreve: "Os
espetculos so feitos para o povo, e somente por seus efeitos sobre
ele que ser possvel determinar suas qualidades absolutas."
No esquema didtico, o absoluto da arte est, portanto, sob o
controle dos efeitos pblicos da aparncia, eles prprios norma-
tizados por uma verdade extrnseca.
A essa injuno educativa ope-se absolutamente o que cha-
marei de esquema romntico. Sua tese de que unicamente a
arte est apta verdade. E que, nesse sentido, ela realiza o que
a filosofia pode apenas indicar. Ou ainda o que Lacoue-Labarthe
e Nancy chamaram de absoluto literrio. patente que esse corpo
real um corpo glorioso. A filosofia pode muito bem ser o Pai
afastado e impenetrvel. A arte o Filho sofredor que salva e
reergue. O gnio crucificao e ressurreio. Nesse sentido, a
prpria arte que educa, porque ensina o poder de infinidade
contido na coeso supliciada de uma forma. A arte entrega-nos a
esterilidade subjetiva do conceito. A arte o absoluto como sujeito,
a encarnao.
13
/
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Entre o banimento didtico e a glorificao romntica (um "en-
tre" que no essencialmente temporal), existe, no entanto,
ao que parece, uma era de paz relativa entre a arte e a filosofia.
A questo da arte no atormenta Descartes, ou Leibniz, ou Espinosa.
Aparentemente, esses grandes clssicos no tiveram de optar entre
a rudeza de um controle e o xtase de uma fidelidade.
Aristteles j no tinha assinado uma espcie de tratado de paz
entre a arte e a filosofia? Sim, mais do que evidente que existe
um terceiro esquema, o esquema clssico, do qual diremos, antes
de mais nada, que ele des-histeriza a arte.
O dispositivo clssico, como construdo por Aristteles, cabe
em duas teses:
a) A arte - como sustenta o esquema didtico - incapaz da
verdade, sua essncia mimtica, sua ordem, a da aparncia.
b) Isso no grave (ao contrrio do que acredita Plato). No
grave, porque o destino da arte no nem de longe a verdade.
bem certo que a arte no verdade, mas tambm no preten-
de ser, sendo, portanto, inocente. Aristteles classifica a arte como
algo muito diferente do conhecimento, libertando-a, assim, da sus-
peita platnica. Esse algo diferente, que ele s vezes chama de
catharsis, refere-se deposio das paixes numa transferncia
sobre a aparncia. A arte tem uma funo teraputica, e de ma-
neira alguma cognitiva ou reveladora. Ela no depende do teri-
co, mas do tico (no sentido mais amplo do termo). Disso resulta
que a norma da arte sua utilidade no tratamento das afeces
da alma.
Das duas teses do esquema clssico, inferem-se de imediato as
principais regras relacionadas arte.
Em primeiro lugar, o critrio da arte agradar. O "agradar" no
de forma alguma uma regra de opinio, uma regra da maioria.
A arte deve agradar, porque o "agradar" assinala a efetividade da
catharsis, a embreagem real da teraputica artstica das paixes.
Em seguida, o nome daquilo a que o "agradar" remete no a
verdade. O "agradar" prende-se apenas quilo que, de uma verdade,
14
ARTE E FILOSOFIA
retm a disposio de LImaidentificao. A "semelhana" com o
real s exigida na medida em que envolve o espectador da arte
no "agradar", ou seja, em uma identificao, a qual organiza uma
transferncia e, portanto, uma deposio das paixes. Esse farra-
po de verdade bem mais o que uma verdade coage no imagin-
rio. Essa "imaginarizao" de uma verdade, deslastreada de qualquer
realidade, chamada pelos clssicos de "verossimilhana".
Finalmente, a paz entre arte e filosofia repousa por inteiro na
delimitao entre verdade e verossimilhana. E por isso que a
mxima clssica por excelncia : "o verdadeiro pode s vezes
no ser verossmil", a qual enuncia a delimitao, reservando, ao
lado da arte, os direitos da filosofia. Filosofia que, como se v,
outorga-se a possibilidade de no ser verossmil. Definio clssica
da filosofia: a inverossmil verdade.
Qual o preo pago por essa paz? A arte decerto inocente,
mas por ser inocente de toda verdade. Ou seja, ela registrada
no imaginrio. Com todo rigor, no esquema clssico, a arte no
um pensamento. Est inteira em seu ato, ou em sua operao
pblica. O "agradar" dispe a arte como um servio. Poder-se-ia
dizer o seguinte: na viso clssica, a arte servio pblico. de
fato assim, alis, que o Estado a entende, tanto no avassalamento
da arte e dos artistas pelo absolutismo quanto na chicana moderna
dos crditos. O Estado (salvo talvez o Estado socialista, mais did-
tico) , quanto ao entrelaamento que nos importa, essencial-
mente clssico.
Recapitulemos.
Didatismo, romantismo, classicismo so os esquemas possveis
do entrelaamento entre arte e filosofia, o terceiro termo correspon-
dendo educao dos sujeitos, particularmente da juventude. No
didatismo, a filosofia entrelaa-se com a arte na modalidade de
lima vigilncia educativa de seu destino extrnseco ao verdadeiro.
No romantismo, a arte realiza na finitude toda a educao subjeti-
V:l da qual a infinidade filosfica da Idia capaz. No classicismo,
:1 arte capta o desejo e educa sua transferncia pela proposta de
15
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
uma aparncia de seu objeto. Aqui, a filosofia s convocada
enquanto esttica - d sua opinio sobre as regras do "agradar".
A meu ver, o que caracteriza o final do sculo xx que ele no
introduziu um novo esquema em larga escala. Embora se afirme
que o sculo dos "fins", das rupturas, das catstrofes, para o
entrelaamento que nos diz respeito, vejo-o antes como um sculo
conservador e ecltico.
Quais so, no sculo xx, as disposies plenas do pensamento?
As singularidades solidamente destacveis? Vejo apenas trs: o
marxismo, a psicanlise e a hermenutica alem.
Ora, claro que, em matria de pensamento da arte, o mar-
xismo didtico; a psicanlise, clssica; e a hermenutica hei-
deggeriana, romntica.
Que o marxismo seja didaticista no deve ser provado em pri-
meiro lugar pela evidncia dos ucasses e das perseguies dos Esta-
dos socialistas. A prova mais segura encontra-se no pensamento
original e criativo de Brecht. Para ele, existe uma verdade geral e
extrnseca, uma verdade de carter cientfico. Essa verdade o
materialismo dialtico, e Brecht jamais duvidou de que ele consti-
tua o alicerce da nova racionalidade. Essa verdade, em sua essn-
cia, filosfica, e o "filsofo" o personagem-guia dos dilogos
didticos de Brecht; ele que encarregado da vigilncia da arte
pela suposio latente da verdade dialtica. No que por sinal, Brecht
stalinista, se compreendermos por stalinismo, como se deve, a
fuso da poltica e da filosofia materialista dialtica sob a jurisdio
da ltima. Ou digamos que ele pratica um platonismo stalinizado.
O objetivo supremo de Brecht era criar uma "sociedade dos amigos
da dialtica", e o teatro era, sob muitos aspectos, o caminho para tal
sociedade. O distanciamento um protocolo de vigilncia filosfica
"em ato" dos fins educativos do teatro. A aparncia deve ser colo-
cada distncia de si mesma, a fim de que seja mostrada, no pr-
prio distanciamento, a objetividade extrnseca do verdadeiro.
16
ARTE E FILOSOFIA
No fundo, a grandeza de Brecht ter buscado com obstinao
as regras imanentes de uma arte platnica (didtica), em vez de se
contentar, como faz Plato, em classificar as artes existentes em
boas e ruins. Seu teatro "no aristotlico" (o que quer dizer no
clssico e, finalmente, platnico) uma inveno artstica de pri-
meira grandeza no elemento reflexivo de uma subordinao da
arte. Brecht tornou teatralmente ativas as disposies antiteatrais
de Plato. Fez isso centrando a arte nas formas de subjetivao
possveis da verdade exterior.
Da, alis, a importncia da dimenso pica, pois o pico o
que exibe, no intervalo da representao, a coragem da verdade.
Para Brecht, a arte no produz nenhuma verdade, mas uma
elucidao, supostamente verdadeira, das condies de sua cora-
gem. A arte , sob vigilncia, uma teraputica da covardia. No da
covardia em geral, mas da covardia diante da verdade. eviden-
temente por isso que a figura de Galileu central e tambm por
isso que essa pea a obra-prima atormentada de Brecht, pea na
qual gira sobre si mesmo o paradoxo de uma epopia interior da
exterioridade do verdadeiro.
Que a hermenutica heideggeriana ainda seja romntica , a
meu ver, evidente. Aparentemente, ela expe um entrelaamento
indiscernvel do dizer do poeta e do pensar do pensador. A vanta-
gem cabe contudo ao poeta, pois o pensador no outra coisa
seno o anncio da reviravolta, a promessa do advento inespe-
rado dos deuses no auge da aflio, a elucidao retroativa da
dimenso histrica do ser. J o poeta desempenha, no que lhe diz
respeito, no cerne da lngua, a funo de guardio obliterado do
Aberto.
Pode-se dizer que, no reverso do filsofo-artista de Nietzsche,
Heidegger exibe a figura do poeta-pensador. Mas o que nos im-
porta, e caracteriza o esquema romntico, que a mesma verda-
de que circula. O retraimento do ser vem mente no conjuntamente
do poema e de sua interpretao. A interpretao s faz entregar
() poema ao tremor da finitude, em que o pensamento se exercita
17
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
em suportar O retraimento do ser como esclarecido. Pensador e
poeta, em seu apoio recproco, encarnam na palavra a abertura de
sua clausura. Nisso o poema permanece de fato inigualvel.
A psicanlise aristotlica, absolutamente clssica. Para se
convencer disso, basta reler tanto os ensaios de Freud sobre a
pintura quanto os de Lacan sobre o teatro ou a poesia. Neles, a
arte pensada como aquilo que organiza apenas o objeto do
desejo, o qual insimbolizvel, seja ele subtrado do prprio
auge de uma simbolizao. A obra faz desvanecer, em seu apa-
rato formal, a cintilao indizvel do objeto perdido, pelo que ela
prende a si, irresistivelmente, o olhar ou o ouvido daquele que a
ela se expe. A obra de arte encadeia uma transferncia, porque
exibe, em uma configurao singular e tortuosa, o encetamento
do simblico pelo real, a extimidade do objeto, causa do desejo,
ao Outro, tesouro do simblico. Da seu efeito ltimo perma-
necer imaginrio.
Eu diria ento: o sculo xx, que essencialmente no modificou
as doutrinas do entrelaamento entre arte e filosofia, nem por isso
deixou de sentir a saturao dessas doutrinas. O didatismo est
saturado pelo exerccio histrico e estatal da arte a servio do
povo. O romantismo est saturado pelo que h de pura promessa,
sempre ligada suposio do retorno dos deuses no aparato
heideggeriano. E o classicismo est satura do pela conscincia de
si que a demonstrao completa de uma teoria do desejo lhe
proporciona: da, caso no se ceda s miragens de uma "psican-
lise aplicada", a convico ruinosa de que a relao da psicanlise
com a arte sempre apenas um servio prestado prpria psica-
nlise. Um servio gratuito da arte.
Que os trs esquemas estejam saturados tende a produzir hoje
uma espcie de desenlaamento dos termos, um desrelaciona-
mento desesperado entre a arte e a filosofia, bem como a queda
pura e simples do que circulava entre elas: o tema educativo.
As vanguardas do sculo, do dadasmo ao situacionismo, no
passaram de experincias de escolta da arte contempornea, e
18
ARTE E FILOSOFIA
no a designao adequada das operaes dessa arte. Tiveram mais
um papel de representao do que de entrelaamento. que as
vanguardas foram apenas a busca desesperada e instvel de um
esquema mediador, de um esquema didtico-romntico. Foram did-
ticas por seu desejo de dar um fim arte, pela denncia de seu
carter alienado e inautntico. Romnticas tambm, pela convico
de que a arte deveria renascer de imediato como absolutez, como
conscincia integral de suas prprias operaes, como verdade ime-
diatamente legvel de si mesma. Consideradas como proposta de
um esquema didtico-romntico, ou como absolutez da destruio
criadora, as vanguardas eram, antes de mais nada, anticlssicas.
Seu limite foi que no puderam selar aliana, em carter dura-
douro, nem com as formas contemporneas do esquema didtico
nem com as do esquema romntico. Empiricamente, o comunismo
de Breton e dos surrealistas permaneceu alegrico, assim como o
fascismo de Marinetti e dos futuristas. As vanguardas no conse-
guiram ser, como era seu destino consciente, a direo de uma
frente unida anticlssica. A didtica revolucionria condenou-as
pelo que tinham de romntico: o esquerdismo da destruio total
e da conscincia de si moldada ex nihilo, a incapacidade para a
ao ampla, a diviso em grupsculos. O romantismo hermenutico
condenou-as pelo que tinham de didtico: a afinidade revolucion-
ria, o intelectualismo, o desprezo pelo Estado. E sobretudo por-
que o didatismo das vanguardas se assinalava por um voluntarismo
esttico. Ora, sabe-se que, para Heidegger, a vontade a derradeira
representao subjetiva do niilismo contemporneo.
Hoje, as vanguardas desapareceram. A situao global final-
mente a seguinte: saturao dos trs esquemas herdados, encerra-
mento de qualquer efeito do nico esquema tentado nesse sculo,
que era de fato um esquema sinttico, o didtico-romantismo.
A tese em torno da qual este pequeno livro no passa de uma
sC~riede variaes ser ento: diante de uma situao de saturao
19
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
e isolamento, deve-se tentar propor um novo esquema, um quarto
modo de entrelaamento entre filosofia e arte.
O mtodo de investigao ser de incio negativo: o que os
trs esquemas herdados, didtico, romntico e clssico, tm em
comum, e que seria o caso hoje de se desfazer? Esse "comum"
dos trs esquemas diz respeito, creio, relao da arte com a
verdade.
As categorias dessa relao so a imanncia e a singularidade.
"Imanncia" remete seguinte questo: ser que a verdade real-
mente interior ao efeito artstico das obras? Ou a obra de arte no
passa do instrumento de uma verdade exterior? "Singularidade"
remete a uma outra questo: a verdade testemunhada pela arte
absolutamente prpria a ela? Ou pode circular em outros registros
do pensamento operante?
Ora, o que se constata? Que, no esquema romntico, a relao
da verdade com a arte de fato imanente (a arte expe a descida
finita da Idia), mas no singular (pois se trata da verdade, e o pen-
samento do pensador no se coaduna com nada que difere do
que o dizer do poeta desvela). Que, no didatismo, a relao cer-
tamente sirtgular (s a arte pode expor uma verdade sob aforma
de aparncia), mas de modo algum imanente, pois em definitivo
a posio da verdade extrnseca. E que, finalmente, no classicismo,
trata-se apenas do que uma verdade coage no imaginrio, sob a
forma do verossmil.
Nos esquemas herdados, a relao das obras artsticas com a
verdade jamais consegue ser ao mesmo tempo singular e imanente.
Afirmar-se-, portanto, essa simultaneidade. O que tambm se
diz: a prpria arte um procedimento de verdade. Ou ainda: a
identificao filosfica da arte depende da categoria de verdade.
A arte um pensamento cujas obras so o real (e no o efeito). E esse
pensamento, ou as verdades que ele ativa, so irredutveis s ou-
tras verdades, sejam elas cientficas, polticas ou amorosas. O que
tambm quer dizer que a arte, como pensamento singular,
irredutvel filosofia.
20
ARTE E FILOSOFIA
Imanncia: a arte rigorosamente coextensiva s verdades que
prodigaliza.
Singularidade: essas verdades no so dadas em nenhum outro
lugar a no ser na arte.
Nessa viso das coisas, o que ocorre com o terceiro termo do
entrelaamento, a funo educativa da arte? A arte educa simples-
mente porque produz verdades e porque "educao" jamais quis
dizer nada alm (a no ser nas montagens opressivas ou perverti-
das) do seguinte: dispor os conhecimentos de tal maneira que
alguma verdade possa se estabelecer.
A coisa pela qual a arte educa simplesmente a sua existncia.
Trata-se apenas de encontrar essa existncia, o que quer dizer:
pensar um pensamento.
A filosofia deve, a partir de ento, no que diz respeito arte e
a todo procedimento de verdade, mostr-Ia como tal. A filosofia
de fato a intermediria dos encontros com as verdades, a alcovi-
teira do verdadeiro. E da mesma maneira que a beleza deve estar
na mulher encontrada, mas no absolutamente exigida da alco-
viteira, as verdades so artsticas, cientficas, amorosas ou polti-
cas, e no filosficas.
O problema concentra-se, ento, na singularidade do pro-
cedimento artstico, no que autoriza sua diferenciao irredutvel
por exemplo com relao cincia, ou com poltica.
Deve-se ver que, sob sua simplicidade manifesta, eu diria quase
sob sua ingenuidade, a tese segundo a qual a arte seria um procedi-
mento de verdade sui generis, imanente e singular, na realidade
uma proposta filosfica absolutamente inovadora. A maioria das
conseqncias dessa tese ainda est velada, e ela obriga a um
considervel trabalho de reformulao. V-se um sintoma quando
se constata que Deleuze, por exemplo, continua a conduzir a arte
para o lado do sensvel como tal (afeto e objeto de percepo),
em continuidade paradoxal com o motivo hegeliano da arte como
"forma sensvel da Idia". Ele separa assim a arte da filosofia (desti-
nada apenas inveno dos conceitos), segundo uma modalidade
21
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
que deixa ainda de todo inaparente o verdadeiro destino da arte
como pensamento. que, por no convocar nesse caso a catego-
ria de verdade, no se consegue estabelecer o plano de imanncia
no qual procede a diferenciao entre arte, cincia e filosofia.
A principal dificuldade parece ater-se, a meu ver, ao seguinte
ponto: quando se trata de pensar a arte como produo imanente
de verdades, qual a unidade pertinente do que denominado
"arte'? a obra de arte a singularidade de uma obra? o autor o
criador? Ou ainda outra coisa?
A essncia da questo toca, na realidade, no problema da rela-
o entre infinito e finito. Uma verdade uma multiplicidade infi-
nita. No posso aqui provar esse ponto mediante demonstrao,
como j fiz em outra parte. Digamos que foi o que bem viram os
adeptos do esquema romntico para imediatamente obliterar sua
descoberta no diagrama esttico da finitude, do artista como Cristo
da Idia. Ou, para ser mais conceitual: a infinidade de uma verdade
aquilo pelo que ela se livra de sua identidade pura e simples aos
conhecimentos estabelecidos.
Ora, uma obra de arte essencialmente finita. finita em um
triplo sentido. Em primeiro lugar, ela expe-se com objetividade finita
no espao e/ou no tempo. Em segundo, sempre normatizada por
um princpio grego de finalizao: move-se na plenitude de seu pr-
prio limite, indica que exibe toda a perfeio da qual capaz. Final-
mente, e sobretudo, instrui por si mesma a questo de seu prprio
fim, o procedimento convincente de sua finitude. porque, alm
disso, (outro trao que a distingue do infinito genrico do verda-
deiro), ela , em todos os seus pontos, insubstituvel: uma vez "aban-
donada" a seu prprio fim imanente, permanece como para sempre,
e qualquer retoque ou modificao lhe inessencial, ou destrutivo.
Eu sustentaria at de bom grado que a obra de arte de fato a
nica coisa finita que existe. Que a arte criao de finitude. Ou
seja, criao de um mltiplo intrinsecamente finito, que expe
sua organizao no e pelo recorte finito de sua apresentao, e
aposta em sua delimitao.
22
ARTE E FILOSOFIA
Se sustentarmos, portanto, que a obra verdade, no mesmo
movimento seria necessrio sustentar que ela desce do infinito-
verdadeiro para a finitude. Mas essa figura da descida do infinito para
o finito precisamente o ncleo do esquema romntico, que pen-
sa a arte como encarnao. impressionante ver que esse esque-
ma ainda subsiste em Deleuze, para quem a arte mantm com o
infinito catico uma relao mais fiel do que qualquer outra, pre-
cisamente porque ela o configura no finito.
No parece que o desejo de propor um esquema de entre-
laamento filosofia/arte, que no seja nem clssico nem didtico
nem romntico, seja compatvel com a manuteno da obra como
unidade pertinente de exame da arte sob o signo das verdades da
qual ela capaz.
Tanto mais porque existe uma dificuldade suplementar: toda
verdade origina-se de um acontecimento. Tambm aqui deixo essa
assero no estado de axioma. Digamos que vo imaginar que
se possa inventar o que quer que seja (e toda verdade inveno)
se nada acontece e se "nada teve lugar a no ser o lugar".* Porque
seramos, ento, remetidos a uma concepo "genial", ou idealista,
da inveno. O problema com que devemos lidar que impossvel
de dizer da obra que ela ao mesmo tempo uma verdade e o
acontecimento que gera essa verdade. Sustenta-se com muita fre-
qncia que a obra de arte deve ser pensada mais como singula-
ridade do acontecimento do que como estrutura. Mas toda fuso
entre acontecimento e verdade reconduz a uma viso "crstica" da
verdade, porque ento uma verdade no passa de auto-revelao
relativa ao acontecimento dela mesma.
O caminho a seguir parece-me caber em um pequeno nmero
de proposies.
Como regra geral, uma obra no um acontecimento. um
feito da arte, aquilo com que o procedimento artstico tecido.
No original: "rien n'a eu lieu [ocorreu] que le lieu [lugar]". A traduo procurou
manter o jogo ele palavras.
23
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Uma obra tampouco uma verdade. Uma verdade um
procedimento artstico iniciado por um acontecimento. Esse pro-
cedimento s composto por obras. Mas no se manifesta -
como infinidade - em nenhuma. A obra , portanto, a instncia
local, o ponto diferencial de uma verdade.
Vamos chamar esse ponto diferencial do procedimento arts-
tico de seu sujeito. Uma obra sujeito do procedimento artstico
considerado, ou ao qual essa obra pertence. Ou ainda: uma obra
de arte um ponto-sujeito de uma verdade artstica.
Uma verdade no tem nenhum outro ser que no obras,
um mltiplo (infinito) genrico de obras. Mas essas obras somente
tecem o ser de uma verdade artstica segundo o acaso de suas
ocorrncias sucessivas.
Pode-se dizer tambm: uma obra uma investigao situada
sobre a verdade que ela atualiza localmente ou da qual um
fragmento finito.
A obra est assim sujeita a um princpio de novidade. Pois
uma investigao retroativamente validada como obra de arte
real enquanto uma investigao que no teve lugar, um ponto-
sujeito indito da trama de uma verdade.
As obras compem uma verdade na dimenso ps-aconteci-
mento, que institui a imposio de uma configurao artstica.
Uma verdade , finalmente, uma configurao artstica, iniciada
por um acontecimento (um acontecimento em geral um grupo de
obras, um mltiplo singular de obras), e arriscadamente exposta
sob a forma de obras que so seus pontos-sujeitos.
A unidade pertinente do pensamento da arte como verdade
imanente e singular , portanto, definitivamente, no a obra, nem
o autor, mas a configurao artstica iniciada por uma ruptura rela-
tiva ao acontecimento (que em geral torna uma configurao ante-
rior obsoleta). Essa configurao, que um mltiplo genrico, no
tem nem nome prprio, nem contorno finito, nem mesmo totaliza-
o possvel sob um nico predicado. No possvel esgot-Ia,
apenas descrev-Ia imperfeitamente. uma verdade artstica, e
24
ARTE E FILOSOFIA
todos sabem que no existe verdade da verdade. designada,
geralmente, por conceitos abstratos (representao, tonalidade,
tragdia, etc.).
o que se deve entender, mais precisamente, por "configurao
artstica"?
Uma configurao no nem uma arte, nem um gnero, nem
um perodo "objetivo" da histria de uma arte, nem mesmo um
dispositivo "tcnico". uma seqncia identificvel, iniciada por
um acontecimento, composta de um complexo virtualmente infi-
nito de obras, que nos permite dizer que ela produz, na estrita
imanncia arte que est em questo, uma verdade dessa arte,
uma verdade-arte. A filosofia trar vestgios da configurao pelo
fato de que ter de mostrar em que sentido essa configurao se
deixa apreender pela categoria de verdade. Alm disso, inver-
samente, a montagem filosfica da categoria de verdade ser
singularizada pelas configuraes artsticas do tempo. Desse
modo, certo que na maioria das vezes uma configurao
pensvel na juno do processo efetivo da arte e das filosofias
que a apreendem.
Citemos, por exemplo, a tragdia grega, muitas vezes apreen-
dida como configurao, de Plato ou de Aristteles a Nietzsche.
O acontecimento iniciador tem o nome, "squilo", mas esse nome,
como qualquer outro relativo a acontecimentos , antes, o indcio
de um vazio central na situao anterior da poesia cantada. Sabe-
se que, com Eurpides, a configurao est saturada. Mais do que
o sistema tonal, dispositivo demasiadamente estrutural, citemos
na msica o estilo clssico, no sentido empregado por Charles
Rosen, seqncia identificvel entre Haydn e Beethoven. Dir-se-
decerto que, de Cervantes a ]oyce, o romance um nome de
configurao para a prosa.
Observe-se que a saturao de uma configurao (o romance
narrativo prximo de]oyce, o estilo clssico prximo de Beethoven,
25
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
etc.) no significa de forma alguma que a configurao uma mul-
tiplicidade finita. Porque nada, do interior dela prpria, delimita-a
ou expe o princpio de seu fim. A raridade dos nomes prprios, a
brevidade da seqncia so dados empricos sem conseqncia.
Ademais, alm dos nomes prprios retidos como ilustraes signifi-
cativas da configurao, ou pontos-sujeitos "estrepitosos" de sua
trajetria genrica, sempre h, de fato, uma quantidade virtualmente
infinita de pontos-sujeitos menores, ignorados, redundantes, etc.,
que nem por isso deixam de fazer parte da verdade imanente da
qual o ser a configurao. Acontece, decerto, que a configurao
no d mais lugar a obras nitidamente perceptveis, ou a investiga-
es decisivas sobre ela prpria. Ocorre tambm que um aconteci-
mento incalculvel faa parecer retrospectivamente a configurao
como obsoleta, vista das imposies de uma nova configurao.
Mas, em todos os casos, diferena das obras que lhe constituem a
matria, uma verdade-configurao intrinsecamente infinita. O que
claramente quer dizer que ela ignora todo mximo interno, todo
apogeu, toda perorao. sempre possvel, ademais, que ela torne
a ser apreendida nas pocas de incerteza, ou rearticulada na deno-
minao de um novo acontecimento.
Vist que o desprendimento imaginvel de uma configurao se
fez muitas vezes nos limites da filosofia - porque a filosofia est
sob a condio da arte enquanto verdade singular e, portanto, dis-
posta em configuraes infinitas -, no se deve sobretudo concluir
que cabe filosofia pensar a arte. Na realidade, uma coYffigurao
pensa-se a si mesma nas obras que a compem. Pois, no esquea-
mos, uma obra uma investigao inventiva sobre a configurao,
que pensa, portanto, o pensamento que a configurao ter sido
(sob a suposio de sua plenitude infinita). Em termos mais preci-
sos: a configurao pensa-se na prova de uma investigao, que ao
mesmo tempo a constitui localmente, esboa seu advir e reflete, de
modo retroativo, sua curvatura temporal. Desse ponto de vista, deve-
se sustentar que a arte, configurao "em verdade" das obras, em
cada ponto pensamento do pensamento que ela .
26
ARTE E FILOSOFIA
Herdamos ento um triplo problema:
Quais so as configuraes contemporneas?
O que acontece ento com a filosofia sob a condio da arte?
Onde se encontra o tema da educao?
Vamos deixar de lado o primeiro ponto. Todo o pensamento
contemporneo sobre a arte repleto de investigaes, muitas
vezes cativantes, sobre as configuraes artsticas que marcaram o
sculo: serialismo, prosa romanesca, era dos poetas, ruptura da
representao, etc.
Sobre o segundo ponto, s posso repetir minhas prprias con-
vices: a filosofia - ou melhor, uma filosofia - sempre a
elaborao de uma categoria de verdade. No produz por si mes-
ma qualquer verdade efetiva. Apreende as verdades, mostra-as,
expe-nas, enuncia que existem. Ao fazer isso, volta o tempo para
a eternidade, pois qualquer verdade, enquanto infinidade genrica,
eterna. Enfim, torna compossveis verdades dspares e, portanto,
enuncia o que esse tempo, no qual opera como tempo das
verdades que nele influem.
Sobre o terceiro ponto, lembraremos que s h educao pelas
verdades. Todo o recorrente problema que h verdades; na sua
falta, a categoria filosfica de verdade puramente vazia, e o ato
filosfico, uma raciocinao acadmica.
Esse "h" indica uma co-responsabilidade da arte, que produz
verdades, e da filosofia, que, sob a condio de que haja verda-
des, tem por dever e por difcil tarefa mostr-Ias. Mostr-Ias quer
dizer, essencialmente, distingui-Ias da opinio. De modo que a
questo de hoje nica e exclusivamente a seguinte: h algo alm
de opinio, quer dizer, perdoar-se- (ou no) a provocao, h
outra coisa alm de nossas "democracias"?
Muitos respondem, e eu me junto a eles, que sim. H confi-
guraes artsticas sim, h obras que so seus sujeitos pensan-
tes, h filosofia para separar conceitualmente tudo isso da
27
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
opinio. Nosso tempo vale mais que a "democracia" da qual ele
se vangloria.
Com o intuito de alimentar no leitor essa convico, passare-
mos de incio a algumas identificaes filosficas das artes. Poe-
sia, teatro, cinema e dana sero os pretextos.
28
2
o QUE UM POEMA, E O QUE
PENSA DELE A FILOSOFIA
A crtica radical da poesia no livro X da Repblica manifesta os
limites singulares da filosofia platnica da Idia? Ou , ao contr-
rio, um gesto constitutivo da prpria filosofia, da filosofia "tal qual",
que manifestaria assim, originalmente, sua incompatibilidade com
o poema?
Para no tornar a discusso enfadonha, importante apreen-
der que o gesto platnico com respeito ao poema no , aos olhos
de Plato, secundrio ou polmico. realmente crucia!. Plato
no hesita em declarar o seguinte: "Acidade cujo princpio acaba-
mos de estabelecer a melhor, sobretudo em virtude das medidas
tomadas contra a poesia."
Deve-se a qualquer preo conservar intacto o carter incisivo
desse enunciado extraordinrio. Ele nos diz, sem rodeios, que o
que serve de medida para o princpio poltico propriamente a
excluso do poema. Ou pelo menos daquilo que Plato chama
a "dimenso imitativa" do potico. O destino da poltica verdadeira
repousa sobre a firmeza da atitude com relao ao poema.
Ora, o que a poltica verdadeira, a politia bem fundamentada?
a prpria filosofia, desde que garanta o domnio do pensamento
sobre a existncia coletiva, sobre a mltipla concentrao dos ho-
mens. Digamos que a politia o coletivo vindo sua verdade
imanente. Ou ainda, o coletivo comensurvel com o pensamento.
29
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Se seguirmos Plato, devemos afirmar o seguinte: a cidade,
que o nome da humanidade em sua concentrao, s
pensvel na medida em que se mantm seu conceito protegido
do poema. Proteger a subjetividade coletiva do encanto poderoso
do poema necessrio para que a cidade se exponha ao pen-
samento. Ou ainda: enquanto for "poetizada", a subjetividade
coletiva tambm subtrada ao pensamento, permanecendo
heterognea a ele.
A interpretao comum - amplamente autorizada pelo texto
de Plato - que o poema, situado como est a uma distncia
dupla da Idia (imitao segunda dessa imitao primeira que o
sensveO, impede qualquer acesso ao princpio supremo do qual
depende que a verdade do coletivo advenha sua prpria trans-
parncia. O protocolo de banimento dos poetas dependeria da
natureza imitativa da poesia. Uma nica e mesma coisa seria proi-
bir o poema e criticar a mmesis.
Ora, no me parece que essa interpretao esteja altura da
violncia do texto de Plato. Violncia a respeito da qual Plato
no dissimula que tambm dirigida contra ele mesmo, contra o
poder incoercvel do poema sobre sua prpria alma. A crtica razo-
vel da imitao no legitima inteiramente que seja necessrio arran-
car de si os efeitos de tal poder.
Coloquemos que a mmesis no o mago do problema. O
fato de ser necessrio, para pensar a cidade, interromper o dizer
potico, requer, como no ponto de partida da mmesis, um mal-
entendido fundador.
Parece haver, entre o pensamento tal como a filosofia o pensa
e o poema, uma discordncia bem mais radical, bem mais antiga
do que a que diz respeito s imagens e imitao.
a essa discordncia antiga e profunda que PIato alude, creio,
quando escreve: nu-uux n,> tucP0p cPt.ooocPu 1"E KUl.
nOt'llnKij, "antiga a discordncia da filosofia e do potico".
Essa antigidade da discordncia refere-se evidentemente ao
pensamento, identificao do pensamento.
30
o QUE UM POEMA, E O QUE PENSA DELE A FILOSOFIA
Ao que a poesia se ope, no pensamento? No se ope direta-
mente ao intelecto, ao vo-u'>, intuio das idias. No se ope
dialtica como forma suprema do inteligvel. Plato muito claro
nesse ponto: o que a poesia desorienta o pensamento discursivo,
a dianoia. O poema, diz Plato, a "runa da discursividade dos
que o escutam". A dianoia o pensamento que atravessa, o pen-
samento que encadeia e que deduz. J o poema afirmao e
deleite, no atravessa, mantm-se no limiar. O poema no trans-
posio organizada, mas oferenda, proposio sem lei.
Plato tambm dir que o verdadeiro recurso contra o poema
"a medida, o nmero e o peso". E que a parte antipotica da alma
"o labor do lgoscalculador", 1"v -oyta1"tKv epyov. Dir ain-
da que, no poema teatral, o que triunfa o princpio do prazer e
da dor, contra a lei e o lgos.
A dianoia, o pensamento que encadeia e atravessa, o pensamento
que um lgos submetido a uma lei, possui um paradigma: a
matemtica. possvel sustentar, portanto, que aquilo a que no pensa-
mento o poema se ope propriamente jurisdio sobre o prprio
pensamento da ruptura matemtica, do poder inteligvel do materna.
A oposio fundadora finalmente a seguinte: a filosofia no
pode comear nem apoderar-se do real poltico, a no ser que
substitua a autoridade do poema pela do materna.
O motivo profundo dessa oposio entre materna e poema
duplo.
Por um lado, o mais evidente, o poema permanece sujeito
imagem, singularidade imediata da experincia. J o materna
tcm seu ponto de partida na idia pura, e em seguida s confia na
(Ieduo. De modo que o poema mantm com a experincia sen-
svel um lao impuro, que expe a lngua aos limites da sensao.
I)csse ponto de vista, sempre duvidoso que haja realmente um
pensamento do poema ou que o poema pense.
Mas o que para Plato um pensamento duvidoso, um pensa-
111CI1tO indiscernvel do no-pensamento? uma sofstica. O poe-
11I:1poderia ser, na realidade, o principal cmplice da sofstica.
31
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
exatamente O que se sugere no dilogo Protgoras. Pois
Protgoras refugia-se por trs da autoridade do poeta Simnides,
e ele quem declara que, "para um homem, a parte cmcial da
educao ser competente em matria de poesia".
Poderamos afirmar, portanto, que a poesia para o sofista o
que a matemtica para o filsofo. A oposio do materna e do
poema sustentaria, nas disciplinas que condicionam a filosofia,
o trabalho incessante da filosofia para se separar de seu duplo
discursivo, do que a ela se assemelha, e, por essa semelhana,
corrompe seu ato de pensamento: a sofstica. O poema seria, como
o sofista, um no-pensamento que se apresenta no poder de lin-
guagem de um pensamento possvel. Interromper esse poder seria
a funo do materna.
Por outro lado, e mais profundamente, supondo-se at que
exista um pensamento do poema, ou que o poema seja um pen-
samento, esse pensamento inseparvel do sensvel, um pensa-
mento que no se pode discernir ou separar como pensamento.
Digamos que o poema um pensamento impensvel. Enquanto a
matemtica um pensamento que se escreve imediatamente como
tal, um pensamento que precisamente s existe na medida em
que pensvel.
Poder-se-ia afirmar, do mesmo modo, que para a filosofia a
poesia um pensamento que no pensamento, nem mesmo
pensvel. Mas que, precisamente, a filosofia tem como nico de-
safio pensar o pensamento, identificar o pensamento como pen-
samento do pensamento. E que deve, portanto, excluir de seu
campo qualquer pensamento imediato, apoiando-se para isso nas
mediaes discursivas do materna.
"Que ningum que no seja gemetra entre aqui": Plato faz a
matemtica entrar pela porta principal, como procedimento expl-
cito do pensamento, ou pensamento que s pode se expor como
pensamento. A partir de ento, preciso que a poesia, sim, a
poesia, saia pela escada secreta. Essa poesia ainda onipresente na
declarao de Parmnides e nas sentenas de Herclito, mas que
32
o QUE UM POEMA, E O QUE PENSA DELE A FILOSOFIA
oblitera a funo filosfica, porque nela o pensamento se outorga
o direito do inexplcito, do que adquire poder na lngua de outra
parte que no do pensamento que se expe como tal.
Essa oposio entre a lngua da transparncia do materna e a
obscuridade metafrica do poema coloca, no entanto, para ns
modernos, problemas temveis.
Plato, por sua vez, no consegue sustentar essa mxima at
o final, essa mxima que promove o materna e bane o poema.
No consegue, pois ele prprio explora os limites da dianoia,
do pensamento discursivo. Quando se trata do princpio supre-
mo, do Uno, ou do Bem, Plato deve convir que estamos nKet va
't'~':louaa':l, "alm da substncia", e, conseqentemente, fora de
tudo o que se expe no recorte da Idia. Ele deve reconhecer
que a doao em pensamento desse princpio supremo, que a
doao em pensamento do ser mais alm do sendo, no se deixa
atravessar por nenhuma dianoia. Ele prprio deve recorrer s
imagens, como a do sol; s metforas, como as do "prestgio" e
do "poder"; ao mito, como o de Er, o panfiliano, que volta do
reino dos mortos. Em suma: l onde o que est em jogo a
abertura do pensamento ao princpio do pensvel, quando o
pensamento deve absorver-se na percepo do que o institui
como pensamento, eis que o prprio PIato submete a lngua ao
poder do dizer potico.
Ns, modernos, suportamos, no entanto, de uma maneira com-
pletamente diferente da de um grego, o intervalo lingstico entre
() poema e o materna.
Em primeiro lugar, porque apreendemos por completo no
:Ipenas tudo o que o poema deve ao Nmero, mas sua vocao
Ilropriamente inteligvel.
Nesse ponto, Mallarm exemplar: o desafio do.1ance de dados
Il( Jtico que surja, "resultado estelar", o que ele chama de "nico
111'11 nero que no pode ser um outro". O poema est no regime ideal
li: I Ilecessidade, relaciona o desejo sensvel ao advento aleatrio da
h h"ia. O poema um dever do pensamento:
33
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Glria do longo desejo, Idias
Tudo em mim exaltava-se de ver
A famlia dos irisados
Surgir para esse novo dever. *
Mas, alm disso, o poema moderno identifica a si mesmo como
pensamento. No apenas a efetividade de um pensamento en-
tregue no cerne da lngua, o conjunto das operaes pelas quais
esse pensamento se pensa. As grandes figuras poticas - trate-se,
para Mallarm, da Constelao, do Tmulo ou do Cisne; ou, para
Rimbaud, do Cristo, do Operrio ou do Esposo infernal - no
so metforas cegas. Organizam um dispositivo consistente, em
que o poema vem maquinar a apresentao sensvel de um regi-
me do pensamento: subtrao e isolamento para Mallarm, pre-
sena e interrupo para Rimbaud.
Simetricamente, ns, modernos, sabemos que a matemtica, que
pensa diretamente as configuraes do ser-mltiplo, atravessada
por um princpio de errncia e de excesso que no consegue ava-
liar sozinha. Os grandes teoremas de Cantor, de G6del, de Cohen
assinalam, no sculo, as aporias do materna. O desacordo entre o
axiomtico dos conjuntos e a descrio por categorias estabelece a
ontologia matemtica na imposio de opes de pensamento, cuja
escolha nenhuma prescrio puramente matemtica pode normatizar.
Ao mesmo tempo em que o poema advm ao pensamento
potico do pensamento que ele , o materna organiza-se em torno
de um ponto de fuga em que seu real se encontra num impasse de
qualquer retomada formalizante.
Digamos que, aparentemente, a modernidade idealiza o poe-
ma e sofistica o materna. Assim derruba o juzo platnico com
mais segurana do que Nietzsche o desejaria do vis da "transva-
liao de todos os valores".
Gloire elu long elsir, Ieles / Tout en moi s'exaltait ele voir / La famille eles irieles /
Surgir ce nouveau elevoir.
34
O QUE UM POEMA, E O QUE PENSA DELE A FILOSOFIA
Disso resulta um deslocamento crucial da relao da filosofia
com o poema.
No , pois, da oposio do sensvel e do inteligvel, ou do
belo e do bem, ou da imagem e da Idia, que tal relao pode
doravante se sustentar. O poema moderno menos a forma sen-
svel da Idia e bem mais o sensvel que se apresenta como nos-
talgia subsistente, e impotente, da idia potica.
Em A tarde de umfauno, de Mallarm, o "personagem" que
monologa pergunta-se se existe na natureza, na paisagem sens-
vel, um vestgio possvel de seu sonho sensual. A gua no tes-
temunharia a frieza de uma das mulheres desejadas? O vento
no se lembra dos suspiros voluptuosos da outra? Se preciso
afastar essa hiptese, porque a gua e o vento nada so em
relao ao poder de suscitao pela arte da idia da gua, da
idia do vento:
no frescor da manh quando luta,
No rumoreja nenhuma gua que minha flauta no despeja
No bosque regado de acordes; e somente o vento
Fora dos dois tubos disposto a exalar-se antes
Que disperse o burburinho em chuva rida,
no horizonte que nenhuma ruga remexeu,
O visvel e sereno sopro artificial
Da inpirao, que volta ao cu.*
Por meio da visibilidade do artifcio, que tambm o pensamen-
h) do pensamento potico, o poema ultrapassa em poder aquilo
(Il' que o sensvel capaz. O poema moderno o contrrio de uma
IlImesis. Por sua operao, exibe uma Idia da qual o objeto e a
t ,I >jctividade no passam de plidas cpias.
Il' matin frais s'i! lutte, / Ne murmure point el'eau que ne verse ma flQte / Au
I )"squet arros el'accorels; et le seul vent / Hors eles eleux tuyaux prompt s'exhaler
:lvanl / Qu'i! elisperse le son elans une pluie ariele, / Cest, l'horizon pas remu
(l'une dele, / Le visible et serein souffle artifidel / De l'inspiration, qui regagne le de!'
35
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Afilosofia no pode, portanto, apreender o par poema e materna
na oposio simples da imagem deleitvel e da idia pura. Por
onde faz ento passar a disjuno desses dois regimes do pensa-
mento na lngua? Eu diria que no ponto em que um e outro
desses pensamentos encontram seu inominvel.
Coloquemos, transversalmente ao banimento platnico dos poe-
tas, essa equivalncia: poema e materna, examinados do ponto de
vista da filosofia, tanto um quanto outro, so inseridos na forma
geral de um procedimento de verdade.
A matemtica torna verdade do mltiplo puro como inconsis-
tncia primordial do ser enquanto ser.
A poesia torna verdade do mltiplo como presena vinda aos
limites da lngua. Observe-se o canto da lngua como aptido para
tornar presente a noo pura do "h" no prprio desvanecimento
de sua objetividade emprica.
Quando Rimbaud enuncia poeticamente que a eternidade
"mar que partiu/com o sol", ou quando Mallarm resume toda a
transposio dialtica do sensvel em Idia pelas trs palavras "noite,
desespero e pedraria", ou "solido, recife, estrela", fundem no
cadinho da denominao o referente que adere aos vocbulos
para fazer existir intemporalmente o desaparecimento temporal
do sensvel.
Desse modo, continua sendo verdade que um poema uma
"alquimia do verbo". Essa alquimia, porm, diferentemente da ou-
tra, um pensamento, o pensamento do que h enquanto "l",
doravante suspenso nos poderes de esvaziamento e de suscitao
da lngua.
Do mltiplo no apresentado e insensvel com o qual a mate-
mtica gera verdade, o smbolo o vazio, o conjunto vazio.
Do mltiplo dado ou desabrochado, mantido no limite de
seu desaparecimento, com o que o poema faz verdade, o smbolo
a Terra, essa Terra afirmativa e universal da qual Mallarm
declara:
36
o QUE UM POEMA, EO QUE PENSA DELEA FILOSOFIA
Sim, sei que ao longe dessa noite, a Terra
Lana com um grande brilho o inslito mistrio. *
Ora, toda verdade, esteja ela encadeada ao clculo ou seja ela
extrada do canto da lngua natural, , antes de mais nada, uma potn-
cia. Tem poder sobre seu prprio devir infinito. Pode antecipar-lhe
fragmentariamente o universo inacabvel. Pode forar a suposio
do que seria o universo se os efeitos completos de uma verdade em
curso nele se exibissem sem limite.
assim que, de um teorema novo e poderoso, computam-se
as conseqncias que reorientam o pensamento e ordenam-lhe
exerCcios completamente novos.
Mas assim que, de uma potica fundadora, extraem-se novos
mtodos do pensamento potico, uma nova prospeco dos recur-
sos da lngua, e no apenas o deleite de um brilho de presena.
No toa que Rimbaud exclama: "Afirmamos a ti, mtodo!",
ou declara-se "apressado em encontrar o lugar e a frmula". Ou
que Mallarm se prope a instalar o poema como cincia:
Pois instalo, pela cincia,
O hino dos coraes espirituais
Na obra de minha pacincia
Atlas, herbrios e rituais.**
Ao mesmo tempo em que uma ao imediata, como pensa-
mento da presena numa perspectiva de desaparecimento, o poe-
ma, como toda representao local de uma verdade, tambm
um programa de pensamento, uma antecipao poderosa, um for-
ar da lngua pelo advento de uma "outra" lngua tanto imanente
como criada.
Qui, je sais qu'au lointain de cette nuit, Ia Terre I ]ette d'un grand clat l'insolite
mystere.
Car j'installe, par Ia science, I L'hymne des cceurs spirituels I En j'ceuvre de ma
patience I Atlas, herbiers et rituels.
37
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Mas, ao mesmo tempo em que potncia, toda verdade uma
impotncia. Pois aquilo sobre o que ela tem jurisdio no pode-
ria ser uma totalidade.
Verdade e totalidade serem incompatveis , decerto, o ensi-
namento decisivo - ou ps-hegeliano - da modernidade.
Jacques Lacan exprime essa idia em seu afotismo famoso: a ver-
dade no pode se dizer "por inteiro", s pode se meio-dizer. Mallarm,
por sua vez, criticava os pamasianos, que, como dizia, "tomam a coisa
por inteiro e mostram-na". Por a, acrescentava, "perdem o mistrio".
Como quer que seja que uma verdade seja verdade, no se
poderia pretender que ela a investisse "por inteiro", que fosse sua
mos trao integral. O poder de revelao de um poema enreda-se
em torno de um enigma, de modo que a verificao desse enigma
faa todo o real de impotncia da potncia do verdadeiro. Nesse
sentido, o "mistrio nas letras" um verdadeiro imperativo. Quando
Mallarm sustenta que "sempre deve haver enigma em poesia",
funda uma tica do mistrio que o respeito, pelo poder de uma
verdade, de seu ponto de impotncia.
O mistrio de fato que toda verdade potica deixe em seu
centro o que ela no tem o poder de fazer vir tona.
Mais geralmente, uma verdade sempre encontra, em um ponto
do que investe, o limite em que se prova que ela esta verdade
singular, e no a conscincia de si do Todo.
O fato de que toda verdade sempre um processo singular,
embora ela proceda indefinidamente, atestado no real por ao
menos um ponto de impotncia, ou, como diz Mallarm, "uma
rocha, falso solar de imediato evaporado em brumas que imps
um limite no infinito".
Uma verdade se depara com a rocha de sua prpria singulari-
dade, e apenas a que se enuncia, como impotncia, que uma
verdade existe.
Chamemos esse deparar o inominvel. O inominvel aquilo
cuja nomeao uma verdade no pode forar. Aquilo cuja trans-
formao em verdade ela no pode antecipar.
38
o QUE UM POEMA, EO QUE PENSA DELE A FILOSOFIA
Todo regime da verdade baseia-se no real em seu inominvel
prptio.
Se voltarmos agora para a oposio platnica entre o poema e
(l matema, faamo-nos a seguinte pergunta: o que diferencia "no
rcal" e, portanto, quanto a seu inominvel prptio, as verdades
matemticas e as verdades poticas?
O que caracteriza a lngua matemtica a fidelidade dedutiva.
Compreendamos por isso a capacidade de encadear enunciados
de modo que esse encadeamento seja obtigatrio e que o conjunto
dos enunciados obtidos sustente vitoriosamente a prova da con-
sistncia. O efeito de obrigatotiedade procede da codificao l-
gica subjacente ontologia matemtica. O efeito de consistncia
ccntral. O que de fato uma teoria consistente? uma teoria na
qual existem enunciados impossveis na teoria. Uma teoria con-
sistente se existir pelo menos um enunciado "correto" da lingua-
gem dessa teoria que no seja passvel de inscrio na teoria, ou
(lue a teotia no admita como verdico.
Desse ponto de vista, a consistncia atesta a teoria como pensa-
IIwnto singular. Afinal, se qualquer enunciado fosse admissvel teori-
('amente, isso significatia que no existe nenhuma diferena entre
"cnunciado gramaticalmente correto" e "enunciado teoricamente ver-
dico". A teotia no passaria ento de uma gramtica, e nada pensaria.
O princpio de consistncia o que destina a matemtica a
lima situao de ser do pensamento, o que faz que ela no seja
11111 simples conjunto de regras.
Mas sabemos, desde Gbdel, que a consistncia precisamente
()j)onto do inominvel da matemtica. Para uma teoria mate m-
I iC:I, no possvel estabelecer como verdico o enunciado de sua
Ilr()pria consistncia.
Se nos voltarmos agora para a poesia, veremos que o que caracte-
riZ:lseu efeito a mostrao das potncias da prpria lngua. Todo
Il( lcma faz um poder vir lngua, o poder de fixar eternamente o
(k'saparecimento do que se apresenta. Ou de produzir a prptia
I,rcsena como Idia pela reteno potica de seu desaparecer.
39
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Esse poder da lngua , contudo, precisamente o que o poema
no pode denominar. Efetua-o, extraindo-o da msica latente da
lngua, do infinito de seu recurso, da novidade de sua unio. Po-
rm, precisamente porque ao infinito da lngua que o poema se
dirige de modo a orientar-lhe o seu poder rumo reteno de um
desaparecimento, ele no consegue fixar esse prprio infinito.
Digamos que a lngua como potncia infinita ordenada pre-
sena precisamente o inominvel da poesia.
O infinito lingstico a impotncia imanente ao efeito de
poder do poema.
Esse ponto de impotncia, ou do inominvel, representado
por Mallarm pelo menos de duas maneiras.
Em primeiro lugar, pelo fato de que o efeito do poema supe uma
garantia que ele no constitui nem pode validar poeticamente. Essa
garantia a lngua apreendida como ordem ou sintaxe: "Que supor-
te, escuto, nesses contrastes, inteligibilidade?necessria urna garan-
tia - A sintaxe." A sintaxe , no poema, o poder latente em que o
contraste da presena e do desaparecimento (o ser como nada) pode
apresentar-se ao inteligvel. Mas a sintaxe no poetizvel, por mais
que eu exagere sua distoro. Ela opera sem se apresentar.
Em seguida, Mallarm indica claramente que no poderia ha-
ver poema do poema, metapoema. o sentido do famoso "ptyx',
esse nome que nada nomina, que "bibel abolido de inanidade
sonora". Decerto o ptyx seria o nome daquilo de que o poema
capaz: fazer surgir da lngua um vir presena anteriormente im-
possvel. Exceto que, justamente, esse nome no um nome, esse
nome no denomina. De modo que o poeta (o Mestre da lngua)
carrega consigo esse nome falso quando morre:
Pois foi o Mestre buscar lgrimas no Estige
Com esse nico objeto do qual o Nada se enaltece.*
Car le Ma'1treest all puiser des pleurs au Styx / Avec ce seul objet dont le Nant
s'honore.
40
o QUE UM POEMA, E O QUE PENSA DELE A FILOSOFIA
o prprio poema, na medida em que efetua localmente o infi-
Ililo da lngua, permanece inominvel para o poema. O poder da
illlgua, o poema, cuja nica funo manifest-Ia, impotente
I';ILI nome-Ia veridicamente.
l~tambm o que Rimbaud quer dizer quando tacha seu empreen-
(Iilll~nto potico de "loucura". O poema decerto "anota o inex-
Ilrimvel", ou "fixa vertigens". Mas a loucura acreditar que pode
Lllnbm recuperar e nomear o refgio profundo e geral dessas anota-
V)CS,dessas fixaes. Pensamento ativo que no consegue nomear
:;\Ia prpria potncia, o poema permanece infundado para sempre.
I': o que, aos olhos de Rimbaud, aparenta-o ao sofisma: "Eu expli-
(':Iva meus sofismas mgicos com a alucinao das palavras."
Desde o incio de sua obra, Rimbaud observava, ademais, que
('~islc no poema, concebido subjetivamente, uma irresponsabi-
Iidade. O poema como um poder que atravessa a lngua invo-
itllllariamente: "azar da madeira que se v violino", ou "se o cobre
d,'spcrta clarim, no absolutamente culpa sua".*
No fundo, para Rimbaud, o pensamento potico tem por inomi-
Il;ivc! esse prprio pensamento em sua ecloso, em seu advento.
( ) que tambm o advento do infinito na lngua como canto, ou
:;illl'onia que enfeitia a presena: "assisto ecloso de meu pen-
::;lllIcnto: fito-o, escuto-o; ataco com o arco: a sinfonia remexe-se
II:ISprofundezas, ou surge, de um salto, no palco".
I)igamos que o inominvel prprio do matema a consistncia
(l:I lngua, enquanto o inominvel prprio do poema sua potncia.
1\ filosofia vai igualmente colocar-se sob a dupla condio do
1)( ll'ma e do matema, tanto do lado de seu poder de veracidade
(11 1;11110 do lado da impotncia, do inominvel que existe neles.
1\ filosofia teoria geral do ser e do acontecimento, como
('Illrdaados pela verdade. Pois uma verdade o trabalho junto
,11) ser de um acontecimento desvanecido do qual s resta o nome.
Traduo literal de "tant pis pour le bois qui se trouve violon" e "se le cuivre
:;'c"vdlle c1airon, il n'y a rien de sa faute".
41
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
A filosofia reconhecer que toda nominao de um aconte-
cimento, convocando a reteno do que desaparece, toda no mina-
o da presena de acontecimento, de essncia potica.
Ela reconhecer tambm que toda fidelidade ao acontecimento,
todo trabalho junto ao ser guiado por uma prescrio que nada
fundamenta, deve ter um rigor cujo paradigma matemtico, deve
submeter-se disciplina de uma imposio contnua.
Ela conservar, porm, do fato de a consistncia ser o inominvel
do materna, a impossibilidade de uma fundao reflexiva integral,
e do fato de todo sistema comportar um ponto de incio, uma
subtrao aos poderes do real. Um ponto realmente no-forvel
pelo poder de uma verdade, qualquer que seja.
E de a potncia infinita da lngua ser o inominvel do poema, a
filosofia conservar que, por mais forte que possa ser uma interpre-
tao, o sentido que atinge jamais explica a capacidade ao sentido.
Ou, que jamais uma verdade pode entregar o sentido do sentido.
Plato bania o poema porque suspeitava que o pensamento po-
tico no podia ser pensamento do pensamento. Quanto a ns, acolhe-
remos o poema, porque nos evita supor que se possa substituir a
singularidade de um pensamento pelo pensamento deste pensamento.
Entre a consistncia do materna e a potncia do poema, esses
dois inominveis, a filosofia desiste de estabelecer os nomes que
vedam o que se subtrai. Ela , nesse sentido, aps o poema, aps
o materna, e sob a condio pensante deles, o pensamento sem-
pre lacunar do mltiplo dos pensamentos.
A filosofia unicamente o , no entanto, enquanto evita de jul-
garo poema e, principalmente, ainda que por exemplos extrados
deste ou daquele poeta, querendo ministrar-lhe lies polticas.
O que significa na maioria das vezes, e bem nesse sentido que
Piaro compreendia a lio filosfica dada ao poema, exigir a
dissipao de seu mistrio, fixar de antemo limites ao poder da
lngua. O que equivale a forar o inominvel, a "platonizar" contra
o poema moderno. E ocorre at mesmo de grandes poetas pla-
tonizarem nesse sentido. Darei um exemplo.
42
3
UM FILSOFO FRANCS
RESPONDE A UM POETA POLONS
H alguns anos, quando os Estados socialistas comearam a
ruir, um poeta, um verdadeiro poeta, veio do Leste. Reconhecido
pelo seu povo. Reconhecido pelo prmio que, todos os anos, sob
a garantia da neutralidade do Norte, designa solenemente ao mundo
seus Grandes Escritores.
Esse poeta quis nos dar uma lio fraternal. Ns, quem? Ns, as
pessoas do Ocidente, e mais especificamente os franceses, presos
no lao do idioma a nossos poetas mais recentes.
Czeslaw Milosz disse-nos que, desde Mallarm, estvamos, e
o Ocidente conosco, encerrados em um hermetismo sem espe-
rana. Que secramos a fonte do poema. Que a abstrao do
filsofo era como uma glaciao do territrio potico. E que o
Leste, armado de seu grande sofrimento, guardio de sua pala-
vra viva, podia nos devolver o caminho de uma poesia cantada
por todo um povo.
Ele tambm nos disse, esse grande polons, que a poesia do
Ocidente sucumbira a um fechamento e a uma opacidade cuja
origem era um excesso subjetivo, um esquecimento do mundo e
do objeto. E que o poema devia reter e oferecer um conhecimento
dedicado riqueza sem reteno do que se apresenta.
Convidado a dizer o que sentia a respeito daquilo, elaborei
este breve trptico, que dedico a todos os pontos cardeais.
43
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
a) Hermetismo
Mallarm um poeta hermtico? bastante intil negar que
exista uma superfcie enigmtica do poema. Mas a que esse enig-
ma nos convida seno partilha voluntria de sua operao?
Essa idia capital: o poema no nem uma descrio, nem
uma expresso. Tampouco uma pintura comovida da extenso
do mundo. O poema uma operao. O poema nos ensina que o
mundo no se apresenta como uma coleo de objetos. O mundo
no aquilo que coloca objeo ao pensamento. - para as
operaes do poema - aquilo cuja presena mais essencial que
a objetividade.
Para pensar a presena, necessrio que o poema prepare
uma operao oblqua de captura. Somente essa obliqidade des-
tituir a fachada de objetos que compe o engodo das aparncias
e da opinio geral. O procedimento oblquo do poema o que
exige nele entrar, mais do que ser apanhado por ele.
Quando Mallarm pede que se proceda por termos "alusivos,
jamais diretos", trata-se de um imperativo de desobjetivao, para
que advenha uma presena que ele denomina de "noo pura".
Eis o que escreve Mallarm: "O momento da Noo de um objeto
, portanto, o momento da reflexo de seu presente puro nele
mesmo ou de sua pureza presente." O poema concentra-se na
dissoluo do objeto em sua pureza presente, a constituio do
momento dessa dissoluo. O que se batizou de "hermetismo" no
passa do momentneo do poema, momentneo s acessvel por
uma obliqidade, obliqidade assinalada pelo enigma. O leitor deve
envolver-se no enigma para chegar ao ponto momentneo da pre-
sena. Seno o poema no tem efeito.
Na verdade, s lcito falar de hermetismo quando h cincia
secreta, ou oculta, e necessitamos compreender as chaves de uma
interpretao. O poema de Mallarm no pede que se o interprete,
e disso no existe qualquer chave. O poema pede que se entre em
sua operao, e o enigma o pedido em si.
44
UM FilSOFO FRANCS RESPONDE A UM POETA POlONS
A regra simples: envolver-se com o poema, no para saber
do que fala, mas para pensar no que nele acontece. Como o poe-
ma uma operao, tambm um acontecimento. O poema tem
lugar. O enigma superficial a indicao desse ter-lugar, oferece-
nos um ter-lugar na lngua.
Eu oporia de bom grado a poesia, que poetizao do que se
passa, e o poema, que ele prprio o local onde isso se passa,
que uma passagem do pensamento.
Essa passagem do pensamento, imanente ao poema, chama-
da de "transposio" por Mallarm.
Atransposio organiza um desaparecimento, o do poeta: "a obra
pura implica o desaparecimento do poeta na elocuo". Obser-
vemos de passagem como inexato dizer que determinado poe-
ma subjetivo. Mallarm quer o contrrio, um anonimato radical
do sujeito do poema.
A transposio produz, no vazio da linguagem, de forma algu-
ma um objeto, mas uma Idia. O poema um "alar vo tcito de
abstraes". "Alar vo" designa seu movimento sensvel; "tcito",
que toda tagarelice subjetiva eliminada; "abstrao", que surge
no final, uma noo pura, a idia de uma presena. O smbolo
dessa idia ser a Constelao, ou o Cisne, ou a Rosa, ou o Tmulo.
A transposio dispe, enfim, entre o desaparecimento do poeta
na elocuo e a noo pura, a prpria operao, a transposio, o
sentido, que agem de forma independente nas vestes do enigma,
que seu pedido. Ou, como diz Mallarm: "O sentido oculto se
move e dispe, em coro, as folhas."
"Hermetismo" no um bom termo para designar o seguinte:
que o sentido se adquire com o mover do poema, em sua dispo-
sio, e no em seu suposto referente; que esse mover opera
entre o eclipse do sujeito e a dissipao do objeto; que o que o
produz uma Idia.
"Hermetismo", manejado como acusao, a palavra de or-
dem de uma incompreenso espiritual de nosso tempo. Essa pala-
vra de ordem dissimula uma novidade maior: que o poema
45
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
simultaneamente indiferente ao tema do sujeito e do objeto. A ver-
dadeira relao do poema se estabelece entre o pensamento, que
no de um sujeito, e a presena, que ultrapassa o objeto.
Quanto ao enigma da superfcie do poema, ele deveria, de
preferncia, seduzir nosso desejo de entrar nas operaes do poe-
ma. Se cedemos nesse desejo, se a obscura cintilao do verso nos
repele, porque deixamos triunfar em ns um outro querer sus-
peito, no dizer de Mallarm, o de "exibir as coisas em um imper-
turbvel primeiro plano, como camels ativados pela presso do
instante".
b) A quem o poema se dirige?
O poema destina-se, exemplarmente, a ns. Tanto quanto a
matemtica nos destinada. Justamente porque nem o poema,
nem o materna fazem acepo de pessoas, representam, nas duas
extremidades da linguagem, a universalidade mais pura.
possvel que exista uma poesia demagoga, que acredita dirigir-
se a todos porque detm a forma sensvel das opinies do momento.
E possvel que exista uma matemtica abastardada, porque est a
servio das oportunidades do comrcio e da tcnica. Mas essas so
figuras estreitas, que definem as pessoas - aquelas a quem nos diri-
gimos - por seu alinhamento s circunstncias. Se definimos as pes-
soas, igualitariamente, pelo pensamento, e esse o nico sentido
assinalvel da igualdade mais estrita, ento as operaes do poema e
as dedues da matemtica so o paradigma do que se dirige a todos.
Esse "todos" igualitrio chamado de multido por Mallarm,
e seu famoso Livro inacabado tinha como nico destinatrio essa
multido.
A Multido condio da presena do presente. Mallarm indica
com rigor que sua poca est desprovida de presente por motivos
que se devem ausncia de uma multido igualitria: "No existe
Presente, no, no h um presente. Culpa que a Multido assume."
46
UM FILSOFO FRANCS RESPONDE A UM POETA POLONS
Se hoje existe, como o veremos, como ainda teremos de ver,
uma diferena entre Leste e Oeste quanto ao fundamento do poe-
ma, certamente no ao sofrimento que se deve atribu-Io, mas a
que, de Leipzig a Pequim, a multido talvez se declare. Essa decla-
rao ou essas declaraes, histricas, constituem um presente e
talvez modifiquem as condies do poema. Sua operao pode
captar o latente da multido na denominao de um aconteci-
mento. O poema ento possvel como ao geral.
Se, como era o caso do Ocidente na triste dcada de 1980, e
como era o caso no tempo de Mallarm, a multido no se mani-
festa, ento o poema s possvel na forma do que Mallarm
chama de ao restrita.
A ao restrita no altera de forma alguma que o destinatrio
do poema seja a multido igualitria. Mas ela tem por ponto de
partida, em vez do acontecimento, sua ausncia. assim, de seu
mal, de sua ausncia, e no de sua suscitao declarada na multi-
do, que o poema rene material para o surgimento de uma cons-
telao. O poeta deve selecionar em uma situao pobre com o
que montar a comdia sacrifica I de uma grandeza. Suas defeces
mais ntimas, seus lugares mais indiferentes, suas alegrias mais
breves, a ao restrita exige que ele lhes assuma o teatro, anteci-
pando a Idia. Ou, como diz soberbamente Mallarm: "O escritor,
de seus males, drages que acarinhou, ou de um contentamento,
deve instituir para si, no texto, o histrio espiritual."
Se h talvez hoje uma diferena entre o Leste e o Ocidente,
no certamente no ponto de chegada, quanto ao destinatrio
do poema, que sempre e em toda parte, por direito, a Multi-
do. no ponto de partida, nas condies do poema, autoriza-
do, talvez, no Leste, ao geral, obrigada no momento, no
Ocidente, ao restrita. tudo o que tenho condies de con-
ceder a Milosz, supondo-se que suas predies polticas se confir-
mem, o que no garantido.
Essa distino afeta menos a idia que seu material. Separa
menos as operaes do poema que as dimenses da lngua que
47
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
essas operaes colocam em jogo. Ou, para retomar uma catego-
ria de Michel Deguy, trata-se de saber sobre o que se pode dizer,
no mbito do poema, que isto como aquilo. O campo de exer-
ccio do "como", que d origem noo pura, restrito no Oci-
dente, e possivelmente generalizado no Leste.
Toda diferena no poema se estabelece, pois, menos como
diferena entre as lnguas do que como diferena, na lngua, entre
os registros que, neste ou naquele momento, as operaes do
poema so capazes de tratar.
c) Paul Celan
do Leste esse Paul Antschel, nascido em 1920 em Tchernovtsy?
do Ocidente esse Paul Celan, casado com Gisele de Lestrange,
morto em 1970 em Paris, onde vivia desde 1948? da Europa
Central esse poeta de lngua alem? de outro lugar, ou de toda
parte, esse judeu?
O que nos diz esse poeta, o ltimo, acredito de toda uma
poca do poema, cujo profeta mais distante Holderlin, que co-
mea com Mallarm e Rimbaud, e que inclui sem nenhuma dvi-
da Trakl, Pessoa e Mandelstam?
Celan nos diz, em primeiro lugar, que um sentido de pensa-
mento para nossa poca no pode resultar de um espao aberto,
de uma apreenso do Todo. Nossa poca est desorientada e no
tem nome geral. necessrio que o poema (tornamos a encontrar
o tema da ao restrita) se dobre a uma passagem estreita.
Para que o poema passe pela estreiteza do tempo, deve, no
entanto, marcar e romper essa estreiteza por algo frgil e aleatrio.
Nossa poca supe, para que uma Idia advenha, um sentido, uma
presena, a conjuno, nas operaes do poema, da estreiteza en-
trevista de um ato e da fragilidade ao acaso de uma marca. Oua-
mos Celan:
48
UM FILSOFO FRANCS RESPONDE A UM POETA POLONS
Um sentido sobrevm igualmente
Pela vereda mais estreita,
que fratura
a mais mortal de nossas
marcas erigidas. *
Celan diz-nos em seguida que, por mais estreito e aleatrio
que seja o caminho, dele sabemos duas coisas:
Primeiro que, inversamente s declaraes da sofstica mo-
derna, h um ponto fixo. Tudo no passa de deslocamentos de
jogos de linguagem, ou variabilidade imaterial das circunstncias.
O ser e a verdade, mesmo arrancados de qualquer apreenso do
Todo, no desvaneceram. Havemos de encontr-Ios, precariamente
arraigados justo onde o Todo prope seu nada.
Em segundo lugar, sabemos que no somos prisioneiros das
ligaes do mundo. Mais essencialmente, a idia de ligao, ou de
relao, falaciosa. Uma verdade des-ligada, e em direo a
esse desligado, em direo a esse ponto local onde um ligao se
desfaz, que o poema opera, rumo presena.
Ouamos Celan dizer-nos o que fixo, o que resiste e perdura,
e o arrebatamento rumo ao desligado:
O canio, que se enraza aqui, amanh
ainda resistir, para onde quer que sejas,
conforme a vontade de tua alma, arrebatado, ao no-ligado.**
Celan ensina-nos, enfim, na conseqncia do domnio do des-
ligado, que aquilo em que uma verdade se apia no a consis-
tncia, mas a inconsistncia. No se trata de formular juzos corretos,
trata-se de produzir o murmrio do indiscernvel.
Un sens survient aussi / par Ia laie plus troite, / que fracture / Ia plus mortelle
de nos / marques riges. (traduo para o francs de Martine Broda)
Le roseau, qui prend pied ici, demain / tiendra encare, ou que tu sois, / au gr
de ton me, emport, dans le non-li. Ctrad. Martine Broda)
49
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
o que decisivo nessa produo de um murmrio do indis-
cernvel a inscrio, a escrita, ou, para retomar uma categoria
cara a ]ean-Claude Milner, a letra. A letra sozinha no discerne,
mas efetua.
Eu acrescentaria: h vrios tipos de letras. H, de fato, as pe-
quenas letras do materna, mas tambm o "mistrio nas Letras" do
poema; h o que uma poltica leva ao p da letra, h as letras que
formam cartas de amor.
A letra dirige-se a todos. O saber discerne as coisas e impe as
divises. Aletra, que suporta o murmrio do indiscernvel, dirigida
sem diviso.
Todo sujeito passvel de ser atravessado pela letra, todo su-
jeito translitervel. Essa seria minha definio da liberdade no
pensamento, liberdade que igualitria: um pensamento livre
quando transliterado pelas letrinhas do materna, pelas letras
misteriosas do poema, pelo levar as coisas ao p da letra da pol-
tica, e pelas letras da carta de amor.
Para ser livre com respeito ao mistrio nas letras, que o poe-
ma, basta o leitor se dispor s operaes do poema, dispor-se a
elas literalmente. preciso querer sua prpria transliterao.
Esse entrelaamento da inconsistncia, do indiscernvel, da le-
tra e da vontade, Celan denomina-o assim:
Sobre as inconsistncias
apoiar-se:
piparote
no abismo, nos
cadernos de rabiscos
o mundo se pe sussurrar, depende apenas
de ti.*
Sur les inconsistances / s'appuyer: / chiquenaude / dans ]'ablme, dans les /
carnets de gribouillages / le monde se met bruire, il n'en tient / qu' toi. (trad.
Martine Brada)
50
UM FILSOFO FRANCS RESPONDE A UM POETA POLONS
O poema formula aqui uma elevada diretriz para o pensamento:
que a letra, dirigida universalmente, interrompa qualquer consis-
tncia, para que advenha o sussurro de uma verdade do mundo.
Podemos dizer-nos poeticamente uns aos outros: "depende
apenas de ti". Tu, eu, convocados s operaes do poema, ouvi-
mos o murmrio do indiscernvel.
Mas por onde se reconhece o poema? Nossa sorte que, como
sublinha Mallarm, a ltima palavra no nem do Ocidente, nem
do Leste: "Uma poca sabe, por obrigao do ofcio, da existncia
do poeta."
Devemos concordar, no entanto, que s vezes tardamos em ani-
mar nosso pensamento com essa sorte. Milosz, decerto, tambm
tocava nesse ponto. Todas as lnguas recuperaram seu poder em
admirveis poemas, e s demasiado verdade que ns, franceses,
por muito tempo certos de nosso destino imperial, por vezes leva-
mos uns bons anos, ou at alguns sculos, para descobrir isso.
Para homenagear a universalidade do poema nos vrios idio-
mas, direi agora como terminei concebendo a extraordinria
importncia de um poeta portugus, e bem mais distante no pas-
sado, de um poeta rabe. Mostrarei que, tambm desses poetas,
se compem nosso pensamento, nossa filosofia.
51
4
UMA TAREFA FILOSFICA:
SER CONTEMPORNEO DE PESSOA
Fernando Pessoa, que morreu em 1935, s se tornou conhe-
cido na Frana, de maneira um pouco mais ampla, cinqenta anos
depois. Incluo-me nesse atraso escandaloso. Afinal, trata-se de um
dos poetas decisivos do sculo, sobretudo quando se tenta pens-
10 como condio possvel da filosofia.
A pergunta pode ser formulada, de fato, da seguinte maneira: a
filosofia do sculo xx, inclusive a dos ltimos dez anos, conseguiu,
ou soube, colocar-se altura do empreendimento potico de
Fernando Pessoa? Heidegger certamente tentou situar sua espe-
culao sob a tutela pensante de H6lderlin, de Rilke ou de Trakl.
Lacoue-Labarthe est envolvido em uma reviso da tentativa
heideggeriana, reviso cujo desafio H6lderlin e da qual Paul
Celan um operador crucial. Eu prprio desejei que a filosofia
fosse enfim contempornea das operaes poticas de Mallarm.
Mas... e Pessoa? Digamos que Jos Gil empenhou-se no exata-
mente em inventar filosofemas que pudessem acolher e sustentar
a obra de Fernando Pessoa, mas pelo menos em verificar uma
hiptese: a compatibilidade entre essa obra - mais particular-
mente a de lvaro de Campos - e certas proposies filosficas
de Deleuze. Que eu me lembre, Judith Balso foi a nica a envolver-
se em uma avaliao do conjunto da poesia de Pessoa no que diz
respeito questo da metafsica. Mas ela procede a essa avaliao
53
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
no mbito da prpria poesia, e no em um movimento diretamen-
te interno remodelao das teses de filosofia. Deve-se concluir,
portanto, que a filosofia no est, ou no est ainda, no mesmo
nvel de Fernando Pessoa. Ela no pensa ainda altura de Pessoa.
Evidentemente, h de se perguntar: por que deveria estar?
Que "altura" essa que atribumos ao poeta portugus, e quem
impe que se estabelea como tarefa filosofia medir-se com
relao a ela? Responderemos por um desvio que implica a cate-
goria de modernidade. Defenderemos que a linha de pensamento
singular desenvolvida por Fernando Pessoa tal que nenhuma
das figuras estabelecidas da modernidade filosfica est apta a
sustentar sua tenso.
Tome-se como definio provisria da modernidade filosfica
a palavra de ordem de Nietzsche, assumida por Deleuze: dermbada
do platonismo. Digamos com Nietzsche que todo o esforo do
sculo "curar a doena Plato".
No h dvida de que essa palavra de ordem estabelece as
bases de uma convergncia das tendncias heterclitas da filosofia
contempornea. O antiplatonismo , no sentido estrito, o lugar-
comum de nossa poca.
Em primeiro lugar, ele central na linha de pensamento dos
filsofos da vida, ou do poder do virtual, do prprio Nietzsche a
Deleuze, passando por Bergson. Para esses pensadores, a idea-
lida de transcendente do conceito dirigida contra a imanncia
criadora da vida: a eternidade do verdadeiro uma fico mortfera,
que separa cada sendo daquilo que capaz segundo sua prpria
diferenciao energtica.
O antiplatonismo , contudo, igualmente ativo na tendncia opos-
ta, a das filosofias gramaticistas e da linguagem, todo esse vasto
aparato analtico marcado por nomes como Wittgenstein, Carnap
ou Quine. Para essa corrente, a suposio platnica da existncia
efetiva das idealidades e da necessidade de uma intuio intelec-
tual ao princpio de qualquer conhecimento puro contra-senso.
Pois o "h" em geral s composto de dados sensveis (dimenso
54
UMA TAREFA FILOSFICA
empirista) e da organizao desses dados por esse verdadeiro
operador transcendental sem sujeito que a estmtura da lingua-
gem (dimenso lgica).
Sabe-se, ademais, que Heidegger e toda a corrente hermenutica
que o reivindica vem na operao platnica, que impe ao pen-
samento do ser o recorte primeiro da Idia, o comeo do esqueci-
mento do ser, o envio do que h de niilista na metafsica, em
ltimo lugar. A Idia j recobrimento da ecloso do sentido do
ser pela supremacia tcnica do sendo, tal como disposto e arrazoado
por um entendimento matemtico.
Os prprios marxistas ortodoxos no nutriam nenhuma estima
por Plato, tratado indulgentemente pelo dicionrio da Academia
das Cincias da finada URSScomo idelogo dos proprietrios de
escravus. Para eles, Plato encontrava-se na origem da tendncia
idealista na filosofia, e preferiam de longe Aristteles, mais sens-
vel experincia, mais propenso ao exame pragmtico das socie-
dades polticas.
Os antimarxistas obstinados dos anos 1970 e 1980, os adeptos
da filosofia poltica democrtica e tica, os "novos filsofos", como
Glucksmann, esses viam em Plato - que quer submeter a anar-
quia democrtica ao imperativo da transcendncia do Bem, pela
interveno desptica do rei-filsofo - o tpico mestre-pensador
totalitrio.
Isso mostra at que ponto, qualquer que seja a direo onde a
modernidade filosfica procura suas referncias, encontrar-se-
sempre o estigma obrigatrio da "derrubada de Plato".
Nossa questo relativa a Pessoa torna-se, ento, a seguinte: o
que ocorre com o platonismo, em suas diferentes acepes, em
sua obra potica? Ou, mais precisamente: a organizao da poesia
como pensamento em Pessoa moderna considerando-se a der-
mbada do platonismo?
Lembremos que uma singularidade fundamental da poesia de
Fernando Pessoa que ela prope as obras completas de quatro
poetas, e no de um s. o famoso dispositivo da heteronmia.
55
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Sob os nomes de Alberto Caeiro, lvaro de Campos, Ricardo Reis e
Pessoa-ele-mesmo, dispomos de quatro conjuntos de poemas que,
embora escritos pela mesma mo, so to diferentes quanto aos
motivos dominantes e ao compromisso de linguagem, que com-
pem por si s uma configurao artstica completa.
Dir-se-, ento, que a heteronmia potica uma inflexo sin-
gular do antiplatonismo e que nesse sentido que participa de
nossa modernidade?
Nossa resposta ser no. Se Fernando Pessoa representa, para
a filosofia, um desafio singular, se sua modernidade ainda est
mais nossafrente, e, sob certos aspectos, ainda se encontra inex-
pIorada, isso ocorre porque seu pensamento-poema abre um ca-
minho que consegue no ser nem platnico, nem antiplatnico.
Pessoa define poeticamente, sem que at hoje a filosofia lhe tenha
dado o devido valor, um local de pensamento propriamente sub-
trado da palavra de ordem unnime da derrubada do platonismo.
Um primeiro exame parece mostrar, contudo, que Pessoa an-
tes transversal a todas as tendncias do antiplatonismo do sculo,
que ele as atravessou, ou antecipou-as.
Encontra-se no heternimo lvaro de Campos, sobretudo nas
principais odes, e isso o que autoriza a hiptese de Gil, a aparn-
cia de um vitalismo desenfreado. A exasperao da sensao parece
ser o procedimento fundamental da investigao potica, e a expo-
sio do corpo a seu desmembramento multiforme evoca a identi-
dade virtual do desejo e da intuio. Uma idia genial de Campos
tambm mostrar que a oposio clssica do maquinismo e do im-
pulso vital bem relativa. Campos o poeta do maquinismo mo-
derno e das grandes metrpoles, ou da atividade comercial, bancria,
lisineira, concebidos como dispositivos de criao, como analogias
naturais. Bem antes de Deleuze, ele pensa que h no desejo uma
espcie de univocidade maquinal, cuja energia o poema deve cap-
tar sem sublim-Ia ou idealiz-Ia, nem tampouco dispers-Ia em um
equvoco ambguo, mas nela apreender diretamente os fluxos e os
cortes qual uma espcie de furor do ser.
56
UMA TAREFA FILOSFICA
J, afinal, a escolha do poema como veco lingstica do
pensamento no intrinsecamente antiplatnica? Pois, tal como
o utiliza, Pessoa instala o poema nos procedimentos de uma
lgica distendida, ou invertida, que no parece compatvel com
a clareza da dialtica idealista. Assim, como mostrou Jakobson
em belssimo artigo, o emprego sistemtico do oxmoro desequi-
libra todas as atribuies predicativas. Como chegar Idia se
quase qualquer termo pode receber quase qualquer predicado
na forte coerncia do poema, principalmente aquele que tem
com o termo que afeta unicamente uma relao de contra-
convenincia? Da mesma maneira, Pessoa o inventor de um
uso quase labirntico da negao, que se distribui ao longo do
verso de tal maneira que jamais se tem certeza de poder fixar o
termo negado. Pode-se dizer que h, bem ao contrrio do uso
estritamente dialtico da negao em Mallarm, uma negao
flutuante, destinada a impregnar o poema com um equvoco
constante entre a afirmao e a negao, ou, antes, com uma
espcie muito reconhecvel de reticncia afirmativa, que autoriza
finalmente que as mais retumbantes manifestaes da fora do
ser sejam corrodas pelas mais insistentes retrataes do sujeito.
Pessoa produz assim uma subverso potica do princpio da no-
contradio. Mas tambm, especialmente nos poemas de Pessoa-
ele-mesmo por ele mesmo, recusa o princpio do terceiro excludo.
O encaminhamento do poema de fato diagonal, aquilo de que
ele trata no nem cortina de chuva, nem catedral; nem a coisa
nua, nem seu reflexo; nem o enxergar direto na luz, nem a opa-
cidade de um vidro. O poema est ento a para criar esse "nem,
nem", e sugerir que outra coisa ainda, que qualquer oposio
do tipo sim/no deixa escapar.
Como seria platnico esse poeta que inventa uma lgica no
clssica, uma negao fugidia, uma diagonal do ser, umainsepa-
rabilidade dos predicados?
Ademais, seria possvel sustentar que, ao mesmo tempo, ou
quase, que Wittgenstein (que ele ignora), Fernando Pessoa prope
57
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
a forma mais radical possvel de identificao entre o pensamento
e os jogos de linguagem. Pois o que a heteronmia? Jamais esque-
amos que sua materialidade no da ordem do projeto ou da
Idia. entregue escrita, diversidade efetiva dos poemas. Como
diz Judith Balso, a heteronmia existe em primeiro lugar no em
poetas, mas em poemas. A partir de ento trata-se de fazer existir
de fato jogos poticos dspares, com regras prprias e coerncia
interna irredutvel. E podemos defender que por sua vez essas
regras so cdigos emprestados, de modo que haveria algo como
uma composio ps-moderna do jogo do heternimo. No
Alberto Caeiro resultado do trabalho equvoco entre verso e pro-
sa, tal como j queria Baudelaire? No escreve ele "fao prosa com
meus versos"? Existe nas odes de lvaro de Campos uma espcie
de Whitman falso, e, nas de Ricardo Reis, como nas coluna tas do
arquiteto BofiH, um falso antigo assumido. Essa combinao de
jogos irredutveis e de mmesis em trompe-l'a!il no o cmulo
do antiplatonismo?
Ademais, como Heidegger, Pessoa prope um passo atrs pr-
socrtico. A afinidade entre Alberto Caeiro e Parmnides no
deixa dvidas. Pois o que Caeiro estabelece como dever do poe-
ma restituir uma identidade do ser anterior a qualquer organi-
zao subjetiva do pensamento. A palavra de ordem que se
encontra em um de seus poemas - "no precisar de um corre-
dor do pensamento" - equivale a um "deixar-ser" totalmente
comparvel crtica heideggeriana do motivo cartesiano da subje-
tividade. A funo da tautologia (uma rvore uma rvore e
nada alm de uma rvore, ete.) poetizar a vinda imediata da
Coisa sem que seja preciso passar pelos protocolos, sempre cr-
ticos ou negativos, de sua apreenso cognitiva. justamente o
que Caeiro chama de uma metafsica do no-pensamento, no
fundo muito prxima da tese de Parmnides, segundo a qual o
pensamento nada mais do que o prprio ser. o mesmo que
dizer que Alberto Caeiro dirige toda a sua poesia contra a idia
platnica como mediao do conhecer.
58
UMA TAREFA FILOSFICA
E, finalmente, se verdade que Pessoa tudo menos socialista
ou marxista, no menos verdade que sua poesia uma crtica
poderosa da idealizao. Essa crtica explcita em Caeiro, que
no cessa de zombar dos que vem na lua no cu outra coisa
que no a lua no cu, os "poetas doentes". Mas devemos ser
sensveis, na obra inteira de Pessoa, a um materialismo potico
muito particular. Embora seja um grande mestre da imagem sur-
preendente, esse poeta reconhecido primeira leitura por uma
espcie de clareza quase seca do dizer potico. porque, alm
disso, ele consegue integrar no prprio encanto potico uma dose
excepcional de abstrao. Digamos que, constantemente preo-
cupado com que o poema s diga exatamente o que diz, Pessoa
prope-nos uma poesia sem aura. Jamais se deve procurar em
sua ressonncia, em sua vibrao lateral, e sim na exatido lite-
ral, o devir do pensamento-poema. O poema de Pessoa no pro-
cura seduzir ou sugerir. Por mais complexa que seja sua
organizao, ele para si mesmo, de maneira cerrada e compacta,
sua prpria verdade. Digamos que, contra Plato, Pessoa parece
dizer-nos que a escrita no uma reminiscncia obscura, sempre
imperfeita, de um alhures ideal. Que, ao contrrio, ela oprprio
pensamento, tal qual. De modo que a sentena materialista de
Caeiro "ser uma cousa no ser suscetvel de interpretao" gene-
raliza-se em todos os heternimos: um poema uma rede material
de operaes, um poema o que jamais deve ser interpretado.
Fernando Pessoa, portanto, poeta completo do antiplatonismo?
No essa a minha leitura, de forma alguma. Pois os sinais apa-
rentes de um percurso, pelo poeta, de todas as posturas antipla-
tnicas do sculo no conseguiriam dissimular um face a face com
Plato, nem que a vontade fundadora de Pessoa est bem mais
prxima do platonismo do que das desconstrues gramaticais de
que nossa poca se vangloria. Daremos algumas provas dessa
orientao.
59
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
1. Um sinal quase infalvel pelo qual se reconhece o esprito
platnico a promoo do paradigma matemtico, tanto no que
diz respeito ao pensamento do ser quanto no que depende dos
arcanos do verdadeiro. Ora, Pessoa estabelece explicitamente para
si o projeto de dispor o poema apropriao da matemtica do
ser. Ou melhor: afirma a identidade fundamental da verdade mate-
mtica e da beleza artstica, pois "o binmio de Newton to belo
como a Vnus de Milo". E quando ele acrescenta que o problema
que poucas pessoas conhecem essa identidade, engaja o poema
nessa instruo platnica essencial: conduzir o pensamento igno-
rante rumo certeza imanente de uma reciprocidade ontolgica
entre o verdadeiro e o belo.
Conseqentemente, pode-se dizer do projeto de pensamento
de poema de Pessoa: o que uma metafsica moderna? Mesmo
que esse projeto assuma a forma paradoxal, cujos desvios infinita-
mente sutis ]udith Balso explora, de uma "metafsica sem meta-
fsica". Mas, afinal de contas, em seu litgio com os pr-socrticos,
PIato tambm no desejava edificar uma metafsica subtrada da
metafsica, ou seja, da primazia da fsica, da natureza?
Sustentemos que a sintaxe de Fernando Pessoa seja o instru-
mento de tal projeto. Pois h nesse poeta, como sob as imagens e
as metforas, uma maquinao sinttica constante, cuja comple-
xidade probe que o domnio sensvel ea emoo natural perma-
neam soberanas. Sob esse aspecto, de qualquer forma, Pessoa
assemelha-se a Mallarm: muitas vezes, a frase deve ser recons-
truda, lida uma segunda vez, para que a Idia atravesse e trans-
cenda a imagem aparente. Porque Pessoa quer dotar a lngua, por
mais variada, surpreendente e sugestiva que seja, de uma exati-
do subterrnea, que no hesitaremos em declarar algbrica, e
nesse ponto comparvel aliana, nos dilogos de Plato, de um
encanto singular, de uma seduo literria constante e de uma
dureza argumentativa implacvel.
2. Mais platnica ainda o que poderamos chamar de base
ontolgica arquetpica do recurso ao visvel. Pois esse recurso no
60
UMA TAREFA FilOSFICA
nos deixa ignorar jamais que, definitivamente, no so de singulari-
dades sensveis que se fala no poema, mas de seu tipo, de seu
ontotipo. Esse ponto desenvolvido de maneira grandiosa no in-
cio de "Ode martima", um dos maiores poemas de lvaro de Cam-
pos (e de todo o sculo), quando o cais real e presente manifesta
que ele o Grande Cais intrnseco. Ele est onipresente em todos
os heternimos e tambm no livro em prosa do "semi-heternimo"
Bernardo Soares, o doravante muito conhecido Livro do desassossego:
a chuva, a mquina, a rvore, a sombra, a passante so a poetizados
por meios bem variados na constante direo da Chuva, da Mquina,
da rvore, da Sombra, da Passante. Mesmo o sorriso do dono da
tabacaria, no final de um outro poema famoso de lvaro de Campos,
s ocorre em direo a um Sorriso Eterno. E a fora do poema de
jamais separar essa direo da presena, eventualmente minscula,
que a sua origem. A Idia no separada da coisa, no transcen-
dente. Mas tampouco , como para Aristteles, uma forma que
prescreve e ordena uma matria. O que o poema declara que as
coisas so idnticas sua Idia. por isso que a nominao do
visvel completa-se como percurso de uma rede de tipos de seres,
percurso do qual a sintaxe o fio condutor. Exatamente como a
dialtica platnica conduz-nos ao ponto em que o pensamento da
coisa e a intuio da Idia so inseparveis.
3. A prpria heteronmia, concebida como dispositivo de pen-
samento, e no como drama subjetivo, compe uma espcie de
lugar ideal, onde as correlaes e as disjunes entre figuras evo-
cam as relaes entre os "gneros supremos" no Sofista de Plato.
Se, como possvel fazer, identifica-se Caeiro figura do mesmo,
v-se de imediato que Campos exigido como figura do outro. Se
lvaro de Campos como alteridade de si fugidia e dolorosa, expo-
sio fragmentao e polimorfia, identificado ao informe, ou
"causa errante" do Timeu, v-se que ele pede Ricardo Reis como
autoridade severa da forma. Quando se identifica Pessoa-ele-mesmo
como poeta da equivocidade, do intervalo, do que no nem ser
nem no ser, compreende-se que seja o nico a no ser o discpulo
61
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
de Alberto Caeiro, o qual exige do poema a mais rigorosa univo-
cidade. E se Alberto Caeiro, pr-socrtico moderno, assume o rei-
no do finito, porque lvaro de Campos far a energia do poema
fugir ao infinito. Assim, a heteronmia uma imagem possvel do
lugar inteligvel, dessa composio do pensamento no jogo alter-
nado de suas prprias categorias.
4. Mesmo o projeto poltico de Pessoa assemelha-se ao que Plato
expe na Repblica. Pessoa de fato escreveu uma coletnea inti-
tulada Mensagem, consagrada ao destino de Portugal. Ora, no se
trata, na realidade, nesses poemas, nem de um programa adaptado
s questes circunstanciais da vida portuguesa, nem de um exame
dos princpios gerais da filosofia poltica. Trata-se de uma recons-
truo ideal, a partir de uma sistemtica dos smbolos. Da mesma
forma que Plato quer fixar idealmente a organizao e a legitimi-
dade de uma cidade grega universalizvel, determinada, embora
inexistente, Pessoa quer suscitar poeticamente a idia precisa de
um Portugal ao mesmo tempo singular (pela retomada de sua hist-
ria, vangloriando-a) e universal (pelo anncio de sua capacidade
ideal de ser o nome de um "Quinto Imprio"). E, da mesma forma
como Plato tempera a solidez ideal de sua reconstruo com a
indicao de um ponto de fuga (a corrupo da cidade justa
inevitvel, pois o esquecimento do Nmero que a fundou acarre-
tar a supremacia demaggica da ginstica com relao ao ensino
das artes), Pessoa, suspendendo o devir de sua idia nacional po-
tica ao acaso do retorno do rei oculto, envolve todo o seu empreen-
dimento, alis fortemente arquitetado, na bruma e no enigma.
Deve-se ento concluir por uma espcie de platonismo de
Fernando Pessoa? No mais do que se deve subsumi-lo sob o
<llltiplatonismo do sculo. A modernidade de Pessoa e ele colocar
em dvida a pertinncia da oposio platonismo/antiplatonismo:
a tarefa do pensamento-poema no nem a vassalagem ao pla-
tonismo, nem a sua derrubada.
62
UMA TAREFA FILOSFICA
E o que ns, filsofos, ainda no compreendemos inteira-
mente. Da no pensarmos ainda altura de Pessoa. O que signi-
ficaria: admitir a coextenso do sensvel e da Idia, mas nada
conceder transcendncia do Uno. Pensar que s h singularida-
des mltiplas, mas nada extrair delas que se parea com empirismo.
a esse atraso com relao a Fernando Pessoa que podemos
atribuir o sentimento muito estranho que sentimos ao l-Io, e que
vem a ser que ele basta a si mesmo. Quando comeamos com
Pessoa, convencemo-nos depressa de que somos seus prisionei-
ros para sempre, que intil ler outros livros, que tudo est ali.
claro que se pode a princpio imaginar que essa convico se
deve heteronmia. Mais do que escrever uma obra, Fernando
Pessoa exibiu toda uma literatura, uma configurao literria em
que todas as oposies, todos os problemas do pensamento do
sculo vm se inscrever. No que ultrapassou muito o projeto
mallarmeano do Livro. Pois a fraqueza desse projeto foi manter a
soberania do Uno, do autor, mesmo que esse autor se ausentasse
do Livro at se tornar annimo. O anonimato de Mallarm per-
manece prisioneiro da transcendncia do autor. Os heternimos
(Alberto Caeiro, lvaro de Campos, Ricardo Reis, Fernando Pes-
soa-ele-mesmo, Bernardo Soares) opem-se ao annimo, por no
pretenderem nem ao Uno, nem ao Todo, mas instalam originaria-
mente a contingncia do mltiplo. Da comporem, melhor que o
Livro, um universo. Pois o universo real ao mesmo tempo ml-
tiplo, contingente e intotalizvel.
De modo ainda mais profundo, nossa captura mental por Pessoa
resulta, contudo, de a filosofia no ter absolutamente esgotado
sua modernidade. De modo que lemos esse poeta e no conse-
guimos dele nos desligar, ainda que nele descobrimos um impera-
Iivo ao qual ainda no sabemos como nos submeter: enveredar
pelo caminho que dispe, entre Plato e o anti-Plato, no espao
(Iue o poeta abriu para ns, uma verdadeira filosofia do mltiplo,
( 10 vazio, do infinito. Uma filosofia que faa afirmativamente justia
:\ esse mundo que os deuses abandonaram para sempre.
63
5
UMA DIALTICA POTICA:
h I ,
LABID BEN RABI A E MALLARME
No acredito muito na literatura comparada. Mas acredito na
universalidade dos grandes poemas, mesmo oferecidos na aproxi-
mao quase sempre desastrosa que a traduo. E a "compara-
o" pode ser uma espcie de verificao experimental dessa
universalidade.
Minha comparao diz respeito a um poema de lngua rabe e
um de lngua francesa. Ela impe-se a mim desde que descobri o
poema rabe, tarde, tarde demais, pelas razes que mencionei.
Esses dois poemas revelam-me uma proximidade no pensamento,
como que reanimada e ao mesmo tempo abafada pela imensido
de um afastamento.
O poema de lngua francesa Coup de ds [Um lance de da-
dos J, de Mallarm. Lembremos que nesse poema se v, em uma
superfcie martima annima, um velho Mestre agitar irrisoriamente
a mo, que contm os dados, e hesitar por tanto tempo antes de
lan-Ias que parece submergir sem ter tomado uma deciso so-
bre o seu gesto. Diz, ento, Mallarm:
Nada, da memorvel crise onde o acontecimento se realizou
em vista de todo resultado nada humano, ter acontecido (uma
elevao ordinria verte a ausncia) que no o lugar, marulho
65
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
inferior qualquer como para dispersar o ato vazio abruptamente
que seno por sua mentira fundaria a perdio nessas para-
gens do vago em que toda realidade se dissolve.*
E, no entanto, na ltima pgina, surge no cu uma Constela-
o, que como o nmero celeste daquilo de que jamais ter
havido determinao aqui embaixo.
O poema de lngua rabe uma das grandes odes ditas pr-
islmicas, uma mu 'allaqa atribuda a Labid ben Rabi'a, que me
chega na traduo para o francs de Andr Miquel. Esse poema
tambm nasce da constatao de uma aniquilao radical. Desde
o primeiro verso, proclama: "Erradicados, acampamentos de um
dia e de sempre." O poema nasce do fato de que ao retomar ao
acampamento, o advinho s encontra a volta do deserto. Aqui,
tambm, a nudez do lugar parece ter engolido toda a existncia,
real e simblica, que supostamente deveria povo-Ia. "Vestgios!
Todos fugiram! Vazia, deixada s, a terra!", diz o poeta. Ou ainda:
"Lugares outrora plenos, lugares nus, abandonados pela manh, /
Fossos inteis, estopas largadas."
Por uma dialtica muito sutil que no reconstituirei aqui, em
que os animais do deselto desempenham um papel metafrico
central, o poema encaminha-se, porm, para o elogio da linha-
gem, do cl, e suscitar, no final, como aquilo a que estava desti-
nado o vazio inicial, a figura do mestre da escolha, e da lei:
Ainda se vem os cls reunidos confiarem-se
A um de ns, que decide e impe seus pontos de vista.
Ele garante o direito aos da tribo,
Distribui, diminui ou aumenta, o nico mestre
Rien, de Ia memrable crise ou se fOt I'vnement accompli en vue de tout
rsultat nul humain, n'aura eu lieu (une lvation ordinaire verse l'absence) que
le lieu, infrieur clapotis quelconque comme pour disperser l'acte vide abruptement
qui sinon par son mensonge eGt fond Ia perdition dans ces parages du vague en
quoi toute ralit se dissout.
66
UMA DIALTICA POTICA
Das escolhas. Bom, incitando todos os outros a s-Ia,
Clemente, ele colhe as virtudes mais raras.*
Assim, em Mallarm, nota-se a impossibilidade de o mestre
fazer uma escolha; h o fato de que, segundo o poema, "O Mes-
tre hesita, cadver pelo brao afastado do segredo que detm,
antes de jogar como manaco perfeito a partida em nome das
ondas." E dessa hesitao que resulta a princpio a ameaa de
que nada teve lugar a no ser o lugar, depois o nmero estelar.
Para Lab'id ben Rabi'a, do lugar nu que se parte, da ausncia,
do completo desaparecimento desrtico. E dali se extrai o recur-
so de evocar um mestre cuja virtude a escolha justa, a deciso
aceitvel por todos.
Esses poemas so separados por treze sculos: seu contexto ,
para o primeiro, o salo burgus da Frana imperial, para o outro,
o nomadismo das grandes civilizaes do deserto da Arbia. Suas
lnguas no so de mesma ascendncia, mesmo longnqua. O afas-
tamento quase sem conceito.
E ainda assim! Admitamos por um instante que, para Mallarm,
a Constelao que surge imprevisivelmente aps o naufrgio do
mestre seja um smbolo do que ele chama da Idia, ou a verdade;
admitamos tambm a existncia de um mestre justo, que saiba,
diz o poeta, dar segurana aos humanos, fazer abundar e perdurar
:1 parcela de todos, "construir para ns uma casa altaneira", sim,
:Idmitamos tambm que de um tal mestre que um povo capaz,
certamente, de justia e de verdade. Ento, vemos que os dois
poemas, em e por seu afastamento incomensurvel, falam-nos um
(' outro de uma nica e singular questo: quais as relaes do
lugar, do mestre e da verdade? Por que necessrio o lugar ser o
lugar de uma ausncia, ou o lugar nu, que s o ter-lugar do
Toujours on voit les clans assembls s'en remettre / A I'un de nous, qui tranche
et impose ses vues. / 11assure leur droit ceux de Ia tribu, / Rpartit, diminue ou
augmente, est seul maltre / Des choix. Bon, incitant tous les autres l'tre, /
Clment, il fait moisson des plus rares vertus.
67
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
lugar, para que possa ser pronunciado o ajustamento exato da jus-
tia, ou da verdade, e do destino do mestre que a sustenta?
O poema do nmade diante do acampamento suprimido e o do
letrado ocidental que constri a quimera de um eterno lance de
dados sobre o Oceano sobrepujam seu imenso afastamento no ponto
da questo que os obseda: o mestre da verdade deve atravessar a
defeco do lugar para o qual, ou a partir do qual, h verdade.
Deve apostar o poema o mais prximo de uma revanche absoluta
da indiferena do universo. Ele s pode dar chance potica a uma
verdade onde talvez haja apenas deserto, onde haja apenas abismo.
Onde nada teve nem ter lugar. o mesmo que dizer que o mestre
deve arriscar o poema exatamente onde o expediente do poema
parece ter desaparecido. o que a ode de Lab'dben Rabi'a diz com
extraordinria preciso. Nele se compara, de fato, o acampamento
desaparecido a uma "escrita erodida no segredo da pedra". Nele se
estabelece uma correspondncia direta entre os ltimos vestgios
do acampamento e um texto escrito na areia:
Do campo resta um desenho desnudado pelas guas,
Como um texto cujas linhas a pena reavivou.*
O poeta chega a declarar que o apelo potico em direo
ausncia no pode realmente encontrar sua linguagem:
Para que chamar
Uma eternidade surda, de linguagem indistinta?**
Fica portanto completamente claro que a experincia do lugar
nu e da ausncia ao mesmo tempo a de um desvanecimento
provvel do texto ou do poema. A chuva e a areia vo dissolver e
rasurar tudo.
Du camp reste un dessin mis nu par les eaux, / Comme un texte olI Ia plume
a raviv les lignes.
** A quoi bon appeler / Une terrut sourde, au langage indistinct?
68
UMA DIALTICA POTICA
Em termos bem prximos, Mallarm evoca, porm, "essas pa-
ragens do vago onde toda realidade se dissolve" e, tratando-se do
mestre, a quase certeza de um "naufrgio direto do homem, sem
nau, em qualquer lugar vo".
Nossa questo conjunta fica ento mais precisa: se a defeco
do lugar o mesmo que a defeco da linguagem, qual a experin-
cia paradoxal que liga a essa defeco o par potico do mestre e
da verdade?
A ode rabe e o poema francs fornecem-nos, certamente, duas
verses ou duas articulaes dessa questo.
Para Lab'd ben Rabi'a, a experincia desltica do acampamento
suprimido e da lngua impotente conduz restituio do mestre,
sua suscitao, poder-se-ia quase dizer. Conduz a ela em dois tem-
pos. Em primeiro lugar, um tempo nostlgico, que se baseia na figura
da Mulher, nico devaneio altura ao mesmo tempo da ausncia e
dos vestgios que a areia e a chuva apagam como a um texto.
Tua nostalgia rev as mulheres que se vo,
Os palanquins, abrigos de algodo, as tapearias
Que l estalam, os finos gales
Sobre o bero de madeira que de sombra se envolve.*
Em um segundo tempo, uma longa reconstituio de energia
transita pela evocao dos animais de carreira do nmade, camela
ou jumento, e das feras com as quais se parecem, lobos e lees.
como se, a partir dessa energia evocada, se compusesse o bra-
so da tribo.
Ao centro desse braso viro o mestre e a justia. O encami-
nhamento potico do pensamento faz-se do vazio nostalgia
desejante, do desejo energia do movimento, da energia ao bra-
so, e do braso ao senhor. Esse pensamento coloca a princpio
Ta nostalgie revoit les femmes qui s'en vont, / Les palanquins, abris ele coton, les
tentures / Qui c1aquent l-dessus, les fines chamarrures / Sur le berceau de bois
qui d'ombre s'enveloppe.
69
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
no Aberto a retirada de todas as coisas, mas abre a prpria retirada,
porque, evoca das segundo sua ausncia, as coisas tm uma ener-
gia potica sem precedente, e o mestre vem selar essa energia
liberada. A verdade , ento, o que um desejo pode exaltar quan-
do ele habitou e investiu a angstia do desaparecimento.
O tema de Mallarm articula a questo de outra maneira. O lugar
vazio assombrado pelos vestgios de um naufrgio, e o prprio
mestre j foi quase engolido. No , como na ode, uma testemunha
debruada sobre a ausncia; tomado ou capturado pelo desapa-
recimento. Como eu disse, ele hesita em lanar os dados, faz o
gesto e o no-gesto equivalerem-se. E ento surge a Verdade, como
um lance de dados ideal inscrito no cu noturno. Decerto dever-
se-ia dizer: a retirada de todas as coisas que primordial, inclu-
sive a do mestre. Para que advenha o Aberto, necessrio que a
retirada seja de tal forma que agir ou no agir, lanar os dados ou
no, sejam disposies equivalentes. O que exatamente a anulao
de qualquer domnio, pois, como diz a ode de maneira exemplar,
um mestre aquele que o nico mestre da escolha. Para Mallarm,
a funo do mestre fazer a escolha e a no-escolha equivalerem-
se. Ento suporta at o fim a nudez do local. Esobrevm a verdade,
totalmente annima, sobre o lugar desertado.
Para recapitular, seria possvel pensar o seguinte:
1. S h verdade possvel sob a condio de uma travessia do
lugar da verdade como lugar nulo, abandonado, desrtico. Toda
verdade corre o risco de que s haja o lugar indiferente, a areia, a
chuva, o oceano, o abismo.
2. O sujeito do dizer potico o sujeito dessa experincia ou
desse risco.
3. Pode ser ou sua testemunha, sendo aquele que volta ao
lugar onde tudo desapareceu, ou um sobrevivente transitrio da
supresso.
4. Se for testemunha, ele obrigar a lngua a animar-se a partir
do vazio, a partir de sua prpria impotncia, at suscitar a figura
intensa do mestre que ele assim se ter tornado.
70
UMA DIALTICA POTICA
5. Se for sobrevivente, esforar-se- para fazer que a ao e a
no-ao sejam impossveis de serem decididas, ou, ainda, para
fazer que, nele, o ser seja estritamente idntico ao no-ser. Ento
a Idia vir, annima.
6. Aparentemente, portanto, h duas respostas possveis para
nossa questo relativa ligao do lugar, do mestre e da verdade.
Ou a verdade resulta do fato de o lugar, experincia do
vazio e da ausncia, suscitar nostalgicamente, e depois ativamente,
a fico de um mestre que capaz da verdade.
Ou a verdade resulta de o mestre ter desaparecido no anoni-
mato do lugar vazio e ter, em suma, se sacrificado para que exista
a verdade.
No primeiro caso, o vazio do lugar, a experincia da angstia
criam uma conjuno do mestre e da verdade.
No segundo, o vazio do lugar cria uma disjuno do mestre
c da verdade: o mestre desaparece no abismo, e a verdade,
absolutamente impessoal, surge como acima desse desapare-
cimento.
Seria possvel dizer que a fora do segundo caminho, o de
Mallarm, justamente separar a verdade de qualquer parti-
cularidade do mestre. Para falar como na psicanlise, uma ver-
(bde sem transferncia.
Ela comporta, porm, uma dupla fraqueza.
Uma fraqueza subjetiva, pois se trata de uma doutrina do
s:lcrifcio. O mestre permanece, em suma, cristo, e deve desapa-
I"(Tcrpara que surja a verdade. Mas um senhor sacrifical o que
11()5convm?
Uma fraqueza ontolgica, porque h finalmente duas cenas,
(i( )i5registros do ser. H o lugar ocenico abissal e neutro, onde o
,1',('5[0do mestre naufraga. E h, acima, o cu, onde surge a Cons-
I( '1:1~:o, e que , diz Mallarm, "talvez em altitude, to longe quanto
\1111 local fundindo-se com o alm", Em outras palavras, Mallarm
Ill:\Illl~lllUmdualismo ontolgico e uma espcie de transcendncia
I ll:lttll1ica da verdade.
71
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Tratando-se do poema de Labld ben Rabi'a, foras e fraquezas
filosficas distribuem-se de uma forma completamente diferente.
A grande fora manter estritamente um princpio de imanncia.
O expediente de suscitao cio mestre bem no centro do braso
constitudo poeticamente a partir do vazio do lugar. como uma
maneira de desdobrar essa "escrita desgastada", esse "texto cujas
linhas a pena reavivou", que o poeta experimenta quando volta
ao acampamento abandonado. Jamais teremos uma segunda cena,
um outro registro do ser. Jamais teremos uma exterioridade trans-
cendente. At o mestre , diz o poema, "um de ns", ele no est
alm, no a Constelao de Mallarm.
Por outro lado, esse mestre no de forma alguma sacrifical
ou paleocristo. Ao contrrio, ele est estabelecido na justa medi-
da das qualidades terrestres. bondade e clemncia; ou melhor,
ele "organiza os dons da natureza"; harmoniza-se, portanto, com
essa doao. O mestre que a ode suscita, por ser um mestre ima-
nente, nomeia a concordncia comedida ela natureza e da lei.
Mas a dificuldade que a verdade permanece cativa da figura
do mestre, no se deixa separar dele. A felicidade da verdade
uma nica e mesma coisa que a obedincia ao mestre. Como diz
o poema: "Seja feliz com os favores do mestre soberano!" Mas
possvel ser feliz com aquilo que nos distribudo segundo uma
soberania? Em todo caso, a verdade permanece ligada aqui trans-
ferncia ao mestre.
E chegamos ao fulcro de nosso problema.
Estamos sendo convocados a alguma escolha radical entre duas
orientaes do pensamento? Uma, separando verdade e domnio,
exigiria a transcendncia e o sacrifcio. Poder-se-ia a querer a
verdade sem amar o mestre, mas esse querer inscrever-se-ia alm
da Terra, em um lugar ligado morte. A outra n;[o exigiria de ns
nem sacrifcio, nem transcendncia, mas custa de uma conjun-
o inelutvel entre verdade e domnio. Nelas, seria possvel amar
a verdade sem deixar a Terra e sem nada ceder :[ morte. Mas seria
preciso amar o mestre de maneira incondicional.
72
UMA DIALTICA POTICA
exatamente essa escolha e a impossibilidade dessa escolha
que chamo, de minha parte, de modernidade.
Temos, por um lado, o universo da cincia, no em sua
singularidade pensante, mas no poder de sua organizao finan-
ceira e tcnica. Esse universo dispe uma verdade annima, com-
pletamente separada de qualquer figura pessoal do mestre. S
que a verdade, organizada socialmente pelo capitalismo moder-
no, exige o sacrifcio da Terra. Essa verdade , para a massa das
conscincias, completamente estranha e exterior. Todos conhe-
cem seus efeitos, mas ningum domina sua origem. A cincia, em
sua organizao capitalista e tcnica, um poder transcendente,
ao qual preciso sacrificar o tempo e o espao.
Certamente, a organizao financeira e tcnica da cincia
acompanhada pela democracia moderna. Mas o que a demo-
cracia moderna? unicamente o seguinte: ningum obrigado a
amar um mestre. No obrigatrio, por exemplo, eu gostar de
Chirac ou de Jospin. Na verdade, ningum gosta deles, todos
zombam deles publicamente. isso, a democracia. Mas, por outro
lado, devo obedecer lealmente organizao capitalista e tcni-
ca da cincia. As leis do mercado e da mercadoria, as leis da
circulao dos capitais so um poder impessoal que no nos
deixa nenhuma perspectiva, nenhuma escolha verdadeira. S existe
uma poltica, uma poltica nica. Como o mestre de Mallarm,
devo sacrificar todo domnio de escolha para que a verdade cien-
tfica, em sua socializao tcnica e capitalista, siga seu curso
transcendente.
Por outro lado, por toda parte em que se rejeita essa moder-
nidade cientfica, capitalista e democrtica, deve haver um mes-
tre, e obrigatrio gostar dele. Isso esteve no centro do grande
empreendimento marxista e comunista. Ela quis romper a organi-
zao capitalista da cincia. Quis que a verdade cientfica fosse
imanente, dominada por todos, distribuda pelo poder popular.
Quis que a verdade fosse inteiramente terrestre e no exigisse o
sacrifcio das escolhas. Quis que os homens escolhessem a cincia
73
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
e sua organizao produtiva, em vez de serem escolhidos e de-
terminados por essa organizao. O comunismo era a idia de
um domnio coletivo das verdades. Mas o que aconteceu ento
por toda parte foi que surgiu a figura de um mestre, porque a
verdade no estava mais separada do domnio. E, finalmente,
porque amar e querer a verdade era amar e querer esse mestre.
E, se no se o amasse, havia o terror para lembrar-nos da obriga-
o desse amor.
Continuamos nesse estgio. Estamos, se que se pode dizer,
entre Mallarm e a mu 'allaqa. De um lado, a democracia, que nos
livra do amor do mestre, mas que nos sujeita transcendncia
nica das leis do mercado e elimina qualquer domnio sobre o
destino coletivo, qualquer realidade da escolha poltica. Do outro,
o desejo de um destino coletivo imanente e almejado, de uma
ruptura com o automatismo do capital. Da o despotismo terroris-
ta e a obrigao do amor ao mestre.
A modernidade no poder escolher razoavelmente no que
diz respeito relao entre domnio e verdade. A verdade est
separada do mestre? a democracia. Mas ento a verdade
inteiramente obscura, a maquinao transcendente da organi-
zao tcnica e capitalista. A verdade est ligada ao mestre?
Nesse caso, uma espcie de terror imanente, uma transfern-
cia amorosa implacvel, uma fuso imvel do poder policial do
Estado e do tremor subjetivo. Em todos os casos, desaparece a
possibilidade da escolha, o mestre sendo sacrificado por um
poder annimo, ou pedindo-nos que nos sacrifiquemos por
amor a ele.
Acredito ser necessrio pedir ao pensamento que d um
passo para trs. Um passo rumo ao que Mallarm e a ode pr-
islmica tm em comum, ou seja, o deserto, o oceano, o lugar
nu, o vazio. Deve-se recompor para nosso tempo um pensamen-
to da verdade que seja articulado sobre o vazio, sem passar
pela figura do mestre. Nem pelo mestre sacrificado, nem pelo
mestre suscitado.
74
UMA DIALTICA POTICA
Ou ainda: fundar uma doutrina da escolha e da deciso que
no esteja na forma inicial de um domnio da escolha e eladeciso.
Esse ponto essencial. S existe verdade autntica sob a condi-
o de podermos escolher a verdade, isso certo. Por essa razo, a
filosofia vincula desde sempre verdade e liberdade. O prprio
Heidegger props dizer que a essncia da verdade no era outra
coisa seno a liberdade. indiscutvel.
Mas a escolha da verdade repousa forosamente na forma de
um domnio?
Labid e Mallarm respondem ao mesmo tempo que sim. ne-
cessrio um mestre para sustentar at o final a experincia do
lugar vazio e do despojamento. O da ode rabe opta por uma
verdade natural e distributiva. O de Mallarm mostra que preci-
so sacrificar a prpria escolha, praticar a equivalncia da escolha e
da no-escolha, e que ento surge uma verdade impessoal. Exata-
mente como hoje, na democracia: escolher determinado presidente
equivale estritamente a no o escolher, pois a poltica ser a mes-
ma, j que comandada pela transcendncia da organizao capi-
talista da cincia e pelos acasos do mercado.
Nos dois casos h, no entanto, um mestre inicial, que decide
quanto natureza da escolha.
A meu ver, a questo principal do pensamento contemporneo
a seguinte: encontrar um pensamento da escolha e da deciso
que v do vazio verdade, sem passar pela figura elo mestre, sem
suscitar nem sacrificar essa figura.
Da ode rabe, deve-se conservar a convico de que a verdade
permanece imanente ao lugar; que no exterior, que no uma
fora impessoal transcendente. Mas sem suscitar um mestre.
Do poema francs, deve-se conservar a convico de que a
verdade annima, de que surge do vazio, de que separada do
mestre. Mas sem que seja preciso eclipsar e sacrificar esse mestre.
Toda a questo pode ser reformulada da seguinte maneira: como
pensar a verdade como simultaneamente annima, ou impessoal, e
no entanto imanente e terrestre? Ou: como pensar que se possa
75
..
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
escolher a verdade na experincia inicial do vazio e do lugar nu,
sem ter de ser o mestre dessa escolha, nem confi-Ia a um mestre?
o que minha filosofia, ao aceitar a condio do poema, tenta
fazer. Vamos indicar alguns motivos a meu ver necessrios para
resolver o problema.
a) No existe a verdade, mas verdades; esse plural decisivo.
Vamos assumir a multiplicidade irredutvel das verdades.
b) Todas as verdades so um processo, e no um juzo ou um
estado de coisas. Esse processo de direito infinito ou inacabvel.
c) Chama-se sujeito de uma verdade todo momento finito do
processo infinito dessa verdade. O sujeito no tem, portanto,
nenhum domnio sobre a verdade e, ao mesmo tempo, lhe
imanente.
d) Todo processo de verdade comea por um acontecimento;
um acontecimento imprevisvel, incalculvel. um suplemento
situao. Toda verdade e, portanto, todo sujeito dependem de
um surgimento relativo a acontecimento. Uma verdade e um sujei-
to de verdade no provm do que h, mas do que acontece, no
sentido lato do termo.
e) O acontecimento revela o vazio da situao. Porque mostra
que o que h estava sem verdade.
desse vazio que o sujeito se constitui como fragmento do
processo de uma verdade. esse vazio que o separa da situao
ou do lugar, inscreve-o em uma trajetria sem precedentes. ver-
dade, portanto, que a experincia do vazio, do lugar como vazio,
fundamenta o sujeito de uma verdade; mas essa experincia no
constitui nenhum domnio. No mximo pode-se dizer, de maneira
absolutamente geral, que um sujeito qualquer o militante de
uma verdade.
f) A escolha que vincula o sujeito verdade a escolha de
continuar a ser. Fidelidade ao acontecimento. Fidelidade ao vazio.
O sujeito o que escolhe perseverar nessa distncia de si mes-
mo, suscitada pela revelao do vazio. O vazio, que o prprio
ser do lugar.
76
UMA DIALTICA POTICA
E eis-nos reconduzidos a nosso ponto de partida. Porque uma
verdade sempre comea por nomear o vazio, fazendo o poema do
lugar abandonado. Aquilo a que um sujeito fiel exatamente o
que nos diz Labid ben Rabi'a:
Sob uma rvore isolada, bem alto, beira
De dunas que o vento dispersa em poeira,
A tarde faz-se nuvem com estrelas escondidas.'
E tambm o que nos diz Mallarm:
O Abismo esbranquiado exibe, furioso, sob uma inclinao
plaina desesperadamente da asa, a sua de antemo cada por
uma dificuldade de alar vo."
Uma verdade comea por um poema do vazio, continua pela
escolha de continuar e s termina com o esgotamento de sua
prpria infinidade. Ningum seu senhor, mas todos podem nela
se inscrever. Todos podem dizer: no, s h o que h. H tambm
o que aconteceu e cuja persistncia carrego aqui e agora.
A persistncia? O poema, inscrito para sempre, estelar sobre
a pgina, seu guardio exemplar. Mas no existem outras artes
que se dedicam fuga cidade do acontecimento, a seu desapare-
cimento alusivo, ao que h de infixado no devir do verdadeiro?
Artes subtradas do impasse do mestre? Artes da mobilidade e de
uma "nica vez"? O que dizer da dana, desses corpos mveis
que nos transportam no esquecimento de seu peso? O que di-
zer do cinema, desfile deleuziano da imagem-tempo? O que dizer
do teatro, no qual a cada noite se representa uma obra, sempre
diferente, mesmo que seja a mesma e da qual um dia, desapare-
cidos os atores, queimados os cenrios, omitido o diretor, nada
Sous un arbre isol, tres haut, Ia lisiere I De dunes que le vent parpille en
poussiere, I Le soir se fait nuage aux toiles caches.
L'Abime blanchi, tale, furieux, sous une inclinaison plane dsesprment d'aile,
Ia sienne par avance retombe d'un mal dresser le vol.
77
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
restar? Deve-se dizer que so outros tipos de configuraes arts-
ticas, mais familiares, mais dcteis e que, alm disso, de modo
diferente do poema imperial, congregam. A filosofia est to
vontade com essas artes da passagem pblica quanto em sua
ligao, conflito mortal ou alvio, com o poema?
78
6
A DANA COMO
METFORA DO PENSAMENTO
Por que a dana ocorre a Nietzsche como metfora obrigat-
ria do pensamento? porque a dana o que se ope ao grande
inimigo de Zaratustra-Nietzsche, inimigo que ele designa como
"o esprito de peso". A dana , antes de mais nada, a imagem de
um pensamento subtrado de qualquer esprito de peso. impor-
tante detectar as outras imagens dessa subtrao, pois elas inscre-
vem a dana em uma rede metafrica compacta. H, por exemplo,
a ave. Zaratustra declara: " porque odeio o esprito de peso que
me pareo com a ave." uma primeira conexo metafrica entre
dana e ave. Digamos que haja uma germinao, um nascimento
danante, do que se poderia chamar a ave interior ao corpo. Mais
geralmente, h a imagem do alar vo. Zaratustra tambm diz: "Aque-
le que aprender a voar dar terra um novo nome. Acabar por
cham-Ia a leve." E seria de fato uma definio muito bonita e
judiciosa da dana dizer que um nome novo dado terra. H
ainda a criana. A criana, "inocncia e esquecimento, novo incio,
brincadeira, roda que se move por si mesma, primeiro mvel, afir-
mao simples". Trata-se da terceira metamorfose na parte inicial
de Zaratustra, aps o camelo, que o contrrio da dana, e o leo,
demasiado violento para poder denominar leve a terra que recome-
a. E seria de fato necessrio dizer que a dana, que ave e alar
vo, tambm tudo o que a criana designa. A dana inocncia,
79
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
porque um corpo de antes do corpo. esquecimento, porque
um corpo que esquece sua priso, seu peso. um novo comeo,
porque o gesto da dana deve sempre ser como se inventasse seu
prprio comeo. Brincadeira, claro, pois a dana liberta o corpo
ele qualquer mmica social, de qualquer coisa sria, de qualquer
conveno. Roda que se move por si s: bela definio possvel
para a dana. Porque ela como um crculo no espao, mas um
crculo que o prprio princpio de si mesmo, um crculo que no
desenhado de fora, um crculo que se desenha. Primeiro mvel:
cada gesto, cada traado da dana deve apresentar-se no como
uma conseqncia, mas como o que a prpria origem da mobi-
lidade. Afirmao simples, porque a dana ausenta radiosamente
o corpo negativo, o corpo envergonhado.
Alm disso, Nietzsche falar tambm das fontes, ainda na linha
de imagens que dissolvem o esprito de peso. "Minha alma uma
fonte que jorra" e, certamente, o corpo danante est propriamen-
te em estado de jorro, fora do solo, fora de si mesmo.
Finalmente, h o ar, o elemento areo, que tudo recapitula.
A dana o que autoriza que se chame a prpria terra de "area".
Na dana, pensa-se a terra como dotada de um arejamento cons-
tante, a dana supe o sopro, a respirao da terra. Isso porque a
questo central da dana a relao entre verticalidade e atra-
o, verticalidade e atrao que transitam no corpo danante e auto-
lizam-no a manifestar um paradoxal possvel: que terra e ar troquem
de posio, passem um para dentro do outro. por todos esses
motivos que o pensamento encontra sua metfora na dana, a
qual recapitula a srie da ave, da fonte, da criana, do ar impalpvel.
Certamente, essa srie pode parecer bem inocente, at piegas,
como um conto infantil, no qual nada mais pousa nem pesa. Mas
deve-se compreender que atravessada por Nietzsche - pela
dana - em seu vnculo com um poder e uma raiva. A dana
ao mesmo tempo um dos termos da srie e a travessia violenta da
srie. Zaratustra dir de si mesmo que tem "ps de danarino
enraivecido" .
80
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
A dana representa a travessia potencial da inocncia. Manifes-
ta a virulncia secreta do que aparece como fonte, ave, infncia.
Na realidade, o que fundamenta que a dana metaforize o pensa-
mento a convico de Nietzsche de que o pensamento uma
intensificao. Essa convico ope-se principalmente tese que
v no pensamento um princpio cujo modo de realizao exte-
rior. Para Nietzsche, o pensamento no se efetua em outra parte
alm daquela onde se d, o pensamento efetivo "no lugar", o
que se intensifica, se assim se pode dizer, sobre si mesmo, ou
ainda o movimento de sua prpria intensidade.
Mas ento a imagem da dana natural. Transmite visivel-
mente a Idia do pensamento como intensificao imanente. Di-
gamos, de preferncia, uma certa viso da dana. A metfora s
vale de fato se afastarmos qualquer representao da dana como
coero exterior imposta a um corpo flexvel, como ginstica do
corpo danante controlada de fora. Nietzsche ope totalmente o
que chama de dana a uma determinada ginstica. Afinal, seria
possvel imaginar que a dana nos expe um corpo obediente e
musculoso, um corpo ao mesmo tempo capaz e submisso. Diga-
mos, um regime do corpo exercitado a submeter-se a uma coreo-
grafia. Porm, para Nietzsche, tal corpo o contrrio do corpo
danante, do corpo que faz um intercmbio interior entre o ar e
a terra.
Qual , aos olhos de Nietzsche, o contrrio da dana? o
alemo, o mau alemo, cuja definio a seguinte: "Obedincia e
boas pernas." A essncia desse mau alemo o desfile militar,
que o corpo alinhado e martelante, o corpo submisso e sonoro.
O corpo da cadncia batida. J a dana, essa o corpo areo e
liberto, o corpo vertical. De forma alguma o corpo martelante,
mas o corpo "na ponta", o corpo que esporeia o cho como se
fosse uma nuvem. E, acima de tudo, o corpo silencioso, contra
esse corpo prescrito aps o trovo de sua batida prpria e pesada,
e que o corpo do desfile militar. Finalmente, a dana indica para
Nietzsche o pensamento vertical, o pensamento estendido rumo
81
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
sua prpria altura. O que, evidentemente, est ligado ao tema da
afirmao, a qual, para Nietzsche, tomada na imagem do "Grande
meio-dia", quando o sol est no znite. A dana o corpo dedi-
cado a seu znite. Talvez, ainda mais profundamente, o que
Nietzsche v na dana, como imagem do pensamento e, ao mes-
mo tempo, como real do corpo, o tema de uma mobilidade
vinculada a ela mesma, uma mobilidade que no se inscreve em
uma determinao exterior, mas que se move sem se destacar de
seu prprio centro. Uma mobilidade no imposta, que desdobra a
si mesma como se fosse a expanso de seu centro.
claro que a dana corresponde idia nietzschiana do pen-
samento como devir, como poder ativo. Mas esse devir tal que
nele se entrega uma interioridade afirmativa nica. O movimento
no um deslocamento ou uma transformao; um traado que
atravessa e sustenta a unicidade eterna de uma afirmao. A tal
ponto que a dana designa a capacidade da impulso corporal,
no principalmente para ser projetada no espao fora de si, mas,
antes, para ser apanhada em uma atrao afirmativa que a retm.
Talvez isso seja o que tem de mais importante: a dana o que,
alm da mostrao dos movimentos ou da prontido em seus
desenhos exteriores, revela a fora de sua reteno. Certamente,
s se mostrar essa fora no prprio movimento, mas o que conta
a legibilidade poderosa da reteno.
Na dana concebida dessa maneira, a essncia do movimento
est no que no teve lugar, no que permaneceu no efetivo ou
retido dentro do prprio movimento.
Seria, ademais, uma outra maneira de abordar negativamente a
idia da dana. Pois a impulso que no reteno, a solicitao
corporal de imediato obedecida e manifesta, Nietzsche chama-a
de vulgaridade. Ele escreve que toda vulgaridade vem da inca-
pacidade de resistir a uma solicitao. Ou ainda que a vulgaridade
ser forado a reagir, "obedecer a cada impulso". Definir-se- a
dana, conseqentemente, como movimento do corpo subtrado
de qualquer vulgaridade.
82
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
A dana no absolutamente a impulso corporal liberada, a
energia selvagem do corpo. Ao contrrio, a mostrao corporal
da desobedincia a uma impulso. A dana mostra como a impulso
pode-se tornar ineficaz no movimento, de maneira que no se trata
de uma obedincia, mas de uma reteno. A dana o pensamen-
to como refinamento. Estamos no oposto de qualquer doutrina da
dana como xtase primitivo ou agitaes repetidas e descuidadas
do corpo. A dana metaforiza o pensamento leve e sutil, precisa-
mente porque mostra a reteno imanente ao movimento e assim
se ope vulgaridade espontnea do corpo.
Podemos pensar ento, adequadamente, o que se diz no tema
da dana como leveza. Sim, a dana ope-se ao esprito de peso,
sim, o que d terra seu novo nome, "a leve", mas, definitiva-
mente, o que a leveza? Dizer que a ausncia de peso no leva
longe. Deve-se compreender por leveza a capacidade do corpo
de manifestar-se como corpo n%rado, no forado at mesmo
por si prprio, ou seja, em estado de desobedincia a suas prprias
impulses. Essa impulso desobediente ope-se Alemanha ("Obe-
dincia e boas pernas"), mas sobretudo exige um princpio de
lentido. A leveza tem sua essncia, da ser a dana a sua melhor
imagem, na capacidade de manifestar a lentido secreta do que
rpido. O movimento da dana decerto de extrema prontido,
at virtuose na rapidez, mas s o investido por sua lentido
latente, que o poder afirmativo de sua reteno. Nietzsche pro-
clama que "o que a vontade deve aprender a ser lenta e descon-
fiada". Digamos que a dana pode-se definir como a expanso da
lentido e da desconfiana do corpo-pensamento. Nesse sentido,
o danarino indica-nos o que a vontade pode aprender.
Disso resulta, evidentemente, que a essncia da dana o movi-
mento virtual, mais do que o movimento atual. Digamos, movimento
virtual com9 lentido secreta do movimento atual. Ou, mais precisa-
mente: a dana, na prontido virtuose mais extrema, exibe aquela
lentido oculta na qual o que tem lugar indiscernvel de sua prpria
reteno. No auge da arte, a dana mostraria a equivalncia estranha,
83
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
no apenas entre a prontido e a lentido, mas entre o gesto e o no-
gesto. Indicaria que, embora o movimento tenha tido lugar, no
possvel distinguir esse ter-lugar de um no-lugar virtual. A dana
compe-se de gestos, que obsedados por sua reteno, permanecem
de certa forma indecididos.
Em relao a meu prprio pensamento, ou doutrina, essa exe-
gese nietzschiana sugere o seguinte: a dana seria a metfora de
que todo pensamento verdadeiro depende de um acontecimento.
Pois um acontecimento precisamente o que permanece indecidido
entre o ter-lugar e o no-lugar, um surgir que indiscernvel de seu
desaparecer. Acrescenta-se ao que h, mas to logo esse suple-
mento indicado, o "h" recupera seus direitos e dispe de tudo.
Evidentemente, a nica maneira de fixar um acontecimento dar-
lhe um nome, inscrev-l o no "h" como nome supranumerrio. "Ele
prprio" sempre apenas seu prprio desaparecimento, mas uma
inscrio pode det-l o como que no limiar dourado de sua perda.
O nome o que decide o "ter tido-lugar". A dana indicaria, ento,
o pensamento como acontecimento, mas antes que ele tivesse seu
nome, no limite extremo de seu desaparecimento verdadeiro, no
desvanecimento de si mesmo, sem a proteo do nome. A dana
imitaria o pensamento ainda indecidido. Seria o pensamento inato
ou infixado. Sim, haveria na dana a metfora da infixidez.
Assim se esclareceria que a dana tenha de representar o tempo
no espao. Pois um acontecimento estabelece um tempo singular a
partir de sua fixao nominal. Traado, denominado, inscrito, o
acontecimento desenha em situao, no "h", um antes e um de-
pois. Um tempo comea a existir. Mas, se a dana metfora do
acontecimento "antes" do nome, no pode participar desse tempo
que s o nome, por seu recorte, institui. Ela subtrada da deciso
temporal. Existe, portanto, na dana, algo de antes do tempo, de
pr-temporal. E esse elemento pr-temporal ser representado no
espao. A dana o que suspende o tempo no espao.
Em A alma e a dana, dirigindo-se danarina, Valry lhe diz:
"Como s extraordinria na iminncia!" Poderamos, com efeito,
84
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
dizer que a dana o corpo como presa da iminncia. Mas o que
iminente de fato o tempo de antes do tempo que vai haver. Adana,
como colocao da iminncia no espao, constituiria metfora do
que todo pensamento funda e organiza. Seria igualmente possvel
dizer: a dana representa o acontecimento antes da denominao
e, conseqentemente, em vez do nome, h o silncio. A dana
manifesta o silncio de antes do nome, exatamente como o es-
pao de antes do tempo.
A objeo que ocorre de imediato , evidentemente, o papel
da msica. Como podemos falar de silncio, quando toda dana
parece estar com tanta fora sob a jurisdio da msica? Existe,
certamente, uma concepo da dana que a descreve como corpo
feito presa da msica e, mais precisamente, presa do ritmo. Mas
essa concepo ainda e sempre "obedincia e boas pernas",
nossa Alemanha pesada, mesmo que a obedincia reconhea a
msica como seu senhor. Digamos sem hesitao que toda dana
que obedece msica faz desta uma msica militar, trate-se de
Chopin ou de Boulez, ao mesmo tempo em que se metamorfoseia
em m Alemanha.
O que se deve sustentar, por maior que seja o paradoxo, o
seguinte: em relao dana, a nica funo da msica marcar
o silncio. Ela indispensvel, portanto, pois o silncio deve ser
marcado para manifestar-se como silncio. Silncio de qu?
Silncio do nome. Se verdade que a dana representa a deno-
minao do acontecimento no silncio do nome, o lugar desse
silncio indicado pela msica. bem natural: s possvel
indicar o silncio fundador da dana pela mais extrema concentra-
o do som. E a concentrao mais extrema do som a msica.
Deve-se ver, portanto, que, apesar de todas as aparncias, apa-
rncias que querem que as "boas pernas" da dana obedeam
prescrio da msica, na realidade a dana que comanda a
msica, na medida em que a msica marca o silncio fundador
no qual a dana apresenta o pensamento inato na economia
aleatria e desvanecente do nome. Apreendida como metfora
85
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
da dimenso de acontecimento de todo pensamento, a dana
anterior msica da qual se sustenta.
Dessas preliminares deduz-se, como tantas conseqncias, o
que chamarei de princpios da dana. No da dana pensada a
partir de si mesma, de sua tcnica e de sua histria, mas da dana
tal como a filosofia lhe d abrigo e acolhe.
Esses princpios esto perfeitamente claros nos dois textos que
Mallarm consagrou dana, textos to profundos quanto breves,
textos, a meu ver, definitivos.
Destaco seis deles, todos relativos ligao da dana com o
pensamento e todos regidos por uma comparao inexplcita en-
tre a dana e o teatro.
Eis a lista dos seis princpios:
1. a obrigao do espao;
2. o anonimato do corpo;
3. a onipresena apagada dos sexos;
4. a subtrao a si mesmo;
5. a nudez;
6. o olhar absoluto.
Vamos coment-l os um a um.
Se verdade que a dana representa o tempo no espao, que
supe o espao da iminncia, ento existe para a dana uma obri-
gao do espao. Mallarm indica essa idia da seguinte forma:
"S a dana parece-me necessitar de um espao real." Observe-
mos bem: s a dana. A dana a nica das artes que obrigada
ao espao. Particularmente, esse no o caso do teatro. A dana,
como j foi dito, o acontecimento antes da denominao. Ao
contrrio, o teatro no passa de conseqncia de uma denomina-
o representada. A partir do momento em que h texto, a partir
do momento em que foi dado o nome, a exigncia do tempo, e
no do espao. Algum que l atrs de uma mesa pode fazer
teatro. Certamente, possvel fornecer-lhe, alm disso, um palco,
um cenrio, mas tudo isso continua sendo inessencial para
Mallarm. O espao no uma obrigao intrnseca do teatro. Em
86
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
compensao, a dana integra o espao em sua essncia. a nica
figura do pensamento que faz isso, de modo que seria possvel
sustentar que a dana simboliza o espaamento do pensamento.
O que se deve entender por isso? Mais uma vez, preciso voltar
origem referente aos acontecimentos de todo pensamento. Um
acontecimento est sempre localizado na situao, jamais ele a
afeta "por inteiro": h o que chamei de um stio de acontecimento.
Antes que a denominao institua o tempo em que o acontecimento
"trabalha" a situao como sua verdade, h o stio. E, como a
dana a mostrao do antenome, deve desenvolver-se como
percurso de um stio. De um stio puro. H, na dana - a expres-
so de Mallarm - "uma virgindade de stio". E ele acrescenta:
"uma virgindade de stio no imaginada". O que quer dizer "no
imaginada"? Que o stio de acontecimento prescinde das imagina-
es de um cenrio. O cenrio do teatro, e no da dana. A dana
o stio tal qual, sem ornamento figurativo. Exige o espao, o
espaamento, nada alm disso. o que havia a dizer sobre o
primeiro princpio.
Quanto ao segundo - o anonimato do corpo -, encontramos
nele a ausncia de qualquer vocbulo, o antenome. O corpo dan-
ante, tal como ele advm no stio, tal como se espaa na imi-
nncia, um corpo-pensamento, jamais algum. Desses corpos,
Mallarm declara: "So sempre apenas smbolo, no algum." Sm-
bolo ope-se, em primeiro lugar, a imitao. O corpo danante
no imita um personagem ou uma singularidade. Nada represen-
ta. J o corpo de teatro est sempre preso a uma imitao,
arrebatado pelo papel. O corpo danante, nenhum papel o recruta,
o smbolo do surgimento puro. Mas "smbolo" tambm se ope
a toda forma de expresso. O corpo danante no exprime ne-
nhuma interioridade; ele, em aparncia, intensidade visivelmente
relida, que a interioridade. Nem imitao, nem expresso, o
corpo danante um smbolo de visitao na virgindade do stio.
Vem precisamente a manifestar que o pensamento, o verdadeiro
pensamento, suspenso ao desaparecimento do acontecimento,
87
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
a induo de um sujeito impessoal. A impessoalidade do sujeito
de um pensamento (ou de uma verdade) resulta do fato de que
um tal sujeito no preexiste ao acontecimento que o autoriza. No
o caso, portanto, de apreend-lo como sendo "algum". o que
o corpo danante vai significar, por ser inaugural, por ser como
um primeiro corpo. O corpo danante annimo por nascer sob
nossos olhos como corpo. Da mesma forma, o sujeito de uma
verdade jamais por antecipao, e qualquer que seja seu avan-
o, o "algum" que .
Tratando-se do terceiro princpio - a onipresena apagada
dos sexos -, podemos extra-lo de declaraes aparentemente
contraditrias de Mallarm. essa contradio que ocorre na opo-
sio que instituo entre "onipresena" e "apagado". Digamos que
a dana manifeste universalmente que existem duas posies se-
xuais (cujos nomes so "homem" e "mulher") e, que ao mesmo
tempo, abstraia, ou rasure, essa dualidade. Por um lado, Mallarm
enuncia que "a dana toda no passa da misteriosa interpretao
sagrada do beijo". No centro da dana existe, assim, a conjun-
o dos sexos, e isso o que se deve chamar de sua onipresena.
A dana composta por inteiro da conjuno e da disjuno das
posies sexuadas. Todos os movimentos retm sua intensidade
em percursos cuja gravitao principal une, depois separa, as
posies "homem" e "mulher". Por outro lado, porm, Mallarm
observa tambm que "a danarina no uma mulher". Como
possvel que a dana toda seja a interpretao do beijo - da con-
juno dos sexos e, para dizer claramente, do ato sexual- e que,
no entanto, a danarina como tal no seja denominvel como
"mulher", no mais do que de repente o danarino no possa ser
denominado de "homem"? porque a dana s retm uma forma
pura da sexuao, do desejo, do amor: a que organiza a triplicidade
do encontro, do enlaamento e da separao. Esses trs termos
so codificados tecnicamente pela dana (os cdigos variam
consideravelmente, mas esto sempre operando). Uma coreo-
grafia organiza sua ligao espacial. Mas, finalmente, o triplo do
88
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
encontro, do enlaamento e da separao tem acesso pureza de
uma reteno intensa que se separa de seu destino.
Na realidade, a onipresena da diferena do danarino e da
danarina, e por meio dela a onipresena "ideal" da diferena de
sexos, s manejada como rganon da relao entre aproxima-
o e separao, de modo que no possvel sobrepor nominal-
mente o casal danarino/danarina ao casal homem/mulher. O
que se coloca em jogo na aluso onipresente aos sexos , afinal
de contas, a correlao entre o ser e o desaparecer, entre o ter-
lugar e a supresso, cujo encontro, enlaamento e separao for-
necem uma codificao corporal reconhecvel.
A energia disjuntiva da qual a sexuao o cdigo colocada
a servio de uma metfora do acontecimento como tal, ou seja, o
fato de todo o ser conter-se no desaparecer. Isso porque a onipre-
sena da diferena dos sexos se apaga ou se suprime, no sendo
a finalidade representativa da dana, mas uma abstrao formal
de energia cujo traado convoca no espao a fora criadora do
desaparecimento.
Para o princpio nmero quatro - subtrao a si mesmo -,
convm apoiar-se em um enunciado totalmente estranho a Mallar-
m: "Adanarina no dana." Acabamos de ver que ela no uma
mulher, mas, alm disso, no nem mesmo uma "danarina",
caso compreendamos por "danarina" algum que executa uma
dana. Aproximemos esse enunciado de outro: Mallarm nos diz
que a dana "o poema liberto de todo o aparato de escriba".
Esse segundo enunciado to paradoxal quanto o primeiro ("Adan-
arina no dana."). Pois o poema , por definio, um vestgio,
uma inscrio, em particular na concepo de Mallarm. E, por
conseguinte, o poema "liberto de todo o aparato do escriba"
propriamente o poema liberto do poema, o poema subtrado a si
mesmo, assim como a danarina, que no dana, a dana sub-
trada dana.
A dana como um poema no inscrito ou no traado. Ea dana
tambm como uma dana sem dana, uma dana desdanada.
89
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
o que se pronuncia aqui a dimenso subtrativa do pensamento.
Todo pensamento verdadeiro subtrado ao saber onde se constitui.
A dana metfora do pensamento precisamente porque indica por
meio do corpo que um pensamento, na forma de sua apario como
acontecimento, subtrado a toda preexistncia do saber.
Como a dana indica essa subtrao? Precisamente porque a
"verdadeira" danarina jamais deve aparecer como a que sabe a
dana que dana. Seu saber (que tcnico, imenso, conquistado
dolorosamente) atravessado, como nulo, pelo surgir puro de
seu gesto. "A danarina no dana" quer dizer que o que se v
no em momento algum a realizao de um saber, embora de
parte a parte esse saber seja sua matria, ou seu apoio. A dana-
rina esquecimento milagroso de todo seu saber de danarina,
ela no executa qualquer dana, essa intensidade retida que
manifesta o indecidido do gesto. Na verdade, a danarina supri-
me toda dana que sabe porque dispe de seu corpo como se
ele fosse inventado. De modo que o espetculo da dana o
corpo subtrado a todo saber de um corpo, o corpo como ecloso.
De tal corpo, ser inevitvel dizer - eis o quinto princpio _
que ele est nu. Claro que pouco importante que ele esteja nu
empiricamente; est nu em essncia. Da mesma maneira que a
dana visita o stio puro e, portanto, prescinde de um cenrio
(esteja este presente ou no), o corpo danante, que corpo-
pensamento maneira de acontecimento, prescinde de um traje
(esteja ou no envergando um tutu). Essa nudez crucial. O que
diz Mallarm? Ele diz que a dana "te entrega a nudez de teus
conceitos". E acrescenta: "e silenciosamente escrever tua vida".
"Nudez" compreende-se, ento, desta forma: a dana, como met-
fora do pensamento, apresenta-a sem relao com outra coisa seno
consigo mesma, na prpria nudez de seu surgimento. A dana o
pensamento sem relao, o pensamento que nada traz, que nada
relaciona. Dir-se- tambm que ela pura consumio do pensa-
mento, porque repudia todos os ornamentos possveis. Da ser a
dana, por tendncia, a mostrao da nudez casta, da nudez de antes
90
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
de qualquer ornamento, da nudez que no resulta de se despojar dos
ornamentos, mas, ao contrrio, da nudez tal como se d antes de qual-
quer ornamento - como o acontecimento se d "antes" do nome.
O sexto e ltimo princpio j no diz respeito danarina, nem
mesmo dana, mas ao espectador. O que um espectador de
dana? Mallarm responde a essa questo de maneira particular-
mente exigente. Pois da mesma maneira que o danarino, que
smbolo, jamais algum, o espectador de dana deve ser rigoro-
samente impessoal. O espectador de dana no pode de maneira
alguma ser a singularidade daquele que assiste.
De fato, se algum assiste dana, inevitavelmente seu voyeur.
Esse ponto resulta dos princpios da dana, de sua essncia
(onipresena apagada dos sexos, nudez, anonimato dos corpos,
etc.). Esses princpios s podem tornar-se efetivos se o espectador
renunciar a tudo o que seu olhar pode comportar de singular ou
desejante. Qualquer outro espetculo (em primeiro lugar, o teatro)
exige que o espectador invista o palco com seu prprio desejo.
Sob esse aspecto, a dana no um espetculo. No o , pois no
tolera o olhar desejante, o qual, a partir do momento em que existe
dana, s pode ser um olhar voyeur, em que as subtraes dan-
antes suprimem a si mesmas. necessrio ento o que Mallarm
chama de "um impessoal ou fulgurante olhar absoluto". No
uma dura adstringncia? -, imposta no entanto pela nudez essen-
cial dos danarinos e danarinas.
Acabamos de falar do "impessoal". Se a dana representa o
pensamento inato, s pode represent-l o segundo uma destinao
universal. No se destina singularidade de um desejo, cujo
tempo, ademais, ainda nem mesmo constituiu. o que expe a
nudez dos conceitos. Assim, o olhar do espectador deve cessar
de procurar nos corpos dos danarinos os objetos de seu desejo,
os quais remetem nudez ornamental ou fetichista. Chegar
nudez dos conceitos exige um olhar que, deslastrado de qual-
quer investigao desejante dos objetos cujo suporte o corpo
"vulgar" (diria Nietzsche), chega ao corpo-pensamento inocente
91
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
e primordial, ao corpo inventado ou desabrochado. Mas tal olhar
no o olhar de ningum.
"Fulgurante": o olhar do espectador de dana deve apreender
a relao do ser com o desaparecer; ele no conseguiria satisfazer-
se com um espetculo. Alm do mais, a dana sempre uma falsa
totalidade. No h durao fechada de um espetculo, h a mos-
trao permanente relativa ao que est acontecendo em sua fuga,
na equivalncia indecidida de seu ser e de seu nada. Ao que s
convm o brilho do olhar, e no sua ateno sobrecarregada.
"Absoluto": o pensamento figurado na dana deve ser con-
siderado uma aquisio eterna. A dana, precisamente por ser uma
arte absolutamente efmera, j que desaparece assim que ocorre,
detm a maior carga de eternidade. A eternidade no consiste no
"permanecer tal qual" ou na durao. A eternidade precisamente
o que conserva o desaparecimento. Quando um olhar "fulgurante"
se apodera de um desvanecimento, s pode conserv-l o puro,
fora de qualquer memria emprica. No h outro meio de conser-
var o que desaparece seno conserv-Io eternamente. O que no
desaparece voc pode conservar, expondo-o ao desgaste dessa
conservao. Mas a dana, captada pelo espectador verdadeiro,
no se pode desgastar, precisamente porque nada alm do
efmero absoluto de seu encontro. nesse sentido que existe
absolutez do olhar sobre a dana.
Agora, se examinarmos os seis princpios da dana, ser poss-
vel estabelecer que o verdadeiro contrrio da dana o teatro.
Certamente, h tambm o desfile militar, mas esse contrrio ne-
gativo. O teatro o contrrio positivo da dana.
J sugerimos que o teatro transgride os seis princpios. De pas-
sagem, indicamos que no existe no teatro, uma vez que l o texto
denomina, imposio do stio puro e que o ator tudo, exceto
corpo annimo. Mostraramos sem dificuldade que tampouco existe
no teatro onipresena apagada dos sexos, mas, bem ao contrrio,
encenao hiperblica da sexuao. Que a representao teatral,
bem longe de ser subtrao de si, excesso sobre si: se a dana-
92
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
rina no dana, o ator obrigado a atuar, a representar o ato, e os
cinco atos. Jamais h nudez no teatro, tampouco, mas trajes obriga-
trios, a nudez sendo ela prpria um traje, e dos mais vistosos.
Quanto ao espectador de teatro, absolutamente no se exige dele
o olhar impessoal absoluto e fulgurante, pois o que convm a
excitao de uma inteligncia enredada na durao de um desejo.
Existe uma oposio essencial entre a dana e o teatro.
Nietzsche aborda-a da maneira mais simples possvel: por uma
esttica antiteatra1. Particularmente nos ltimos trabalhos de
Nietzsche e no contexto de sua ruptura total com Wagner, a verda-
deira palavra de ordem da arte moderna subtrair-se (em provei-
to da metfora da dana, como novo nome dado terra) ao
detestvel domnio decadente da teatralidade.
Nietzsche chama a submisso das artes ao efeito teatral de
"histrionismo". A tornamos a encontrar aquilo a que toda a dana
se ope, a vulgaridade. Acabar com o histrionismo wagneriano
opor a leveza da dana vulgaridade mentirosa do teatro. Bizet
serve para dar nome ao ideal de uma msica "danante", contra a
msica teatralizada de Wagner, msica aviltada porque, em vez de
ser a marcao do silncio da dana, a enfatizao do peso da
representao.
Essa idia segundo a qual a teatralidade o prprio princpio
da corrupo de todas as artes no minha. O leitor ver suficiente-
mente sobre isso mais adiante neste livro. Tampouco de Mallarm.
Mallarm enuncia exatamente o contrrio, quando escreve que o
teatro "uma arte superior". Mallarm v com clareza que existe
uma contradio entre os princpios da dana e os do teatro. Mas,
bem longe de concluir pela indignidade histrinica do teatro, su-
blinha sua supremacia artstica, sem com isso fazer a dana decair
em sua pureza conceitua1.
Como possvel? Para compreend-Io, preciso antes aventar
um enunciado provocante, mas necessrio: a dana no uma
arte. O erro de Nietzsche acreditar que existe uma medida co-
mum entre a dana e o teatro, medida que seria sua intensidade
93
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
artstica. Nietzsche, a seu modo, continua a dispor o teatro e a
dana em uma classificao das artes. Mallarm, em compensa-
o, quando declara que o teatro uma arte superior, no preten-
de de forma alguma afirmar com isso sua superioridade sobre a
dana. Certamente, ele no diz que a dana no uma arte, mas
possvel diz-Io em seu lugar, quando se penetra o sentido verda-
deiro dos seis princpios da dana.
A dana no uma arte porque o signo da possibilidade da
arte tal como inscrita no corpo.
Expliquemos um pouco essa mxima. Espinosa dizia que ten-
tamos saber o que o pensamento, enquanto no sabemos nem
mesmo do que um corpo capaz. Diria que a dana precisa-
mente o que mostra que o corpo capaz de arte, e a medida
exata na qual, num determinado momento, ele capaz de arte.
Mas dizer que o corpo capaz de arte no quer dizer fazer uma
"arte do corpo". A dana aponta para essa capacidade artstica
do corpo, sem por isso definir uma arte singular. Dizer que o
corpo, como corpo, capaz de arte, mostr-Ia como corpo-
pensamento. No como pensamento preso em um corpo, mas
como corpo que pensamento. essa a funo da dana: o
corpo-pensamento mostrando-se sob o signo desvanecente de
uma capacidade de arte. A sensibilidade para a dana de todos
ocorre porque a dana responde, sua maneira, questo de
Espinosa. Do que um corpo capaz como tal? capaz de arte,
ou seja, mostrvel como pensamento inato. Como denominar,
ento, a emoo que de ns se apodera, por menos que seja-
mos, ns, capazes de um fulgurante olhar impessoal e absoluto?
Minha denominao seria uma vertigem exata.
uma vertigem, porque nela o infinito aparece como latente
na finitude do corpo visvel. Se a capacidade do corpo, na manei-
ra da capacidade de arte, mostrar o pensamento inato, essa
capacidade de arte infinita, e o corpo danante ele prprio
infinito. Infinito no instante de sua graa area. Trata-se aqui, o
que vertiginoso, no da capacidade limitada de um exerccio do
94
A DANA COMO METFORA DO PENSAMENTO
corpo, mas da capacidade infinita da arte, de qualquer arte, tal
como arraigada no acontecimento que lhe prescreve sua sorte.
E, no entanto, essa vertigem exata. Pois, finalmente, a preci-
so retida que conta, que confirma o infinito, a lentido secreta,
e no o virtuosismo manifesto. uma preciso extrema, milime-
trada, da relao entre o gesto e o no-gesto.
E, assim, h a vertigem do infinito dada na exatido mais cons-
tante. A histria da dana parece-me regida pela renovao per-
ptua da relao entre vertigem e exatido. O que ir permanecer
virtual, o que ir-se atualizar, e como a reteno ir justamente
liberar o infinito? So os problemas histricos da dana. Essas
invenes so invenes de pensamento. Mas, como a dana no
uma arte, apenas um signo da capacidade do corpo para a arte,
elas seguem muito de perto toda a histria das verdades, inclusive
as verdades instrudas pelas artes propriamente ditas.
Por que existe uma histria da dana, uma histria da exatido
da vertigem? Porque no existe a verdade. Se existisse a verdade,
haveria uma dana exttica definitiva, uma encantao mstica do
acontecimento. Do que decerto est convencido o dervixe com suas
piruetas. Mas o que existe so verdades dspares, um aleatrio ml-
tiplo de acontecimentos de pensamento. A dana adapta-se na hist-
ria dessa multiplicidade. O que supe uma redistribuio constante
da relao entre a vertigem e a exatido. necessrio tornar a provar
o tempo todo que o corpo de hoje capaz de mostrar-se como
corpo-pensamento. No entanto, hoje, jamais outra coisa seno as
verdades novas. A dana vai danar o tema referente ao aconteci-
mento inato dessas verdades. Nova vertigem, nova exatido.
Desse modo, necessrio voltar ao nosso incio. Sim, a dana
de fato, toda vez, um novo nome que o corpo d terra. Mas
nenhum novo nome o derradeiro. A dana, apresentao corpo-
ral do prenome das verdades, renome ia a terra incessantemente.
No que ela de fato o inverso do teatro, o qual nada tem a ver
com a terra, nem com seu nome, nem mesmo com aquilo de que
um corpo capaz. Pois o teatro por seu lado um filho, em parte
95
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
do Estado e da poltica, em parte da circulao do desejo entre os
sexos. Filho bastardo de Plis e Eros. Como iremos anunciar
axiomaticamente.
96
7
TESES SOBRE O TEATRO
1. Estabelecer, como convm para qualquer arte, que o teatro
pensa. O que se deve entender aqui por "teatro"? Ao contrrio da
dana, que est sob a regra nica de um corpo capaz de permutar
o ar e a terra (e mesmo a msica no lhe essencial), o teatro um
arranjo. O arranjo de componentes materiais e ideais extrema-
mente dspares, cuja nica existncia a representao. Esses
componentes (um texto, um lugar, corpos, vozes, trajes, luzes, um
pblico ...) esto unidos em um acontecimento, a representao,
cuja repetio noite aps noite absolutamente no impede que ele
seja todas as vezes um acontecimento, isto , singular. Afirma-
remos ento que esse acontecimento - que realmente teatro,
arte do teatro - um acontecimento de pensamento. O que quer
dizer que o arranjo dos componentes produz diretamente idias
(enquanto a dana produz mais a idia de que o corpo portador
de idias). Essas idias - isso um ponto fundamental - so
idias-teatro. O que quer dizer que no podem ser produzidas em
nenhum outro lugar, por nenhum outro meio. E tambm que
nenhum dos componentes isoladamente est apto a produzir as
idias-teatro, nem mesmo o texto. A idia advm dentro da repre-
sentao e pela representao. irredutivelmente teatral e no
preexiste sua vinda "ao palco".
97
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
2. Uma idia-teatro , antes de mais nada, uma clareira. Vitez
costumava dizer que o teatro assumia como objetivo esclarecer-
nos sobre nossa situao, orientar-nos na histria e na vida. Escre-
via que o teatro devia tornar legvel a vida inextricvel. O teatro
uma arte da simplicidade ideal, obtida por uma cunhagem tpica.
Essa prpria simplicidade acaba presa na clareira do emaranhado
vital. O teatro uma experincia, material e textuaf, da simplifica-
o. Separa o que est embaralhado e confuso, e essa separao
guia as verdades de que ele capaz. No creiamos, contudo, que a
obteno da simplicidade seja ela prpria simples. Em matemti-
ca, simplificar um problema ou uma demonstrao depende mui-
tas vezes da arte intelectual mais densa. E, da mesma forma, no
teatro, separar e simplificar a vida inextricvel exige os meios de
arte mais variados e difceis. A idia-teatro, como abertura pblica
da histria ou da vida, s ocorre no auge da arte.
3. A vida inextricvel essencialmente duas coisas: o desejo
que circula entre os sexos e as figuras, exaltadas ou mortferas, do
poder poltico e social. A partir da houve - h sempre - a
tragdia e a comdia. A tragdia a representao do Grande
Poder e dos impasses do desejo. A comdia a representao dos
pequenos poderes, dos papis de poder, e da circulao flica do
desejo. O que a tragdia pensa , em suma, a experincia estatal
do desejo. O que a comdia pensa sua experincia familiar.
Todo gnero que se pretende intermedirio trata a famlia como
se ela fosse um Estado (Strindberg, Ibsen, Pirandello), ou o Estado
como se fosse uma famlia ou um casal (Claudel, etc.). O teatro
pensa, no final das contas, no espao aberto entre a vida e a
morte, o entrelaamento do desejo e da poltica. Pensa-o sob for-
ma de acontecimento, ou seja, de intriga e de catstrofe.
4. No texto ou no poema, a idia-teatro incompleta. Pois ela
est ali retida em uma espcie de eternidade. Mas, justamente, a
idia-teatro, na medida em que est apenas em sua forma eterna,
98
I
I'
li
II
I
I
TESESSOBRE o TEATRO
no ainda ela mesma. A idia-teatro s vem com o tempo (bre-
ve) da representao. A arte do teatro decerto a nica que tem
de completar uma eternidade com o que lhe falta de instantneo.
O teatro vai da eternidade rumo ao tempo, e no o inverso. Deve-
se ento compreender que a encenao, que rege - tanto quanto
pode, j que so to heterogneos - os componentes do teatro,
no uma interpretao, como se acredita normalmente. O ato
teatral uma complementao singular da idia-teatro. Toda re-
presentao um remate possvel dessa idia. O corpo, a voz, a
luz, etc. vm rematar a idia (ou, se o teatro faltar a si mesmo,
inacab-la ainda mais do que est no texto). O efmero do teatro
no diretamente o fato de uma representao comear, acabar e
s deixar vestgios obscuros no final. , antes de mais nada, o
seguinte: uma idia eterna incompleta na experincia instantnea
de seu trmino.
5. A experincia temporal contm uma forte parcela de acaso.
O teatro sempre a complementao da idia eterna por um
acaso um pouco governado. A encenao muitas vezes uma
triagem pensada de acasos. Quer esses acasos completem de
fato a idia, quer dissimulem-na. A arte do teatro reside em uma
escolha, simultaneamente muito douta e cega (vejam como traba-
lham os grandes diretores), entre configuraes cnicas aleat-
rias, que completam a idia (eterna) com o que lhe falta, e outras
configuraes, s vezes muito sedutoras, mas que permanecem
exteriores e agravam a incompletude da idia. Deve-se acreditar,
portanto, neste axioma: jamais uma representao teatral supri-
mir o acaso.
6. No acaso, deve-se contar o pblico. Pois o pblico faz parte
do que completa a idia. Quem no sabe que, segundo o pblico
seja assim ou assado, o ato teatral entrega ou no a idia-teatro,
complementando-a? Mas, se o pblico faz parte do acaso, deve
ser ele prprio o mais aleatrio possvel. preciso ir contra qual-
99
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
TESESSOBRE o TEATRO
quer concepo do pblico que o veria como uma comunidade,
uma substncia pblica, um conjunto consistente. O pblico re-
presenta a humanidade em sua prpria inconsistncia, em sua
variedade infinita. Quanto mais unificado (socialmente, nacional-
mente, civilmente ...), menos til complementao da idia,
menos sustenta no tempo sua eternidade e sua universalidade. S
vale um pblico genrico, um pblico casual.
7. A crtica est encarregada de cuidar do carter aleatrio do
pblico. Sua funo carregar a idia-teatro, tal como a recebe,
bem ou mal, rumo ao ausente e ao annimo. Convoca as pessoas
para virem, por sua vez, completar a idia. Ou pensa que essa
idia, que veio em determinado dia na experincia aleatria que a
completa, no merece ser honrada pelo acaso ampliado de um
pblico. A crtica trabalha, portanto, tambm para a vinda multi-
forme das idias-teatro. Ela faz passar (ou no passar) da "estria"
a essas outras estrias, que so as seguintes. Evidentemente, se
seu destinatrio for restrito demais, comunitrio demais, social-
mente marcado demais (porque o jornal de direita, ou de es-
querda, ou s atinge um grupo "cultural", etc.), s vezes ela trabalha
contra o genrico do pblico. Contar-se-, portanto, com a multi-
plicidade, ela mesma fortuita, dos jornais e das crticas. A crtica
deve vigiar, no sua parcialidade, que necessria, mas o acom-
panhamento das modas, o plgio, o diz-que-diz em srie, o esp-
rito "navegar ao sabor do vento" ou o servio de uma audincia
demasiadamente comunitria. Quanto a isso, deve-se reconhecer
que um bom crtico - a servio do pblico como representao
do acaso - caprichoso, imprevisvel. Quaisquer que sejam os
agudos sofrimentos que ele inflige. No se pedir que o crtico
seja justo, pedir-se- que seja um representante instrudo do acaso
pblico. Se, alm disso, ele quase no se enganar sobre a vinda
das idias-teatro, ser um grande crtico. Mas de nada serve pedir
a uma corporao, nem a esta, nem a alguma outra, que inscreva
em seus estatutos a obrigao da grandeza.
o
.......
100
f ~t~~P ',)."n.)
D','vi\C':;') '>::,l:,"teca" j,~d1~ ._".:::)!Iv~,,$'; ~
I'
.,
'l,
i.
~:
i~
~
II
~
i
li
I
I
i;
~
~
i
'"t-I
~~
~I
'01'1
fI
-1,
cr--"
Q- II
I
I
I
-:
I~ .. 11.
I
I
8. No acho que a principal questo de nossa poca seja o
horror, o sofrimento, o destino ou o desamparo. Estamos satu-
rados disso e, ademais, a fragmentao de tudo isso em idias-
teatro incessante. S vemos teatro coral e de compaixo. Nossa
questo a da coragem afirmativa, da energia local. Apoderar-se
de um ponto e segur-Io. Nossa questo , portanto, menos a das
condies de uma tragdia moderna do que a das condies de
uma comdia moderna. Beckett, cujo teatro, corretamente levado
a cabo, hilariante, sabia disso. mais inquietante que no saiba-
mos revisitar Aristfanes ou Plauto do que rejubilante verificar,
mais uma vez, que sabemos dar fora a squilo. Nosso tempo
exige uma inveno, a que entrelaa em cena a violncia do dese-
jo e os papis do pequeno poder local. A que transmite em idias-
teatro tudo de que a cincia popular capaz. Queremos um teatro
da capacidade, no da incapacidade.
9. O obstculo no caminho de uma energia cmica contempornea
a recusa consensual da tipificao. A "democracia" consensual tem
horror a qualquer tipificao das categorias subjetivas que a com-
pem. Tentem fazer gingar no palco ou ridicularizar um papa, um
grande mdico conhecido das mdias, um figuro de instituio hu-
manitria ou uma dirigente do sindicato das enfermeiras! Temos
infinitamente mais tabus que os gregos. Deve-se quebrant-Ios aos
poucos. O dever do teatro recompor em cena situaes vvidas,
articuladas, valendo-se de alguns tipos essenciais. E propor para o
nosso tempo o equivalente dos escravos e criados da comdia, gen-
te excluda e invisvel, que de repente, pelo efeito da idia-teatro,
representam no palco a inteligncia e a fora, o desejo e o domnio.
10. A dificuldade geral do teatro, em todas as pocas, sua
relao com o Estado. Pois est sempre encostado nele. Qual a
forma moderna dessa dependncia? delicado determin-Ia.
preciso fugir de uma viso de tipo reivindicativo, que faria do teatro
uma profisso assalariada como as outras, um setor lamuriento da
101
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
opinio pblica, um funcionarismo cultural. Mas tambm preciso
evitar um mero ato arbitrrio do poder, que instala no teatro lobbies
cortesos, servis com relao s flutuaes da poltica. Para isso,
necessria uma idia geral que, na grande maioria das vezes, utili-
za os equvocos e as divises do Estado (assim, o artista-corteso,
como Moliere, pode jogar a platia contra o pblico nobre, ou
esnobe, ou devoto, contando com a cumplicidade do rei, que tem
suas prprias contas a acertar com seu squito feudal e clerical; e
Vitez, o comunista, pode ser nomeado para o teatro de Chaillot por
Michel Guy, porque a envergadura ministerial do homem de bom
gosto lisonjeia a "modernidade" de Giscard d'Estaing, etc.). ver-
dade que, para manter no Estado a necessidade da apario das
idias-teatro, preciso uma idia (a descentralizao, o teatro po-
pular, "elitista para todos", e assim por diante). Por enquanto, essa
idia imprecisa demais, da nossa morosidade. O teatro deve
pensar sua prpria idia. S pode guiar-nos a convico de que
hoje, mais do que nunca, o teatro, na medida em que pensa, no
um dado da cultura, mas da arte. O pblico no vai ao teatro para
se deixar cultivar. No uma florzinha, nem um chuchu. O teatro
depende da ao restrita, e todo confronto com os medidores de
audincia lhe ser fatal. O pblico vem ao teatro para se comover,
comover-se com as idias-teatro. No sai culto, mas aturdido, cansado
(pensar cansa), devaneando. No encontrou, nem mesmo na maior
gargalhada, com o que se satisfazer. Encontrou idias de cuja exis-
tncia no desconfiava.
11. Esse aspecto talvez seja o que distingue o teatro do cinema,
do qual o aparente rival azarado (e na medida em que compar-
tilham muitas coisas - intrigas, roteiros, figurino, sesses, etc.,
mas, acima de tudo, os atores, esses bandidos bem-amados): no
teatro trata-se explicitamente, quase fisicamente do encontf<? com
uma idia, enquanto no cinema - pelo menos, estou-me prepa-
rando para sustent-Io - trata-se de sua passagem, e quase de
seu fantasma.
102
8
OS FALSOS MOVIMENTOS DO CINEMA
Um filme funciona pelo que retira do visvel, nele a imagem
primeiro cortada. Nele, o movimento entravado, suspenso, inver-
tido, paralisado. Mais essencial que a presena o corte, no ape-
nas pelo efeito da montagem, mas j e de imediato pelo do
enquadramento e da depurao dominada do visvel. absoluta-
mente importante no cinema que essas flores mostradas, como em
uma determinada seqncia de Visconti, sejam flores de Mallarm,
que elas sejam as ausentes de todo buqu. Eu as vi, essas flores,
mas o modo prprio segundo o qual elas so cativas de um corte
faz que existam, indivisivelmente, sua singularidade e sua idealidade.
Toda a diferena em relao pintura que no o fato de
v-Ias que funda em pensamento a Idia, mas o de t-Ias visto. O
cinema uma arte do passado perptuo, no sentido de que o
passado institudo com a passagem. O cinema visitao: do
que eu teria visto ou ouvido, a idia permanece enquanto passa.
Eis a operao do cinema, cuja possibilidade inventada pelas
operaes prprias de um artista: organizar o afloramento interno
ao visvel da passagem da idia.
Assim, o movimento no cinema deve ser pensado de trs ma-
neiras diferentes. Por um lado, traz a idia eternidade paradoxal
de uma passagem, de uma visitao. Existe uma rua em Paris que
se chama passage de Ia Visitation; poderia chamar-se rue du Cinma.
103
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Trata-se, nesse caso, do cinema como movimento global. Por ou-
tro lado, o movimento, por operaes complexas, o que subtrai
a imagem de si mesma, o que faz que ela seja no apresentada,
embora inscrita. Pois no movimento que se encarnam os efeitos
de corte. Mesmo, e sobretudo, como se v em ]ean-Marie Straub,
quando a parada aparente do movimento local que revela o esva-
ziamento do visvel. Ou, como em Murnau, quando o avano de
um bonde que organiza a topologia segmentria de um subrbio
sombreado. Digamos que a temos os atos do movimento local. E,
enfim, o movimento circulao impura no total das outras ativi-
dades artsticas, ele aloja a idia na aluso contrastante, ela pr-
pria subtrativa, a artes arrancadas de sua destinao.
de fato impossvel pensar o cinema fora de uma espcie de
espao geral onde se apreende sua conexo com as outras artes.
Ela a stima arte em um sentido bem particular. No se acres-
centa s seis outras no mesmo plano que elas; implica-as, o
mais-um das outras seis. Age sobre elas, a partir delas, por um
movimento que as subtrai a elas mesmas.
Perguntemo-nos, por exemplo, o que Falso movimento [Falsche
Bewegung], de Wim Wenders, deve a Wilhelm Meister, de Goethe.
Trata-se, nesse caso, de cinema e de romance. Deve-se admitir que
o filme no existiria, ou melhor, no teria existido sem o romance.
Mas qual o sentido dessa condio? Ou, mais precisamente: em
quais condies prprias ao cinema essa condio romanesca de
um filme possvel? Questo tortuosa, difcil. V-se claramente
que so convocados dois operadores: que haja narrativa ou som-
bra de narrativa; que haja personagens ou aluses a personagens.
Algo no fIlme opera fIlmicamente ecoando, por exemplo, o persona-
gem de Mignon. No entanto, a liberdade da prosa romanesca
no revelar os corpos, cuja infinidade visvel escapa descrio
mais detalhada. Aqui, o corpo dado pela atriz, mas "atriz" um
termo de teatro, um termo da representao. E eis que o filme j
arranca o romanesco de si mesmo por uma antecipao teatral.
Ora, v-se nitidamente que a idia flmica de Mignon est precisa-
104
OS FALSOS MOVIMENTOS DO CINEMA
mente alojada, por um lado, nesse arrancar. colocada entre teatro
e romance, mas tambm num "nem um nem outro", do qual toda
a arte de Wenders sustentar a passagem.
Se eu agora me perguntar o que Morte em Veneza de Visconti
deve a Morte em. Veneza de Thomas Mann, eis-me de imediato
deportado em direo msica. Pois a temporalidade da passa-
gem ditada - lembremos a seqncia de abertura - muito
menos pelo ritmo prosdico de Thomas Mann do que pelo adgio
da Quinta Sinfonia de Mahler. Suponhamos que aqui a idia seja
a ligao entre a melancolia amorosa, a divindade do lugar e a
morte. Visconti monta a visitao dessa idia na brecha que uma
msica abre no visvel, em detrimento da prosa, j que ali nada
ser dito, nada ser textual. O movimento subtrai o romanesco
lngua e o retm em uma margem movedia entre msica e lugar.
Porm, por sua vez, msica e lugar fazem um intercmbio de seus
valores prprios, de modo que a msica anulada por aluses
pictricas, enquanto toda estabilidade pictrica se dissolve na
msica. Essas transferncias e dissolues sero exatamente aqui-
lo que no final ter feito todo o real da passagem da idia.
Poderamos chamar de "potica do cinema" o entrelaamento
das trs acepes do termo "movimento", em que todo o efeito
que a Idia visite o sensvel. Insisto no fato de que ela no se
encarna no sensvel. O cinema desmente a tese clssica segundo a
qual a arte a forma sensvel da Idia. Pois a visitao do sensvel
pela Idia no lhe proporciona corpo algum. A Idia no sepa-
rvel, s existe no cinema em sua passagem. A prpria Idia
visitao.
Vamos dar um exemplo. O que acontece em Falso movimento
quando um personagem gordo l finalmente seu poema, cuja exis-
tncia ele diversas vezes anunciou?
Se nos referirmos ao movimento global, diremos que essa lei-
tura como um corte em corridas anrquicas, a errncia de todo o
grupo. O poema est instalado como idia do poema por um
efeito de margem, de interrupo. Desse modo, passa a idia que
105
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
todo poema uma interrupo da lngua, concebida como sim-
ples ferramenta de comunicao. O poema detm a lngua sobre si
mesma. Exceto que aqui, claro, a lngua s filmicamente a cor-
reria, a perseguio, uma espcie de falta de flego desvairada.
Se nos referirmos ao movimento local, diremos que a visibi-
lidade do leitor, seu prprio assombro mostram-no presa da anu-
lao de si no texto, no anonimato em que se torna. Poema e
poeta suprimem-se reciprocamente. O resduo uma espcie de
espanto de existir, espanto de existir que talvez seja o verdadeiro
tema do filme.
Se, finalmente, considerarmos o movimento impuro das artes,
vemos que na realidade o potico no filme o arrancar de si do
potico suposto no poema. Pois o que conta justamente que um
ator, ele prprio impurificao do romanesco, leia um poema, que
no um poema, para que seja montada a passagem de uma idia
completamente diferente, ou seja, que esse personagem no po-
der, jamais poder, apesar de seu enorme desejo, ancorar-se nos
outros, constituir a partir deles uma estabilidade de seu ser. O
espanto de existir, como acontece muitas vezes nas primeiras obras
de Wenders, antes dos anjos, se que posso dizer isso, o ele-
mento solipsista, aquele que, mesmo de muito longe, enuncia que
um alemo no pode com toda a tranqilidade entrar num acordo
com outros alemes e ligar-se a eles, defeito hoje pronuncivel,
com toda a clareza poltica, do ser alemo como tal. A potica do
filme , assim, no entrelaamento dos trs movimentos, a passa-
gem de uma idia que no simples. Tanto no cinema quanto em
Plato, as verdadeiras idias so mistas, e qualquer tentativa de
univocidade desfaz o potico. Em nosso exemplo, essa leitura do
poema faz aparecer, ou passar, a idia de um elo de idias: existe
um elo, propriamente alemo, entre o que o poema, o espanto
de existir e a incerteza nacional. essa idia que visita a seqn-
cia. E para que sua complexidade, sua mistura sejam o que nos
ter convocado a pensar, necessrio o entrelaamento de trs
movimentos: o movimento global, pelo qual a idia sempre ape-
106
OS FALSOS MOVIMENTOS DO CINEMA
nas sua passagem, o movimento local, pelo qual ela tambm
diferente do que ela , diferente de sua imagem, e o movimento
impuro, pelo qual ela se aloja nas fronteiras movedias entre su-
posies artsticas abandonadas.
Da mesma maneira que a poesia parada na lngua pelo efeito
de um artifcio codificado de seu manuseio, os movimentos que a
potica do cinema entrelaa so de fato falsos movimentos.
O movimento global falso, pois nenhuma medida lhe con-
vm. A subestrutura tcnica organiza um movimento discreto e
uniforme, em que toda a arte no lhe atribuir nenhuma impor-
tncia. As unidades de montagem, como os planos ou as seqn-
cias, so finalmente compostas, no na medida de um tempo, mas
em um princpio de proximidade, de lembrana, de insistncia ou
de ruptura, cujo pensamento verdadeiro bem mais uma topologia
do que um movimento. O falso movimento, pelo qual a idia s
dada como passagem, impe-se como filtrado por esse espao de
composio, presente desde a filmagem. Digamos que h idia
porque h um espao de composio e que h passagem porque
esse espao se entrega ou se expe como tempo global. Assim,
em Falso movimento, a seqncia dos trens que se roam e se
afastam uma meto nmia de todo o espao de composio. Seu
movimento pura exposio de um stio, onde proximidade sub-
jetiva e afastamento so indiscernveis, o que de fato a idia do
amor em Wenders. O movimento global no passa do estiramento
pseudonarrativo desse stio.
O movimento local falso, pois no passa do efeito de uma
subtrao da imagem e tambm do dizer a eles mesmos. Tam-
pouco h aqui movimento original, movimento em si. O que h
uma visibilidade forada que, no sendo reproduo do que quer
que seja - digamos de passagem que o cinema a arte menos
mimtica -, cria um efeito temporal de percurso para que esse pr-
prio visvel seja atestado de certa forma "fora da imagem", atestado
pelo pensamento. Estou pensando, por exemplo, na seqncia de
A marca da maldade, de Orson Welles, em que o policial gordo
107
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
crepuscular visita Marlene Dietrich. O tempo local s induzido
ali porque de fato Marlene Dietrich a quem Welles visita e por-
que a idia no coincide de forma alguma com a imagem, que
deveria ser a de um policial na casa de uma prostituta que est
envelhecendo. De modo que a lentido quase cerimoniosa da
conversa resulta do fato de que essa imagem aparente deve ser
percorrida pelo pensamento at o ponto em que, por uma inver-
so dos valores fictcios, seja de Marlene Dietrich e de Orson Welles,
e no ele um policial e de uma prostituta, que se trata aqui. Da a
imagem ser arrancada de si mesma para ser restituda ao real do
cinema. Aqui, por sinal, o movimento local orienta-se em direo
ao movimento impuro, porque a idia, que a de uma gerao
agonizante de artistas, instala-se margem do cinema, e igual-
mente do filme e do cinema como configurao, ou, como arte,
margem do cinema e de si mesmo, ou ainda, do cinema como
efetividade e do cinema como coisa do passado.
E, finalmente, o movimento impuro o mais falso de todos,
porque no existe na realidade qualquer meio de fazer um movi-
mento de uma arte a outra. As artes so fechadas. Nenhuma pintu-
ra jamais transformar-se- em msica, nenhuma dana em poema.
Todas as tentativas diretas nesse sentido so inteis. E, contudo, o
cinema ele fato a organizao desses movimentos impossveis.
No entanto, isso mais uma vez apenas uma subtrao. A citao
alusiva s outras artes, constitutiva do cinema, arranca-as delas
mesmas, e o que permanece justamente a margem desfalcada
por onde a idia ter passado, tal como o cinema, e s ele, auto-
riza sua visitao.
Assim, o cinema, tal como existe nos filmes, entrelaa trs fal-
sos movimentos. Por essa triplicidade, entrega como passagem
pura a miscigenao e a impureza ideal que se apoderam de ns.
O cinema uma arte impura. mesmo o mais-um das artes,
parasitrio e inconsistente. Mas sua fora de arte contempornea
justamente imaginar, no intervalo de tempo de uma passagem, a
impureza de qualquer idia.
108
os FALSOS MOVIMENTOS DO CINEMA
Essa impureza, assim como a da Idia, no obriga, porm, para
falar somente de um filme, a desvios estranhos, a esses "longos
desvios" cuja necessidade filosfica Plato estabelece? visvel
que a crtica de cinema est sempre suspensa entre a tagarelice da
empatia e a tecnicidade historiadora. A menos que se trate apenas
de contar a histria (impureza romanesca fatal) ou de vangloriar
os atores (impureza teatral). possvel falar de um filme com
tanta facilidade?
H uma primeira maneira de falar dele que dizer "Gostei" ou
"No me entusiasmou". Essas frases so indistintas, pois a regra
do "agradar" deixa sua norma escondida. Com relao a qual ex-
pectativa recai o juzo? Um romance policial pode tambm agra-
dar ou no, ser bom ou ruim. Essas distines no tornam o
romance policial em questo uma obra-prima da arte literria.
Designam mais a qualidade, a cor do breve tempo passado em sua
companhia. Depois disso, vem uma perda de memria indiferen-
te. Vamos chamar esse primeiro tempo da palavra de juzo indis-
tinto. Ele considera o indispensvel intercmbio de opinies, que
muitas vezes tem como objeto, desde a considerao de como
est o tempo at o que a vida promete ou subtrai de momentos
agradveis e precrios.
Existe uma segunda maneira de falar de um filme, que preci-
samente defend-Io do juzo indistinto. De mostrar, o que j su-
pe alguns argumentos, que esse filme no apenas situvel na
pasmaceira entre prazer e esquecimento. No apenas bom, bom
em seu gnero, mas possvel prever ou estabelecer alguma Idia
a seu respeito. Um dos sinais superficiais dessa mudana de regis-
tro o fato do autor do filme ser mencionado - mencionado
como autor. J o juzo indistinto, esse menciona prioritariamente
os atores, ou os efeitos, ou uma cena impressionante, ou a hist-
ria contada. Essa segunda espcie de juzo tenta designar uma
singularidade da qual o autor o smbolo. Essa singularidade o
que resiste ao juzo indistinto. Tenta separar o que dito acerca
do filme do movimento geral da opinio. Essa separao tambm
109
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
a que isola um espectador, que percebeu e denominou a singula-
ridade, da massa de um pblico. Chamemos esse juzo de juzo
diacrtico. Ele argumenta pela considerao do filme como estilo.
O estilo o que se ope ao indistinto. Ligando o estilo ao autor, o
juzo diacrtico prope que se salve algo do cinema, que ele no
seja destinado ao esquecimento dos prazeres. Que sejam distin-
guidos no tempo alguns nomes, algumas figuras do cinema.
O juzo diacrtico no passa, na realidade, da negao frgil do
juzo indistinto. A experincia mostra que ele salva menos os fil-
mes que os prprios nomes de autores, menos a arte do cinema
que alguns elementos dispersos das estilsticas. Eu ficaria bastante
tentado a dizer que o juzo dia crtico para os autores o que o
juzo indistinto para os atores: o indcio de uma rememorao
provisria. Afinal de contas, o juzo diacrtico define uma forma
sofisticada ou diferencial da opinio comum. Designa, constitui o
cinema "de qualidade". Mas a histria do cinema de qualidade
no esboa a longo prazo qualquer configurao artstica. Esboa,
antes, a histria, sempre surpreendente, da crtica de cinema. Pois,
em todas as pocas, a crtica que fornece suas referncias ao
juzo diacrtico. A crtica denomina a qualidade. Mas, ao fazer isso,
ela prpria ainda demasiadamente indistinta. A arte infinita-
mente mais rara do que a melhor crtica pode supor. J se sabia
disso lendo os crticos literrios de outrora, como Sainte-Beuve.
A viso que eles do de seu sculo, por seu sentido inegvel da
qualidade, seu vigor diacrtico, artisticamente absurda.
Na realidade, um segundo esquecimento envolve os efeitos do
juzo diacrtico em uma durao decerto diferente do esquecimen-
to provocado pelo juzo indistinto, mas em ltima anlise igual-
mente peremptrio. Cemitrio de autores, a qualidade designa
menos a arte de uma poca do que sua ideologia artstica. Ideolo-
gia em que sempre a arte verdadeira uma abertura.
Deve-se imaginar, portanto, uma terceira maneira de falar de
um filme que no seja indistinta ou diacrtica. Vejo nela dois traos
exteriores.
110
T
OS FALSOS MOVIMENTOS DO CINEMA
Em primeiro lugar, o juzo lhe indiferente. Pois toda posio
defensiva abandonada. Que o filme seja bom, que tenha agrada-
do, que no seja comensurvel aos objetos do juzo indistinto, que
seja necessrio distingui-Io, tudo isso suposto silenciosamente
pelo simples fato de que dele se fale e no seja de forma alguma
o objetivo a ser atingido. No a regra que se aplica s obras
artsticas criadas no passado? Algum ousa achar significativo que
a Orstia, de squilo, ou A comdia humana, de Balzac, tenham
"agradado"? Que no sejam "realmente nada ms"? O juzo indis-
tinto ento ridculo. Mas o juzo diacrtico tambm o . Tampouco
se exige que algum se esforce exausto para provar que o
estilo de Mallarm superior ao de Sully Prudhomme, o qual,
entre parnteses, era considerado de excelente qualidade em sua
poca. Falaremos, assim, do filme no compromisso incondicio-
nado de uma convico de arte, no com a finalidade de expor,
mas para estudar suas conseqncias. Digamos que se passe do
juzo normativo, indistinto (" bom") ou diacrtico (" superior") a
uma atitude axiomtica, que pergunta quais so os efeitos deste
ou daquele filme para o pensamento.
Falemos, portanto, de juzo axiomtico.
E, se verdade que o cinema trata a Idia maneira de uma
visitao ou de uma passagem, e que o faz em um irremedivel
elemento de impureza, falar axiomaticamente de um filme seria
examinar as conseqncias do prprio modo como uma Idia
assim tratada por esse filme. As consideraes formais, de corte,
plano, movimento global ou local, de cor, atuantes corporais, som,
etc., s devem ser citadas na medida em que contribuem para o
"toque" da Idia e para a captura de sua impureza inata.
Um exemplo: a sucesso dos planos que, no Noiferatu de
Murnau, assinala a aproximao do stio do prncipe dos mortos.
Sobrexposio das pradarias, cavalos assustados, cortes tempes-
tuosos, tudo isso desenvolve a Idia de um tocar da iminncia, de
uma visitao antecipada do dia pela noite, de um no man's land
entre a vida e a morte. No entanto, h tambm uma mistura impura
111
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
dessa visitao, algo manifestamente potico em demasia, uma
suspenso que deporta a viso rumo espera e inquietude, em
vez de nos mostr-Ia em seu contorno estabelecido. Aqui nosso
pensamento no contemplativo, ele prprio arrebatado, viaja
em companhia da Idia, mais do que dela se apodera. Aconseqn-
cia disso que justamente o pensamento possvel a partir de um
pensamento-poema que atravessa a Idia, que menos um corte
do que uma apreenso pela perda.
Falar de um filme ser muitas vezes mostrar como ele nos
convoca a determinada Idia na fora de sua perda; ao inverso da
pintura, por exemplo, que por excelncia a arte da Idia minu-
ciosa e integralmente dada.
Esse contraste empenha-me no que considero a dificuldade
principal para falar axiomaticamente de um filme. falar dele
como filme. Pois, quando o filme organiza realmente a visitao
de uma Idia - e o que supomos, j que falamos disso -, est
sempre em uma relao subtrativa, ou defectiva, com uma ou
muitas outras artes. Manter o movimento a partir da defeco, e
no da plenitude de seu suporte, o mais delicado. Sobretudo
porque o caminho formalista, que leva a pretensas operaes
flmicas "puras", um impasse. Tornamos a dizer: nada no cinema
puro, ele contaminado interior e integralmente por sua situa-
o de mais-um entre as artes.
Vamos dar outra vez como exemplo a longa travessia dos ca-
nais no incio de Morte em Veneza, de Visconti. A idia que passa
- e que todo o resto do filme ao mesmo tempo sutura e dissolve
- a de um homem que fez o que tinha de fazer na existncia e
que, portanto, est suspenso entre um final e uma outra vida. Ora,
essa idia organiza-se pela convergncia dspar de muitos ingre-
dientes; h o rosto do ator Dick Bogarde, a qualidade particular
de opacidade e de interrogao que esse rosto carrega, que na
verdade procede, queiramos ou no, da arte do ator; existem os
inmeros ecos artsticos do estilo veneziano, completamente vincu-
lados ao tema do que est acabado, saldado, retirado da histria,
112
OS FALSOS MOVIMENTOS DO CINEMA
temas pictricos j presentes em Guardi ou Canaletto, temas lite-
rrios de Rousseau a Proust; existe, para ns, nesse tipo de via-
jante dos grandes palcios europeus, o eco da incerteza sutil
tramada, por exemplo, pelos heris de Henry James; existe a
msica de Mahler, que tambm o remate distendido, exaspe-
rado, de uma total melancolia, da sinfonia tonal e de seu aparato
de timbres (aqui, s as cordas). E possvel mostrar como esses
ingredientes ao mesmo tempo amplificam e corroem uns aos outros
em uma espcie de decomposio por excesso, que justamente
d a idia, e como passagem, e como impureza. Mas o que aqui
o filme, propriamente?
Afinal, o cinema so apenas tomadas e montagem. Nada alm
disso. Quero dizer: nada alm disso "o filme". necessrio susten-
tar, portanto, que, considerado segundo o juzo axiomtico, um
filme o que expe a passagem da idia de acordo com a tomada
e a montagem. Como a idia chega sua tomada, e at sua sur-
presa?* E como montada? Mas principalmente: o que o fato de
ser tomada e montada na mais-uma heterclita das artes revela-
nos de singular, e que no podamos anteriormente saber, ou pen-
sar, dessa idia?
No exemplo do filme de Visconti, est claro que tomada e
montagem conspiram para estabelecer uma durao. Durao ex-
cessiva, homognea perpetuao vazia de Veneza, assim como
estagnao do adgio de Mahler e ao desempenho de um ator
imvel, inativo, do qual s se exige, interminavelmente, o rosto.
Conseqentemente, o que capturado aqui da idia de um ho-
mem suspenso em seu ser, ou em seu desejo, de fato que tal
homem por si mesmo imvel. Os recursos antigos esgotaram-se,
as novas possibilidades esto ausentes. A durao flmica, com-
posta da harmonia de muitas artes entregues a seus defeitos, a
visitao de uma imobilidade subjetiva. Eis um homem doravante
Jogo de palavras entre prise (que aqui tem o sentido de tomada) e sur-prise (sur-
presa), que se perde em portugus. (N.T.)
113
entregue ao capricho de um encontro. Um homem, como diria
Samuel Beckett, "imvel na escurido", at que lhe chegue a delcia
incalculvel de seu carrasco, ou seja, de seu novo desejo, se vier.
Ora, o que importa que tenhamos deixado claro aqui a ver-
tente imvel dessa idia. Quanto s outras artes, seria possvel
mostrar que ou elas transmitem a Idia como doao - no topo
dessas artes, a pintura - ou elas inventam um tempo puro da
Idia, exploram as configuraes da dependncia do pensvel -
no topo dessas artes, a msica. O cinema, pela possibilidade que
lhe prpria, em tomadas e montagem, de amalgamar as outras
artes sem apresent-Ias, pode, e deve, organizar a passagem do
que imvel.
Mas tambm a imobilidade da passagem, como se mostraria
com facilidade na relao que certos planos de Jean-Marie Straub
mantm com o texto literrio, seu ritmo, sua progresso. Ou tam-
bm com o que o incio de Tempo de diverso [Playtime], de
Jacques Tati, institui de dialtico entre o movimento de uma mul-
tido e a vacuidade do que se poderia chamar sua composio
atmica. O que faz com que Tati trate do espao como condio
para uma passagem imvel. Falar axiomaticamente de um filme
ser sempre decepcionante, porque nos expomos a torn-Io ape-
nas um rival catico das artes primordiais. Mas podemos agarrar
esse fio: mostrar como esse filme faz-nos viajar com essa idia, de
tal modo que descobrimos o que nada alm dele poderia nos
fazer descobrir: que, como PIato j pensava, o impuro da Idia
sempre que uma imobilidade passe, ou que uma passagem seja
imvel. E por isso que esquecemos as idias.
Contra o esquecimento, Plato convoca o mito de uma viso
primeira e de uma reminiscncia. Falar de um filme sempre falar
de uma reminiscncia: de qual vinda inesperada, de qual reminis-
cncia, esta ou aquela idia capaz, capaz para ns? desse
ponto que todo filme verdadeiro trata, idia por idia. Das liga-
es do impuro, do movimento e do repouso, do esquecimento e
da reminiscncia. No tanto do que sabemos, seno do que no
114
~
~'
podemos saber. Falar de um filme falar menos dos recursos do
pensamento que dos seus possveis, uma vez garantidos, manei-
ra das outras artes, os recursos. Indicar o que poder haver nele,
alm do que h. Ou ainda: como a impurificao do puro abre
caminho a outras purezas.
Assim, o cinema inverte o imperativo literrio que diz: fazer de
modo que a purificao da lngua impura abra caminho a impure-
zas inditas. Os riscos so, alm disso, opostos. O cinema, esse
grande impurificador, continua correndo o risco de agradar de-
mais, de ser uma representao do aviltamento. A verdadeira lite7
ratura, que purificao rigorosa, corre o risco de se perder em
uma proximidade do conceito, em que o efeito de arte se extenua,
e a prosa (ou o poema) se sutura filosofia.
Samuel Beckett, que gostava muito de cinema e que, alis,
escreveu e rodou um filme, cujo ttulo bem platnico Film, o
Filme, enfim, que gostava de vagar s margens do perigo ao qual
toda literatura de alto nvel se expe: no mais produzir impu-
rezas inditas, mas estagnar na pureza aparente do conceito. Em
suma, filosofar. E portanto: balizar as verdades, mais do que pro-
duzi-Ias. Worstward Ho continua sendo o testemunho mais rema-
tado dessa errncia s margens.
115
9
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO:
PROSA E CONCEITO
a) O entre-lnguas e a estenografia do ser
Samuel Beckett escreve Worstward Ho em 1982 e o publica em
1983. , ao lado de Soubresauts, um texto testamentrio. Beckett no
o traduziu para o francs, de modo que Worstward Ho exprime o real
do ingls como lngua materna de Beckett. Que eu saiba, os textos
em francs de Samuel Beckett foram todos traduzidos para o ingls
por ele mesmo. Em compensao, subsistem alguns textos escritos
em ingls que ele no traduziu para o francs, e que so como os
restos de algo mais originrio na lngua inglesa para esse artista
excepcional do francs. Alis, diz-"se" que Beckett considerava a
traduo desse texto para o francs demasiadamente difcil. Worstward
Ho est preso lngua inglesa de maneira to singular que sua
transmigrao de uma lngua para outra particularmente rdua.
Como vamos estudar a verso francesa, no poderemos apanh-
Ia em sua potica literal. O texto francs ao qual nos reportamos,
digno dos maiores elogios, no exatamente de Samuel Beckett.
Pertence em parte a dith Fournier*, a tradutora. No podemos
BECKETT, Samuel. Cap au pire. Paris: Les ditions de Minuit, 1991 (trad. dith
Fournier).
117
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
abordar de imediato a significao desse texto pelo vis literal,
pois se trata realmente de uma traduo.
No caso de Beckett, o problema da traduo complexo, pois
ele prprio se instalou no intervalo das duas lnguas. O problema
de saber qual texto traduo do outro uma questo pratica-
mente impossvel de determinar. No entanto, Beckett sempre cha-
mou a passagem de uma lngua para outra de uma "traduo",
embora, se examinarmos de perto, existam diferenas significa-
vas entre as "variantes" francesas e inglesas, diferenas que no
apenas se referem potica da lngua, mas tambm tonalidade
filosfica. H uma espcie de pragmatismo humorstico no texto
ingls que no est exatamente presente no francs, e no texto fran-
cs h uma franqueza conceitual que suavizada e, s vezes, a
meu ver, um pouquinho diluda no ingls. No caso de Worstward
Ho, temos um texto absolutamente ingls, sem variaes no fran-
cs, e uma traduo no sentido comum. Da a obrigao de nos
apoiarmos no sentido, e no na literalidade.
Uma segunda dificuldade deve-se ao fato de esse texto ser, de
maneira absolutamente consciente, um texto recapitulativo, ou seja,
um texto que faz um balano do conjunto do empreendimento de
pensamento de Samuel Beckett. Para estud-Io por inteiro, seria
necessrio mostrar que sua trama uma rede cerrada de aluses a
textos anteriores, de repeties de hipteses tericas daqueles tex-
tos, que sero reexaminadas, eventualmente contraditas ou modi-
ficadas, ou afinadas, e que como uma espcie de filtro atravs
do qual passa a multiplicidade dos escritos de Beckett, reduzida a
seu sistema hipottico fundamental.
Isso dito, se reunirmos as duas dificuldades, totalmente possvel
considerar Worstward Ho como um breve tratado filosfico, como
uma estenografia da questo do ser. Trata-se de um texto que no
governado por uma espcie de poema latente, como os textos anterio-
res. No um texto que penetra na singularidade e no poder compa-
rativo da lngua como, por exemplo, Mal vu mal ditoTrata-se de um
texto que conserva uma certa secura abstrata totalmente deliberada,
118
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
compensada, especialmente em ingls,por um cuidado rtmicoextremo.
Digamos que ele tende a liberar mais o ritmo do pensamento do que
sua configurao, enquanto que em Mal vu mal dit seria o contrrio.
Podemos abord-Io, portanto, de maneira conceitual, sem tra-Ia. Tratar
esse texto sobretudo como uma rede de pensamento ou uma este-
nografia da questo do ser-lhe adequado, pois ele compe um
sumrio da totalidade da obra. O que perderemos, que eu chamava
de ritmo, a figura de escanso - os segmentos de linguagem so
em geral extremamente breves, algumas palavras -, portanto, a
figura estenogrfica que lhe prpria e que, em ingls, ajustada
a uma espcie de cunhagem da lngua totalmente particular.
b) O dizer, o ser, o pensamento
Cap au pire [Rumo ao pior] (admirvel traduo para Worstward
Ho) prope uma trama extremamente densa, organizada, como
em todo o Beckett tardio, em pargrafos, e uma primeira leitura
mostra com toda a evidncia que essa trama ir desenvolver em
questes (direi logo mais o que se deve entender por "questo")
quatro temas conceituais centrais.
O primeiro tema o imperativo do dizer. Trata-se de um tema
beckettiano muito antigo, o mais conhecido, mas sob certos aspec-
tos tambm o mais mal conhecido. O imperativo do dizer a
prescrio do "ainda" como incipit do escrito, determinando o
escrito como continuao. O comeo em Beckett sempre um
"continuar". Nada comea que no esteja na prescrio do ainda
ou do re-comear, na suposio de um comeo que ele prprio
jamais comeou. Pode-se dizer que o texto est cercado pelo im-
perativo do dizer. Comea por:
Ainda. Dizer ainda. Seja dito ainda. To mal que pior ainda.*
Encare. Dire encare. Sait dit encare. Tant mal que pis encare.
119
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
E termina por:
Seja dito mais impossvel ainda.*
De modo que se pode resumir Cap au pire pela passagem de
"Seja dito ainda" a "Seja dito mais impossvel ainda". O texto faz
advir a possibilidade do "mais impossvel ainda" como alterao
fundamental do "ainda". A negao (mais impossvel) atesta que
no h mais o ainda. Mas, na realidade, como "seja dito", o "mais
impossvel ainda" uma variante do ainda, permanecendo coagi-
do pelo imperativo do dizer.
O segundo tema, correlato imediato e obrigatrio do primei-
ro em toda a obra de Beckett, o ser puro, o "h" enquanto tal.
O imperativo do dizer imediatamente correlacionado quilo com
respeito ao qual h a dizer, a saber, justamente, o "h". Alm do
fato de que h o imperativo do dizer, h o "h".
O "h", ou ser puro, tem dois nomes, e no um nico - isso
um grande problema -, que so, na traduo francesa, o vazio e
a penumbra. Observemos de imediato que, com relao a esses
dois nomes, vazio e penumbra, discerne-se, pelo menos aparente-
mente, uma subordinao: o vazio subordinado penumbra no
exerccio do desaparecimento, que o plano da experincia es-
sencial. A mxima a seguinte:
Desaparecimento do vazio no possvel. Exceto desapareci-
mento da penumbra. Ento desaparecimento de tudo.**
Submetido, portanto, experincia crucial do desaparecer, o
vazio no tem autonomia. Est sob dependncia do desapareci-
mento de tudo que, como tal, o desaparecimento da penumbra.
Soit dit plus meche encore.
Disparition du vide ne se peul. Sauf disparition de Ia pnombre. Alors disparition
de toul.
120
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Se o "desaparecimento de tudo", ou seja, o "h" pensado como
nada, denominado pela penumbra, o vazio necessariamente
uma denominao subordinada. Se admitirmos que o "h" o que
h na experincia de seu nada, o fato de o desaparecer estar
subordinado ao desaparecer da penumbra faz da "penumbra" o
nome sobre eminente do ser.
O terceiro tema o que se poderia chamar "o inscrito no ser".
Trata-se do que se prope do ponto do ser ou, ainda, do que
aparente na penumbra. O inscrito o que a penumbra como pe-
numbra dispe na ordem do aparecer.
Na medida em que "penumbra" o nome sobreeminente do
ser, o inscrito o que aparece na penumbra. Mas tambm pode-se
dizer que se trata do que se oferece em um intervalo do vazio.
Pois as coisas vo ser pronunciadas de acordo com os dois nomes
possveis do "h". H o que aparece na penumbra, o que a penum-
bra faz aparecer como sombra: a sombra na penumbra. E h o que
faz aparecer o vazio enquanto intervalo, no afastamento do que
aparece e, conseqentemente, como corrupo do vazio, se o
vazio designado a ser apenas diferena, ou separao. assim
que o universo, portanto o conjunto do que aparece, poder ser
denominado por Beckett: um vazio infestado de sombras. Essa
maneira que o vazio tem de ser infestado pelas sombras quer
dizer que est reduzido figura de um intervalo entre as sombras.
Mas jamais esqueamos que esse intervalo entre as sombras no
passa finalmente de penumbra, o que remete penumbra como
exposio arquioriginal do ser.
Pode-se dizer tambm que o inscrito no ser - as sombras -
o que se deixa contar. A cincia do nmero, do nmero das som-
bras, um tema fundamental de Beckett. O que no o ser como
tal, mas que proposto ou inscrito no ser, o que se deixa contar,
o que na pluralidade, o que procede do nmero. O nmero no
, evidentemente, um atributo do vazio ou da penumbra: vazio e
penumbra no se deixam contar. J o inscrito no ser deixa-se
contar. Deixa-se primordialmente contar: 1, 2, 3.
121
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
ltima variante: o inscrito no ser o que pode "piorar". "Pio-
rar" - termo essencial de Cap au pire, o piorar uma operao
radical do texto - significa, entre outras coisas, e principalmente,
ser mais mal dito que j dito.
Sob essa multiplicidade de atributos - o que aparente na
penumbra, o que intervalar quanto ao vazio, o que se deixa
contar, o que suscetvel de piorar ou de ser mais mal dito do que
dito -, h o nome genrico, "as sombras". Pode-se dizer que as
sombras so o que est exposto na penumbra. o plural exposto
do "h" sob o nome de penumbra.
Em Cap au pire, a apresentao das sombras ser mnima: a con-
tagem chegar at trs, e veremos por que no pode haver menos
que isso. Categorialmente, a paltir do momento em que voc conta o
que se deixa contar, preciso que conte pelo menos at trs.
A primeira sombra a sombra de p, que conta por um. A bem
dizer, o um. A sombra de p tambm ser "o ajoelhado" - que
essas metamorfoses no nos espantem -, ou ela tambm ser "as
costas curvadas". So seus diversos nomes. No so tanto estados
quanto nomes. Dessa sombra que conta por um, enuncia-se, a
partir da pgina 45 da edio francesa, que uma velha.
Nada que prove que aquilo de uma mulher e no entanto de
uma mulher. *
E Beckett acrescenta, o que se esclarecer adiante:
Ressumaram da substncia mole que se amolece as palavras
de uma mulher. **
So esses os atributos fundamentais do um: o um a sombra
ajoelhada e uma mulher.
Rien qui prouve que celui d'une femme et pourtant d'une femme.
** Ont suint de Ia substance molle qui s'amollit les mots d'une femme.
122
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Em seguida, h o par, que conta por dois. O par a Unlca
sombra que conta por dois. Beckett dir: "Duas libras e duas que
perfazem apenas uma", uma sombra. E est estabelecido, a partir
da denominao do par, que as sombras constitutivas desse par
so um velho e uma criana.
Observemos que o um s denominado mulher bem mais
tarde, enquanto o dois denominado "velho e criana" imedia-
tamente. O que ser dito mais tarde, em compensao, que
nada tampouco provou que se tratava de um homem e de uma
criana. Em todos os casos, em se tratando da determinao ho-
mem, mulher, criana, nada comprova e, no entanto, assim.
Simplesmente a modalidade do dizer no a mesma para o um-
mulher e para o dois-homem-criana. Do um s se diz que
uma velha mulher bem mais tarde, ao passo que para o par
declara-se imediatamente a composio (velho-criana); e o
enunciado crucial encontra-se postergado: nada prova nada, e
olha l! Isso indica que a posio sexuada masculina evidente
e que a impossibilidade de prov-Ia difcil de compreender.
Quanto posio sexuada feminina, pelo fato de ela no ser
evidente, a impossibilidade de prov-Ia igualmente evidente.
No par, trata-se sem dvida do outro, do "um-e-outro".
O outro indicado aqui por sua duplicidade interna, pelo fato
de ser dois. o dois que o mesmo. Vamos repetir: "Duas libras
[sombras] e duas que perfazem apenas uma." Mas, ao contrrio, ele
o um que faz dois: o velho e a criana. Deve-se supor que velho
e criana so o mesmo homem enquanto sombra, ou seja, a vida
humana enquanto sombra em sua extremidade de infncia e em
sua extremidade de velhice, vida entregue naquilo que a cinde, na
unidade do par que ela enquanto alteridade de si mesma.
Pode-se enfim dizer que o inscrito no ser a humanidade
visvel: mulher enquanto um e inclinao, homem enquanto du-
plo na unidade do nmero. As idades pertinentes so as extremas,
como sempre em Beckett: criana e velho. O adulto uma cate-
goria mais ou menos ignorada, uma categoria insignificante.
123
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Finalmente, o quarto tema o pensamento, como se podia espe-
rar. O pensamento aquilo pelo que e no que h simultaneamente
as configuraes da humanidade visvel e o imperativo do dizer.
O pensamento recolhimento do primeiro e do terceiro tema:
h o imperativo do dizer, h o inscrito no ser, e isso "para" o
pensamento e "dentro" do pensamento. Indiquemos imediata-
mente que a questo de Beckett a seguinte: sabendo que o
pensamento (quarto tema) ponto focal ou recolhimento do
imperativo do dizer (primeiro tema) e da disposio da huma-
nidade visvel, ou seja, as sombras (terceiro tema), o que pode
pronunciar sobre o segundo tema, ou seja, sobre a questo do
ser? Essa a organizao mais ampla do texto inteiro. A constru-
o filosfica da questo ser colocada dessa maneira: o que se
deixa pronunciar sobre o "h" enquanto "h" do ponto do pensa-
mento, em que se oferecem simultaneamente o imperativo do
dizer e a modificao das sombras, que Circulao da humanida-
de visvel?
Na estruturao de Cap au pre, o pensamento representado
por uma cabea. Tambm ir se dizer" a cabea" ou "o crnio".
E ela chamada repetidamente de "sede de tudo, germe de
tudo". Se chamada assim, porque ela aquilo pelo que h
o imperativo do dizer e as sombras e aquilo em que h a ques-
to do ser.
Qual a composio do pensamento? Se for reduzido a seus
constituintes absolutamente primordiais segundo o mtodo de
simplificao, que o mtodo orgnico de Beckett, h o visvel
e h o imperativo do dizer. H "mal visto mal dito". O pensa-
mento o seguinte: "mal visto mal dito". Disso resulta que a
apresentao da cabea ser essencialmente reduzida a seus olhos,
por um lado, e a seu crebro, por outro, de onde ressumam as
palavras: dois buracos em um crebro, isso o pensamento.
Da, dois temas recorrentes: o dos olhos e o da ressumao das
palavras, cuja procedncia a matria mole do crebro. A est a
representao material do esprito.
124
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Precisemos esses temas.
Dir-se- dos olhos que esto "esbugalhadamente fechados". O
"movimento" do esbugalhar fundamental em Cap au pre. Designa
o ver como tal. Esse "esbugalhadamente fechados", incontestvel
justaposio discordante, designa exatamente o smbolo do mal
visto. O ver sempre um mal ver e, por conseqncia, o olho do
ver est "esbugalhadamente fechado".
Quanto s palavras, segundo atributo do pensamento aps O
ver, dir-se- que "mal ou pior ressumam fora de alguma substn-
cia mole do esprito". Essas duas mximas, a existncia dos olhos
"esbugalhadamente fechados" e o fato de que as palavras "mal ou
pior ressumam fora de alguma substncia mole do esprito", de-
terminam o quarto tema, ou seja, o pensamento na modalidade da
existncia do crnio.
fundamental constatar que o crnio uma sombra a mais.
O crnio perfaz trs, alm do um da inclinao feminina e do
outro, em forma de par, do velho e da criana. O pensamento
sempre vem em terceiro lugar. Na pgina 24 da edio francesa
encontra-se uma recapitulao essencial.
Doravante um para o ajoelhado. Como doravante dois para o
par. O par como um s indo embora mal ou mal. Como dora-
vante trs para a cabea.*
Quando Beckett conta o par, indica claramente que recai sobre
o dois, mas que no dois, o dois. O par o dois, mas, acres-
centado ao um, no perfaz trs. Acrescentando o par ao um, voc
sempre tem dois, o dois do outro aps o um. S a cabea perfaz
trs. O trs o pensamento.
Dsarmais un paur i'agenauill. Camme dsal'mais deux paul' ia paire. La paire
camme un seul s'en allant tant mal que mal. Camme dsormais trais paur Ia tte.
125
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
c) O indispensvel pensamento-trs
Deve-se assinalar que o texto de Beckett muitas vezes funcio-
na por tentativas radicais s quais ele renuncia do prprio interior
do texto. assim que a cabea acrescentada, ou seja, vem em
terceiro lugar, aps uma tentativa materialista de renunciar a ela,
uma tentativa em que s haveria o lugar e o corpo.
Bem no incio, Beckett diz: um lugar, um corpo. "Nenhum
esprito. Pelo menos isso." Que deve ser compreendido como "j
um lucro". Proceder-se- como se se estivesse em um espao de
materialidade integral. Mas essa tentativa vai fracassar. finalmen-
te foroso adicionar a cabea, o que significa, no vocabulrio de
Beckett, que sempre h restos de esprito, que so justamente os
olhos esbugalhadamente fechados, por um lado, e, por outro, o
ainda da ressumao das palavras a partir da matria mole.
Esse resto de esprito representado pela cabea ser um suple-
mento exigido do Um e do Dois das sombras. Beckett deduz o inelu-
tvel Trs. Mas, se a cabea conta trs, ela prpria deve estar na
penumbra. No est fora da penumbra. Um dos ardis do texto que
a tentativa materialista pura - s h o lugar e o corpo - ter de ser
suplementada pela cabea, de modo que ser necessrio contar trs,
e no dois. O materialismo, ento, muda de jogo. O que ele exige
manter a cabea na unicidade do lugar, no fazer da cabea um
outro lugar, jamais inscrever um dualismo originrio, embora seja
necessrio chegar at trs, e a grande tentao do trs (o pensamen-
to) contar o dois alhures. Essa a tenso metafsica crucial do texto.
Esses dados so enumerados vrias vezes por Beckett no prprio
texto, texto balizado por recapitulaes. Por exemplo, na pgina 38:
o que as palavras que secreta dizem. O que o assim diz
vazio. O assim dito penumbra. Os assins ditos sombras.
O assim dito sede e germe de tudo.*
Ce que c'est que les mots qu'i! screte elisent. Quoi l'ainsi elit vide. L'ainsi dite
pnombre. Les ainsi elites ombres. L'ainsi dit siege et germe ele tout.
126
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Temos aqui o conjunto da temtica constitutiva. "H": o que h
"o que as palavras que ele secreta dizem" sob o imperativo do
dizer; questo do ser: "o assim diz vazio" e "o assim dito penum-
bra"; questo do "h" no "h" ou questo da aparncia: "Os assins
ditos sombras." Enfim, "o assim dito sede e germe de tudo", ques-
to da cabea e do crnio, questo do pensamento.
Tudo isso constitui o que Beckett considera o dispositivo m-
nimo que fixa um rumo para o "ainda" do dizer. O dispositivo
mnimo, o dispositivo menor, ou seja, o pior (veremos que o
menor e o pior so a mesma coisa) para que haja questo. Para
que haja sentido nfimo ou mnimo de uma questo qualquer.
d) Questo e condies de uma questo
O que uma questo? Uma questo o que fixa seu rumo em
direo ao "ainda" do dizer. Vamos chamar de questo o fato de
que a navegao do "ainda" tenha um rumo. E esse rumo ser o
rumo ao pior, a direo do pior.
Para que haja questo, ou seja, rumo ao pior, necessrio
haver um dispositivo mnimo, que precisamente constitudo pelos
elementos que acabamos de enumerar. Desse ponto de vista, Cap
au pire , ele prprio, um texto mnimo, ou seja, um texto que
institui os materiais elementares para qualquer questo possvel
segundo um mtodo de reduo drstica. Um texto que tenta no
introduzir nenhum elemento intil ou supranumerrio com rela-
o possibilidade de uma questo.
A primeira condio de um dispositivo mnimo para que haja
uma questo decerto que haja o ser puro, cujo nome singular
o vazio. Mas tambm preciso haver a exposio do ser, ou seja,
no apenas o ser enquanto ser, mas o ser exposto segundo seu
prprio ser, ou a fenomenalidade do fenmeno, ou seja, a possi-
bilidade de que algo aparea em seu ser. E a possibilidade de que
algo aparea em seu ser no o vazio, que, por seu lado, o
127
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
nome do ser enquanto ser. O nome do ser enquanto possibilidade
do aparecer : penumbra.
A penumbra o ser na medida em que possvel haver uma
questo de seu ser, ou seja, na medida em que est exposto
questo enquanto expediente de ser do aparecer.
Essa a razo pela qual preciso haver dois nomes (vazio e
penumbra), e no apenas um. Para haver questo, o ser deve ter dois
nomes. Heidegger tambm viu esse aspecto com o ser e o ente.
A segunda condio para uma questo haver um pensamento.
Um pensamento-crnio, vamos cham-Io assim. Pensamento-
crnio que um mal ver e um mal dizer, ou um olho esbugalha-
damente fechado e uma ressumao nominal. Mas, ponto essencial,
o prprio pensamento-crnio est exposto. No subtrado ex-
posio do ser. No definvel simplesmente como aquilo pelo
que h o ser, participa do prprio ser, apanhado na exposio.
No lxico de Beckett, dir-se- que a cabea, sede e termo de tudo,
ou o crnio, est dentro da penumbra. Ou que o pensamento-
crnio a terceira sombra. Ou ainda que ela deixa-se contar na
penumbra incontvel.
o caso de se perguntar ento se no se est exposto a uma
regresso infinita. Se o pensamento como tal co-pertence ao ser,
onde est o pensamento desse co-pertencer? A partir do que se
diz que a cabea est na penumbra? Parece que se est beira
da necessidade - se possvel arriscar essa expresso - de
uma metacabea. Deve-se contar quatro, depois cinco, e assim
infinitamente.
O protocolo de encerramento dado por um cogito; deve-se
admitir que a cabea contada pela cabea, ou que a cabea v-se
como cabea. Ou que para o olho esbugalhadamente fechado
que h um olho esbugalhadamente fechado. o fio cartesiano do
pensamento de Beckett, que jamais se desmentiu, que est presen-
te, na realidade, desde o incio de sua obra, mas que, em Cap au
pire, apontado como regra decretada que a nica a permitir que
aquilo pelo que h penumbra tambm esteja na penumbra.
128
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Finalmente, sempre na ordem das condies mnimas de uma
questo, alm do "h" e do pensamento-crnio, so necessrias
inscries de sombra na penumbra.
As sombras so organizadas por meio de trs relaes. Em primei-
ro lugar, a do um ou do dois, ou do mesmo e do outro. o um
ajoelhado e o par que anda, considerados em categorias platnicas
como representaes do mesmo e do outro. Em segundo lugar, a dos
extremos da idade, infncia e velhice, extremos que fazem tambm
que o par seja um. Em terceiro lugar, a dos sexos, mulher e homem.
So essas as relaes constitutivas das sombras que povoam a
penumbra e infestam o vazio.
Um parntese: existe um ponto bem importante, embora seja
apenas uma aluso em Cap au pire- que os sexos, como vimos,
no apresentam provas. at especificamente a nica coisa que no
apresenta provas. O fato de a sombra revelar-se mulher velha ou
homem velho continua no apresentando provas, embora seja algo
certo. E isso significa que, para Beckett, a diferenciao dos sexos
ao mesmo tempo absolutamente certa e absolutamente impossvel
de provar. Por esse motivo pude denomin-Ia uma disjuno pura.
Por que uma disjuno pura? certo que h mulher e homem
- no caso, mulher velha e homem velho -, mas essa certeza no
pode ser deduzida ou inferida de nenhum trao predicativo parti-
cular. , portanto, pr-lingstica, no sentido de que ela pode ser
dita, mas de que esse dizer no provm de qualquer outro dizer.
um dizer primeiro. Pode-se dizer que h mulher e homem, mas
em nenhum momento possvel inferir esse dado de um outro
dizer, em particular de um dizer descritivo ou emprico.
e) Ser e existncia
Sob essas relaes, a do um e do dois, a dos extremos da idade
e a dos sexos, as sombras atestam no o ser, mas a existncia. O
que a existncia, e o que a distingue do ser?
129
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
A existncia o atributo genrico daquilo que tem capacidade
de piorar. O que pode piorar existe. "Piorar" a modalidade ativa
de qualquer exposio ao ver do olho esbugalhadamente aberto e
ressumao das palavras. Essa exposio existncia. Ou, tal
vez, mais fundamentalmente, existe o que se deixa encontrar. O
ser existe quando est na maneira do encontro.
Nem vazio, nem penumbra designam algo que se deixa en-
contrar, pois todo encontro ocorre sob a condio de que haja
um intervalo possvel do vazio, que recorta o que encontrado,
e de que haja a penumbra, que a exposio de tudo o que se
expe. O que se deixa encontrar so sombras. Deixar-se encon-
trar ou piorar uma nica e mesma coisa, e isso designa a exis-
tncia das sombras. Vazio e penumbra, que so os nomes do ser,
no existem.
O dispositivo mnimo tambm dir-se-, portanto: o ser, o pen-
samento e a existncia. Quando se tem as representaes do ser,
do pensamento e da existncia, ou as palavras para isso, ou, diria
Beckett, as palavras para diz-l o mal, quando se tem esse disposi-
tivo experimental e mnimo do dizer, possvel dispor perguntas,
possvel estabelecer o rumo.
f) Axioma do dizer
O texto ir ento se organizar de acordo com hipteses quanto
ao rumo, quanto direo do pensamento. Hipteses quanto ao
que liga, desliga ou afeta a trade do ser-penumbra, da sombra-
existncia, do crnio-pensamento. Cap au pire vai tratar da trade
ser/existncia/pensamento, sob as categorias do vazio, do mesmo
e do outro, do trs e do complexo ver/dizer.
Antes de formular hipteses, preciso sustentar-se com um cer-
to nmero de axiomas, que instituem as primeiras conexes e
desconexes. O axioma quase nico de Cap au pire, alis gerado
por seu ttulo, um antigo axioma de Beckett - ele absolutamente
130
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
no inventado aqui -, at um dos mais antigos. Esse axioma
enuncia-se: dizer dizer mal.
Deve-se compreender que "dizer dizer mal" uma identi-
dade essencial. A essncia do dizer dizer mal. Dizer mal no
um fracasso do dizer, exatamente o contrrio: dizer tudo , em
sua prpria existncia enquanto dizer, um dizer mal.
O "dizer mal" ope-se implicitamente ao "dizer bem". O que
o "dizer bem"? "Dizer bem" uma hiptese de adequao: o dizer
adequado ao dito. Mas a tese fundamental de Beckett que o
dizer adequado ao dito suprime o dizer. O dizer s um dizer
livre, e especialmente um dizer artstico, desde que no seja
coalescente ao dito, desde que no esteja sob a autoridade do
dito. O dizer est sob o imperativo do dizer, est sob o imperativo
do "ainda", no coagido pelo dito.
Se no h adequao, se o dizer no est sob a prescrio do
"o que dito", mas apenas sob a regra do dizer, ento o dizer mal
a essncia livre do dizer, ou ainda a afirmao da autonomia
prescritiva do dizer. Diz-se para dizer mal. E o cmulo do dizer,
que o dizer potico ou artstico, precisamente a regulao
controlada do dizer mal, o que leva ao cmulo a autonomia
prescritiva do dizer.
Quando se l em Beckett "dizer mal", "fracassar", etc., preciso
entender bem tudo isso. Caso se tratasse de uma doutrina em-
pirista da lngua, segundo a qual ela se prende s coisas mais ou
menos bem, isso no teria nenhum interesse e, alis, o prprio
texto seria impossvel. Ele s funciona a partir do momento em
que se entende nas expresses "falhar" ou "dizer mal" a auto-
afirmao da prescrio do dizer sob sua prpria regra. Beckett
indica-o com clareza desde o incio:
Dizer por seja dito. Mal dito. Dizer doravante para que seja mal
dito.*
Dire paur sair dit. Mal dit. Dire dsormais paur sair mal dit. Copo cit., p. 7)
131
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
g) A tentao
A conseqncia rigorosa de tudo isso que a norma do dizer
se pronuncia: fracasso. Claro que o fato de a norma do dizer ser o
fracasso suscita subjetivamente uma esperana falaciosa, perfeita-
mente identificada por Beckett: a esperana de que haja um fra-
casso mximo, um fracasso absoluto, que teria o mrito de
enfasti-Io de uma vez por todas da lngua e do dizer. a tentao
vergonhosa, a tentao de se subtrair ao imperativo do dizer. A
tentao de que no haja mais o "ainda", de que no se esteja mais
sob a prescrio intolervel do dizer mal.
Como o dizer bem impossvel, a nica esperana est na
traio: chegar a um fracasso to reconhecido que induza a uma
renncia total prpria prescrio, a um abandono do dizer e da
lngua. O que significaria que se alcana o vazio, que se esteja
vazio, esvaziado, esvaziado de toda prescrio. Finalmente, a ten-
tao cessar de existir para ser. Alcanou-se o vazio, portanto, o
ser puro, e isso o que se poderia chamar de tentao mstica, no
sentido de Wittgenstein, na ltima proposio do Tractatus. Che-
gar ao ponto em que, como impossvel dizer, a nica coisa a
fazer cal-Io. Chegar ao ponto em que a conscincia de que
impossvel dizer, ou seja, a conscincia de que fracassou total-
mente, estabelece-o em um imperativo que no mais o impera-
tivo do dizer, mas o imperativo do calar.
No vocabulrio do Beckett, isso se diz: partir. Partir de qu?
Bem, partir da humanidade. Na realidade, Beckett pensa, como
Rimbaud, que no se parte. Ele reconhece totalmente a tentao
do partir da humanidade, que fracassar a ponto de se enfastiar
da lngua e do dizer. Partir da existncia de uma vez por todas,
alcanar o ser. Mas ele retifica e recusa essa possibilidade.
Aqui est um texto em que evocada a hiptese de um acesso
ao partir e ao vazio por excesso de fracasso, excesso de fracasso
que se confundiria com o sucesso absoluto do dizer:
132
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Tentar ainda. Fracassar ainda. Fracassar melhor ainda. Ou me-
lhor pior. Fracassar pior ainda. Ainda pior ainda. At ficar enfas-
tiado de vez. Vomitar de vez. Partir de vez. Para l onde nem um
nem outro de vez. De uma vez por todas de vez.'
Isso a tentao: partir para onde no h mais sombra, onde
mais nada est exposto ao imperativo do dizer.
Mas, em muitas passagens adiante, essa tentao ser recusa-
da, revogada, proibida. Por exemplo, na pgina 49, onde a idia
"pior mais ... " declarada inconcebvel:
Volta desdizer melhor pior mais no concebvel. Se mais escuro
menos luminoso ento melhor pior mais escuro. Desdito por-
tanto melhor pior mais no concebvel. No menos que menos
melhor pior pode ser mais. Melhor pior o qu? O dizer? O dito?
Mesma coisa. Mesmo nada. Mesmo pouco nada falta.*'
O ponto fundamental que o "vomitar de vez, de uma vez por
todas de vez" no existe, porque tudo "mesmo nada" , na reali-
dade, um "mesmo pouco nada falta". A hiptese de um partir
radical que nos subtrairia humanidade do imperativo, tentao
essencial de uma prescrio do silncio, no pode dar certo por
razes ontolgicas. O "mesmo nada" sempre na realidade um
"mesmo pouco nada falta" ou um "mesmo quase nada", mas ja-
mais um "mesmo nada" como tal. Jamais, portanto, se tem base
para se subtrair do imperativo do dizer, em nome do advento do
"nada" puro, ou do fracasso absoluto.
Essayer encare. Rater encare. Rater mieux encare. ou mieux plus mal. Rater plus
mal encare. Encare plus mal encare. Jusqu' tre elgaut paur ele bano Vamir
paur ele bano Partir paur ele bano L au ni l'un ni l'autre paur ele bano Une banne
fais paur tautes paur ele bano Copo cit., pp. 8-9)
*. Retaur delire mieux plus mal plus pas cancevable. Si plus abscur mains lumineux
alars mieux plus mal plus abscur. Delit elanc mieux plus mal plus pas cancevable.
Pas mains que mains mieux plus mal peut tre plus. Mieux plus mal quai? Le
c\ire? Le dit? Mme chase. Mme rien. Mme peu s'en faut rien.
133
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
h) As leis do piorar
Apartir da, a lei fundamental que governa o texto que o pior de
que a lngua capaz, o piorar, no se deixa capturar pelo nada. Conti-
nua-se no "mesmo pouco nada falta", mas nunca no ponto que seria o
do "partir de vez", onde haveria captura pelo nada. Nada que no seria
nem a penumbra, nem o vazio, mas a abolio da prescrio do dizer.
Deve-se sustentar, portanto, o seguinte: a lngua tem exclusi-
vamente a capacidade do menor. No tem a capacidade do nada.
Tem, dir Beckett, "palavras que reduzem". Tm-se palavras que
reduzem, e essas palavras que reduzem so aquelas graas s
quais se pode manter o rumo ao pior, ou seja, o rumo a uma
centralizao do fracasso.
Entre "as palavras alusivas jamais diretas" de Mallarm e "as pala-
vras que reduzem" de Beckett, existe uma filiao evidente. Aproxi-
mar-se da coisa a dizer com a conscincia de que ela no pode ser
dita sob a justificao do dito, ou da coisa, leva a uma autonomizao
radical da prescrio do dizer. Esse dizer livre jamais pode ser direto
ou, segundo o vocabulrio de Beckett, o que reduz, o que piora.
Em outras palavras: a lngua pode esperar o mnimo do melhor
pior, mas no a abolio. Aqui est o texto essencial, em que,
alis, figura a expresso "as palavras que reduzem".
Pior menor. Mais no concebvel. Pior na falta de um melhor
menor. O melhor menor. No. Nada o melhor. O melhor pior.
No. No o melhor pior. Nada no o melhor pior. Menos melhor
pior. No. O menos. O menos melhor pior. O menor jamais pode
ser nada. Jamais ao nada pode ser reconduzido.Jamais pelo nada
anulado. Inanulvel menor. Dizer esse melhor pior. Com pala-
vras que reduzem dizer o menor melhor pior. Na falta do bem
pior que pior. O iminimizvel menor melhor pior.*
Pire moindre. Plus pas concevable. Pire dfaut d'un meilleur moindre. Le meilleur
moindre. Non. Nant le meilleur. Le meilleur pire. Non. Pas le meilleur pire.
134
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
"O menor jamais pode ser nada" a lei do piorar. "Dizer o me-
lhor pior" o "inanulvel menor". "O iminimizvel menor melhor
pior" jamais se confunde com a abolio pura e simples ou com o
nada. O que quer dizer que o "deve-se cal-Io" no sentido de
Wittgenstein impraticvel. Devemos permanecer rumo ao pior. Rumo
aopior: o ttulo um imperativo, e no simplesmente uma descrio.
O imperativo do dizer est ento na figura de uma retomada
constante, da ordem da tentativa, do esforo, do labor. O pr-
prio livro ir tentar piorar tudo o que se prope ressumao
nominal. Boa parte do texto consagrada ao que seria possvel
chamar experincias de "piora". Cap au pire um protocolo do
piorar como figura de auto-afirmao da prescrio elo dizer.
Piorar denominar soberanamente no '{cesso do fracasso, o
que a mesma coisa que suscitar por "palavras alusivas jamais
diretas", e que acarreta a mesma proximidade intransponvel do
nada que no poema de Mallarm.
O piorar, que o exerccio da lngua em sua tenso artstica,
feito por duas operaes contraditrias. O que , na verdade, pio-
rar? exercer a soberania do dizer com relao s sombras. ,
portanto, ao mesmo tempo dizer mais a respeito e restringir o que
dito. por isso que as operaes so contraditrias. Piorar
dizer mais sobre menos. Mais palavras para melhor reduzir.
Da o aspecto paradoxal do piorar, que constitui realmente a subs-
tncia do texto. Para poder reduzir "o que dito" de maneira que, a
respeito dessa depurao, o fracasso seja mais manifesto, ser neces-
srio introduzir palavras novas. Essas palavras no so adies - no
se acrescenta, no se soma -, contudo, preciso dizer mais para
reduzir, preciso dizer mais para subtrair. essa a operao constitutiva
ela lngua. Piorar fazer caminhar o mais dizer para reduzir.
Nant pas le meilleur pire. Moins meilleur pire. Non. Le moins. Le moins meilleur
pire. Le moindre jamais ne peut tre nant. Jamais au nant ne peut tre ramen.
Jamais par le nant annul. Inannulable moindre. Dire ce meilleur pire. Avec des
mots qui rduisent dire le moindre meilleur pire. A dfaut clu bien pis que pire.
L'imminimisable moinclre meilleur pire. Copo cit., p. 41)
135
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
i) Exerccios de piora
o texto prodigaliza exerccios de piora sobre todo o dado feno-
menal das sombras, sobre a configurao da humanidade genrica,
a saber:
piorar o um, ou seja, piorar o ajoelhado mulher;
piorar o dois, ou seja, piorar o par do velho e da criana;
piorar a cabea, ou seja, piorar os olhos, o crebro ressu-
mante, piorar o crnio.
Pois so essas as trs sombras que constituem as determina-
es fenomenais da sombra.
Piorar o um. Esse exerccio ocupa as pginas 26 e 27 da edio
francesa:
Primeiro um. Primeiro tentar melhor fracassar um. Algo a que
no destoa bastante mal. No que tal qual no tenha fracassado.
Fracassado o nenhum rosto. Fracassadas as nenhumas mos. O
nada -. Basta. Fora o fracassado. Minimamente fracassado. Lu-
gar ao pior. Esperando pior ainda. Primeiro pior. Minimamente
pior. Esperando ainda pior. Acrescentar um -. Acrescentar?Ja-
mais. Curv-Ia mais para baixo, que seja curvado mais para bai-
xo. O mais para baixo possvel. Cabea enchapelada desaparecida.
Sobretudo longo cortado mais alto. Nada da bacia at embaixo.
Nada alm de costas curvadas. Tronco visto de costas sem cimo
sem base. Negro escuro. Sobre joelhos invisveis. Na penumbra
vazia. Melhor pior assim. Esperando pior ainda.*
O'abarel uno O'abarel essayer ele mieux rater uno Quelque chase l qui ne cloche
paz assez mal. Nan pas que tel quel ce ne sait pas rat. Rat le nul visage. Rates
les nulles mains. Le nu! -. Assez. Peste sait elu rat. Minimement rat. Place au
plus mal. En attenelant pis encare. O'abarel plus mal. Minimement plus mal. En
attenelant pis encare. Ajauter un -. Ajauter? Jamais. Le caurber plus bas, qu'i!
sait caurb plus bas. Au plus bas. Tte chapeaute elisparue. Lang parelessus
caup plus haut. Rien elu bassin jusqu'en bas. Rien que le elas caurb. Tronc vu
eleelas sans haut sans base. Nair abscur. Sur genoux invisibles. Oans Ia pnambre
viele. Mieux plus mal ainsi. En attenelant pis encare.
136
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
A ostentao nominal que cerca essa primeira sombra em um
nmero maior de atributos subtrativos , ao mesmo tempo, sua
diminuio ou reduo. Sua reduo a qu? Bem, ao que seria
necessrio chamar um trao de um, um trao que daria a sombra
sem nada mais. As palavras exigi das so "costas curvadas", uma
simples curvatura. Nada alm de uma curvatura, tal seria a idea-
lidade do "pior ainda", estando entendido que, para fazer a curva-
tura surgir, so necessrias mais palavras, porque as palavras
sozinhas operam a diminuio. Assim, uma operao de superabun-
dncia nominal - em Beckett, sempre algo relativo - visa a
uma diminuio essencial.
Assim a lei do piorar: cortam-se as pernas, a cabea, o casa-
co, corta-se tudo que possvel, mas cada corte est na realidade
centrado na ocorrncia, por detalhes subtrativos suplementares,
de um puro trao. Deve-se suplementar para depurar o trao lti-
mo do fracasso.
Agora o exerccio de piora do dois:
Depois dois. Fracassado a piorar. Tentar piorar. Apartir do mini-
mamente fracassado. Acrescentar -. Acrescentar? Jamais. As
batinas. Melhor pior sem botinas. Calcanhares nus. Ora os dois
direitos. Ora os dois esquerdos. Esquerdo direito esquerdo di-
reito ainda. Ps descalos se vo e jamais se afastam. Melhor
pior assim. Um pouquinho melhor pior que nada assim.*
As botinas, nomes como "botinas", no h muitos nessa prosa,
cuja textura extraordinariamente abstrata. Quando h, realmen-
te porque a operao arriscada. Veremos isso logo adiante acerca
de uma palavra concreta essencial, o surgimento do "cemitrio".
Puis eleux. Oe rat empirer. Essayer eI'empirer. A partir elu minimement rat.
Ajauter -. Ajauter? Jamais. Les bottines. Mieux plus mal sans bottines. Talans
nus. Tantt les eleux elroits. Tantt les eleux gauches. Gauche elroite gauche
elroite encare. Pieels nus s'en vant et jamais ne s'loignent. Mieux plus mal ainsi.
Un petit peu mieux plus mal que rien ainsi. Copo cit., pp. 28-29)
137
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Entrementes, a batina, que de repente surge, s para ser truncada,
rasurada: "As batinas. Melhor pior sem batinas."
Uma parte das coisas - e essa a natureza contraditria da
operao - s dada para ser rasurada, s ocorre na superfcie
do texto para ser subtrada. A lgica do piorar, que a lgica da
soberania da lngua, identifica adjuno e subtrao. Mallarm
procede da mesma maneira; para ele, fazer surgir um objeto (cis-
ne, estrela, rosa ...), cuja vinda impe a dissoluo, o prprio ato
do poema. A "batina" de Beckett o termo-suporte de tal ato.
Finalmente, piorar a cabea. A passagem citada concerne aos
olhos (lembro que o crnio se compe de olhos sobre um crebro):
Os olhos. Hora de tentar piorar. Mal ou pior tentar piorar. Mais
fechados. Dizer esbugalhadamente abeltos. Todo branco e pu-
pila. Branco escuro. Branco? No. Todo pupila. Buracos negro-
escuro. Escancaramento que no vacila. Sejamditos assim. Com
palavras que pioram. Doravante assim. Melhor que nada a esse
ponto melhorados pior.*
Nessa passagem, a lgica da escrita totalmente tpica. Par-
tindo do sintagma "esbugalhadamente fechados", cujo sentido
determinei, tem-se uma tentativa de abertura. Passar-se- de
"esbugalhadamente fechados" a "esbugalhadamente abertos", que
um dado semanticamente homogneo. "Aberto", por sua vez,
dar branco, e branco ser dissolvido, dando o negro. Essa a
cadeia imediata. De fechado, passa-se a aberto; de aberto, passa-
se a branco; depois branco rasurado em proveito de negro. O
saldo da operao, que a operao do piorar, que, em vez de
"esbugalhadamente fechados", vamos ter "buracos negros" e que,
Les yeux. Temps c!'essayer c!'empirer. Tant mal que pis essayer c!'empirer. Plus
elos. Dire carquills ouverts. Tout blanc et pupille. Blanc obscuro Blanc? Non.
Tout pupille. Trous no ir obscuro Bance qui ne vacille. Soient ainsi c!its. Avec les
mots qui empirent. Dsormais ainsi. Mieux que rien ce point amliors au pire.
Copo cit., pp. 34-35)
138
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
a partir de ento, quando se tratar de olhos, nem mesmo ser
mais com o termo "olhos", ser com a simples meno a dois
buracos negros.
Constatamos que o aberto e o branco s surgem, na trama da
operao, para fazer passar dos olhos aos buracos negros, e que
essa operao do piorar visa a nos livrar da palavra "olhos", des-
critiva demais, emprica demais, singular demais, para reconduzir,
por piora diagonal e rasura, simples acepo dos buracos ne-
gros como focos cegos da visibilidade. O olho como tal abolido.
Tem-se a partir de ento um puro ver associado a um buraco, e
esse puro ver associado a um buraco constri-se a partir da aboli-
o do olho pela mediao, suplementar e dissolvida, do aberto e
do branco.
j) Manter o rumo
o piorar um labor, uma efetuao inventiva e penosa do
imperativo do dizer. Por ser um esforo, manter o rumo ao pior
exige coragem.
De onde vem a coragem do esforo? A meus olhos, uma
questo bem importante, porque, de modo geral, a questo
de saber de onde vem a coragem de manter um procedimento de
verdade, qualquer que seja a verdade. A questo , finalmente:
de onde vem a coragem da verdade?
Para Beckett, a coragem da verdade no poderia vir da idia de
que seremos recompensados pelo silncio ou de que seremos
recompensados por uma coincidncia realizada com o prprio
ser. J vimos: no haver dissoluo do dizer, ou advento do vazio
como tal. O ainda impossvel de apagar.
Ento, de onde vem a coragem? Para Beckett, a coragem vem
do fato de as palavras terem tendncia a soar verdadeiras. Uma
tenso extrema, que talvez seja a vocao de Beckett escritor,
resulta de a coragem prender-se a uma qualidade das palavras
139
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
que contrria a seu emprego no piorar. Existe como uma aura
de adequao nas palavras que, paradoxalmente, aquilo em que
tomamos coragem para romper com a prpria adequao, ou seja,
para manter o rumo ao pior.
A coragem elo esforo sempre extrada ao avesso de seu
destino. Chamar-se- isso de toro do dizer: a coragem da conti-
nuao do esforo extrada das prprias palavras, mas nas pala-
vras ao avesso de seu destino verdadeiro, que piorar.
O esforo - no caso, o esforo artstico ou potico - um
trabalho rido na lngua para orden-Ia aos exerccios do piorar.
Mas esse esforo rido tira sua energia de uma disposio bem-
sucedida da lngua: uma espcie de fantasma de adequao que
a obseda, e ao qual se torna como se a se situasse o lugar
possvel de onde extrair da prpria lngua, mas inteiramente na
contra-inclinao de seu destino, a coragem de seu tratamento.
Em Cap au pire, essa tenso d lugar a passagens belssimas.
Aqui est a primeira.
As palavras tambm de quem quer que sejam. Quanto lugar
deixado para o pior! Como s vezes soam quase reais! Como
Ihes falta inpcia! Dizer a noite jovem infelizmente e criar
coragem. Ou melhor pior dizer uma noite de viglia ainda infeliz-
mente por vir. Um resto de ltima viglia por vir. E criar coragem. *
na meelida em que se pode dizer algo que soa quase verda-
deiro, em que se pode dizer o que elo poema "como" o verdadeiro,
e a criar coragem, que se mantm o rumo ao pior. "Dizer a noite
jovem infelizmente e criar coragem." realmente magnfico! E
aqui est uma variao sobre o tema:
Les mots aussi ele qui qu'ils soient. Que ele place laisse au plus mal! Comme
parfois ils presque sonnent presque vrai! Comme ]'ineptie leur fait elfaut! Dire Ia
nuit est jeune hlas et premire courage. Ou mieux plus mal elire une nuit ele
veille enC01'e hlas venir. Un reste ele elerniere veille venir. Et prenelre courage.
Copo cit., p. 26)
140
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Que palavras para o que ento? Como elas quase soam ainda.
Enquanto, mal ou pior fora de alguma substncia mole elo
esprito elas ressumam. Fora isso nisso ressumam. Como falta
pouco no inepto. At o ltimo iminimizvel menor como se
tem m vontade de reduzir. Pois ent~lo na ltima penumbra
acabar por desproferir o menorssimo todo.*
Tudo mostra a que ponto "se tem m vontade de reduzir", a
que ponto esse esforo rido. Tem-se m vontade de reduzir
porque as palavras so "falta pouco no ineptas", porque a pala-
vra soa verdadeira, porque soa clara, e a que se cria coragem.
Mas criar coragem para qu? Bem, precisamente para dizer mal,
ou seja, para recusar a iluso que soa verdadeira, iluso que nos
convoca coragem. A toro do dizer , portanto, ao mesmo
tempo o que elucida a aridez do esforo (deve-se superar, rumo
ao pior, a clareza das palavras) e a coragem com a qual tratamos
essa aridez.
No entanto, manter o rumo ao pior difcil por uma segunda
razo: o ser como tal resiste a ele, o ser rebelde lgica do pior.
Na medida em que o piorar se exerce sobre as sombras, chega-se
beira da penumbra, beira do vazio, e l, continuar a piorar
cada vez mais difcil. Como se a experincia do ser fosse verific-
Ia, no a partir de um impasse do piorar, mas de uma dificuldade,
ou de um esforo crescente, cada vez mais estafante, desse piorar.
Quando se conduzido beira do ser por um exerccio rido
e atento do piorar das aparncias, uma espcie de invariabilidade
desconcerta o dizer e o expe a uma experincia sofrida, como se
seu imperativo encontrasse a o que lhe era mais afastado ou mais
indiferente. Isso ser dito de duas maneiras, segundo a penumbra,
Quels mots pour quoi alors? Comme ils presque sonnent enc01'e. Tanelis que tant
mal que pis h01's ele quelque substance molle ele l'esprit ils suintent. H01's a en
a suintent. Comme c'est peu s'en faut non inepte. ]usqu'au elernier imminimisable
moinclre comme on rechigne reluire. Cal' alO1's elans l'ultime pnombre finir
par elprofrer le moinelrissime tout. C op. cit., p. 43)
141
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
ou segundo o vazio. E essa relao da penumbra, do vazio e do
imperativo do dizer leva ao centro das questes ontolgicas.
Lembremos que a penumbra o nome do que expe o ser. Da
resulta que a penumbra jamais pode ser escurido total, escurido
que o imperativo do dizer deseja, como seu impossvel prprio. O
imperativo do dizer, que deseja o menorssimo, polarizado por
essa idia que a penumbra tornar-se-ia o escuro, o absolutamente
negro. O texto levanta vrias hipteses segundo as quais esse dese-
jo poderia ser satisfeito. Mas essas hipteses so finalmente rejeita-
das, pois sempre h uma exposio mnima do ser. O ser do ser
vazio se expor como penumbra, ou ainda o ser do ser se expor,
e a exposio exclui a absolutez do escuro. Mesmo que se pudesse
diminuir a exposio, no se conseguiria chegar ao escuro como
tal. Dir-se- da penumbra que ela "um pior impiorvel":
Assim rumo ao menor ainda. Enquanto a penumbra perdura
ainda. Penumbra inobscurecida. Ou escurecida a mais escura
ainda. Aescurssima penumbra. O menorssimo na escurssima
penumbra. A ltima penumbra. O menorssimo na ltima pe-
numbra. Pior impiorvel.*
O pensamento pode transferir-se para o menorssimo, para a
ltima penumbra, mas no h nenhum acesso ao escuro como tal.
Sempre h algo que ainda menor, e tornamos a dizer que o
axioma fundamental : "menor jamais nada". O argumento
simples: como a penumbra, que a exposio do ser, condio
do rumo ao pior, por ser o que expe ao dizer, ela prpria no
pode-lhe ser integralmente organizada. No podemos nos colocar
rumo ao nada, somente rumo ao pior. No h rumo ao nada,
precisamente porque a penumbra condio do rumo. E, portanto,
Ainsi cap au moindre encore. Tant que Ia pnombre perdure encore. Pnombre
inobscurcie. Ou obscurcie plus obscur encore. A l'obscurissime pnombre. Le
moindrissime dans l'obscurissime pnombre. L'ultime pnombre. Le moindrissime
dans I'ultime pnombre. Pire inempirable. Copo cit., pp.42-43)
142
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
possvel sustentar o quase escuro, o praticamente escuro, mas a
penumbra em seu ser permanece penumbra. Em ltima anlise,
ela resiste ao piorar.
k) O vazio impiorvel
J o vazio dado na experincia. dado no intervalo das
sombras da penumbra. o que separa. De fato, o fundo do ser;
mas, enquanto exposto, puro afastamento. A propsito das som-
bras ou do par, Beckett dir: "vastido de vazio entre eles". Essa
a figura de doao do vazio.
O piorar visa aproximar-se do vazio como tal, a no ter mais o
vazio apenas na dimenso intervalar, mas o vazio como vazio, que
seria o ser retirado de sua exposio. Mas, se o vazio subtrado
a sua prpria exposio, ento no pode mais ser correlativo do
processo do piorar, pois o processo do piorar s trabalha as som-
bras e seus intervalos vazios. De tal forma que o vazio "em si" no
se deixa trabalhar de acordo com as leis do piorar. Pode-se variar
os intervalos, mas o vazio como vazio permanece radicalmente
impiorvel. Ora, se radicalmente irnpiorvel, isso quer dizer que
no pode nem mesmo ser mal dito. Esse ponto muito sutil. O
vazio "em si" o que no pode ser mal dito. sua definio. O vazio
pode apenas ser dito. Nele, o dizer e o dito coincidem, o que
probe o dizer mal. Tal coincidncia torna ao fato de que o pr-
prio vazio no passa de um nome. Do vazio "em si", voc s
dispe de seu nome. Isso expressamente formulado no texto de
Beckett, da seguinte maneira:
O vazio. Como tentar dizer? Como tentar fracassar? Nenhuma
tentativa nada fracassada. Dizer somente -.*
Le vide. Comment essayer ctire? Comment essayer rater? Nul essai rien de rat.
Dire seulement -. Copo cit., p. 20)
143
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
o vazio ser subtrado do dizer mal significa que no h arte do
vazio. O vazio subtrado quilo que da lngua faz proposio de
arte: a lgica do piorar. Quando voc diz "o vazio", disse tudo o
que pode ser dito e no tem processo de metamorfose desse di-
zer. Dir-se- tambm que no h metfora.
Na subjetividade, como no passa de um nome, o vazio s
suscita o desejo de seu desaparecimento. O vazio induz no crnio
no o processo do piorar, impossvel com relao a ele, mas a
impacincia absoluta desse puro nome, ou ainda o desejo de que
o vazio seja exposto como tal, ou nadificado, o que, contudo,
impossvel.
A partir do momento em que se toca no vazio no intervalar, no
vazio "em si", se est naquilo que em Beckett a representao de
um desejo ontolgico subtrado ao imperativo do dizer: a fuso no
nada do vazio e da penumbra. Dir-se- igualmente que, de maneira
quase pulsional, o nome do vazio encadeia um desejo de desapare-
cimento, mas que esse desejo de desaparecimento no tem objeto,
pois a s dispe de um nome. E o vazio ir sempre opor a qual-
quer processo de desaparecimento o fato de que, justamente, ele
subtrado ao piorar, o que dado pelo fato de que, tratando-se do
vazio, o "mximo" e o "quase" so a mesma coisa. O que, observe-
mos, no o caso da penumbra, uma vez que os dois nomes do ser
no funcionam da mesma maneira. Apenumbra pode ser escurssima,
menorissimamente escurssima; o vazio no. O vazio s pode ser
dito, apreendido como puro nome e subtrado a qualquer princpio
de variabilidade, portanto, de metfora ou de metamorfose, porque
nele o "mximo" e o "quase" coincidem absolutamente. Aqui est a
passagem principal sobre o vazio;
Tudo exceto o vazio. No. O vazio tambm. Impiorvel va-
zio. Jamais menos. Jamais aumentado. Jamais desde que dito
primeiro jamais desdito jamais mais mal dito jamais sem que
no devore a vontade que tenha desaparecido.
Dizer a criana desaparecida. [...]*
144
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
"Dizer a criana desaparecida": Beckett tenta abordar a ques-
to por um vis. O vazio impiorvel no pode desaparecer, mas
se, por exemplo, faz-se uma sombra desaparecer, pois se est
diante de um vazio infestado de sombras, talvez se obtenha um
vazio maior. Esse aumento entregaria o vazio ao processo da ln-
gua. essa experincia que a seqncia descreve:
Dizer a criana desaparecida. Bem como. Fora vazio. Fora
esbugalhados. O vazio ento no tanto maior? Dizer o ve-
lho desaparecido. A velha desaparecida. Bem como. O vazio
no tanto maior ainda? No. Vazio ao mximo quando qua-
se. Ao pior quando quase. Menor ento? Todas sombras bem
como desaparecidas. Se portanto nem tanto mais que isso
tanto menor ento? Menos pior ento? Chega. Que o diabo
carregue o vazio. Inaumentvel iminimizvel impiorvel sem-
piterno quase vazio.**
Como se v, a experincia fracassa. O vazio permanece
radicalmente impiorvel, portanto, indizvel, enquanto pura de-
nominao.
Tout sauf Ia vide. Non. Le vide aussi. Inempirable vide. Jamais moindre. Jamais
augment. Jamais depuis que d'abord dit jamais ddit jamais plus mal dit jamais
sans que ne dvore l'envie qu'i! ait disparu.
Dire l'enfant disparu. [,..] Copo eit" pp. 55-56)
Dire l'enfant disparu. Tout comme. Hors vide. Hors carquilIs. Le vide alors
n'en est-i! pas d'autant plus grand? Dire le viei! homme disparu. La vieilIe femme
ciisparue. Tout comme. Le vicie n'en est-i! pas d'autant plus grand encore? Non.
Vicie au maximum lorsque presque. Au pire lorsque presque. Moindre alors?
Toutes ombres tout comme disparues. Si donc pas tellement plus que a telle-
ment moins alors? Moins pire alors? Assez. Peste soit du vide. Inaugmentable
imminimisable inempirable sempiternel presque vide. Copo eit., pp. 55-56)
145
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
I) Aparecer e desaparecer. O movimento
O argumentar ligado ao vazio convoca, com os supostos mo-
vimentos de desaparecimento e aparecimento, a totalidade das idias
supremas platnicas. Temos o ser, que vazio e penumbra; o
mesmo, que o um-mulher; o outro, que o dois-velho/criana.
A questo saber o que ocorre com o movimento e o repouso,
ltimas categorias nos cinco gneros primordiais do Sofista.
A questo do movimento e do repouso apresenta-se sob a forma de
duas interrogaes: "o que pode desaparecer?" E "o que pode mudar?"
Existe uma tese absolutamente essencial, a de que o desapare-
cer absoluto seria o desaparecer da penumbra. Se nos perguntar-
mos "o que pode desaparecer absolutamente?", responder-se-: a
penumbra. Por exemplo:
Ainda volta para desdizer desaparecimento do vazio. [J foi
dito que o desaparecimento do vazio est subordinado ao de-
saparecimento da penumbra.] Desaparecimento do vazio no
possvel. Exceto desaparecimento da penumbra. Ento desa-
parecimento de tudo. Tudo no j desaparecido. At penum-
bra reaparecida. Ento tudo reaparecido. Tudo no desaparecido
para sempre. Desaparecimento de uma possvel. Desapareci-
mento dos dois possvel. Desaparecimento do vazio no
possvel. Exceto desaparecimento da penumbra. Ento desa-
parecimento de tudo.*
Continua existindo a hiptese possvel de um desaparecer
absoluto, que se apresentaria como desaparecimento da prpria
Encare retour pour ddire disparition du vide. V'ai dj dit que ia disparition du
vide est suborclonne Ia disparition de ia pnombre.] Disparition clu vide ne se
peut. Sauf disparition de Ia pnombre. Alars disparition de tout. Tout pas dj
disparu.Jusqu' pnombre rapparue. Alors tout rapparu. Tout pas jamais disparu.
Disparition de l'une se peut. Disparition des c1euxse peut. Disparition du vide ne
se peut. Sauf disparition de ia pnombre. Aiars disparition de tout. Copo cit., p. 22)
146
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
exposlaO e, portanto, desaparecimento da penumbra. Mas o
que se deve observar com ateno que essa hiptese est fora
do dizer, que o imperativo do dizer nada tem a ver com a possibili-
dade do desaparecimento da penumbra. Assim, o desapareci-
mento da penumbra uma hiptese abstrata, como seu
reaparecimento, que formulvel, mas no permite qualquer
experincia, a qualquer protocolo na injuno do dizer. H um
horizonte de desaparecimento absoluto, pensvel no enunciado
"desaparecimento da penumbra". No entanto, esse enunciado
permanece indiferente a todo o protocolo do texto.
O problema vai concentrar-se, portanto, no desaparecimento e
no aparecimento das sombras. um problema de ordem comple-
tamente diferente, vinculado questo do pensamento, enquanto
a hiptese do desaparecimento da penumbra est fora do dizer e
fora do pensamento. De modo mais genrico, trata-se do proble-
ma do movimento das sombras.
A investigao desse ponto muito complexa, e aqui s cito
suas concluses.
Em primeiro lugar, o um no tem capacidade de movimento.
Decerto, a figura da velha mulher, que o trao de Um, ser descri-
ta como "inclinada", depois "ajoelhada", o que parece proceder da
mudana. Mas com a preciso capital de que a s se trata de pres-
cries do dizer, de regras do pior, e jamais de um movimento
prprio. No verdade que o um se ajoelha ou se inclina. O texto
continua enunciando que se vai dizer ajoelhado, inclinado, etc.
Tudo isso est sob a prescrio da lgica da minorao no piorar,
mas no indica nenhuma capacidade prpria do um a um movi-
mento qualquer.
A primeira tese , portanto, parmenidiana: o que contado
um, na medida em que somente contado um, permanece indife-
rente ao movimento.
Segundo enunciado: o pensamento (a cabea, o crnio) no
tem condies de desaparecer. Sobre esse ponto h muitos textos.
Aqui est um deles:
147
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
A cabea. No perguntar se desaparecimento possvel. Dizer
no. Sem perguntar no. Dela desaparecimento no possvel.
Exceto desaparecimento na penumbra. Ento desaparecimento
de tudo. Desaparea penumbra! Desaparea vez. Bem de uma
vez por todas. De uma vez por todas de uma vez e de vez.*
H movimento, mas h uma imobilidade interna a esse movi-
mento. Eles vo embora e jamais se afastam. O que isso quer
dizer? Quer dizer que certamente h movimento - eles vo em-
bora -, mas que s existe uma nica situao do ser, s h uma
situao ontolgica. Dir-se- tambm: h apenas um s lugar. O
que desde logo declarado na mxima:
Nenhum lugar que no o nico.*
Nullieu que l'unique. Copo cit., p. 13)
m) O amor
Essa migrao imvel, que a do dois, muito longinquamente
marcada pela concepo beckettiana do amor. Nesse caso, trata-se
do velho e da criana, mas pouco importa. Pois temos a mxima
do dois, e, nesse prodigioso texto sobre o amor que se chama
Assez, Beckett apresenta-nos o dois do amor como uma espcie
de migrao, que ao mesmo tempo uma migrao sobre si mes-
mo. essa a essncia do amor. A migrao no faz com que se
passe de um lugar a um outro, um deslocamento dentro do
lugar, e esse deslocamento imanente tem seu paradigma no dois
do amor. Isso explica por que as passagens sobre o velho e a
S h um lugar, ou s h um universo, s h uma representa-
o do ser, no h duas. Para que o par se afaste efetivamente,
para que, indo embora, se afaste, seria necessrio um outro lugar,
seria necessrio que pudesse passar para um outro lugar. Ora,
no h outro lugar: "Nenhum lugar que no o nico." Ou seja:
no ser no existe dualidade. O ser Uno quanto sua localiza-
o. por isso que o movimento deve ser sempre reconhecido,
mas ao mesmo tempo apreendido como relativo, pois no per-
mite sair da unicidade do lugar, e o que se confirma a respeito
do par.
11
l
1
Ij
:0:\
I
I
I
I
I 1~
I
i _ ------
Mal ou mal vo embora e jamais se afastam.**
Esse "Desaparea penumbra!" permanece sem efeito. Como
vimos, voc pode continuar dizendo "Desaparea penumbra!", a
penumbra no se preocupa absolutamente com isso.
O que h de importante para ns que a cabea no tem
condies de desaparecer, exceto, naturalmente, desaparecimen
to da penumbra, mas ento desaparecimento de tudo.
Deve-se observar que, de repente, a cabea tem, sobre a ques-
to do desaparecer, o mesmo estatuto que o vazio. O que exata-
mente a mxima de Parmnides: "J o mesmo ao mesmo tempo
pensar e ser." Parmnides designa um emparelhamento ontolgico
essencial do pensamento e do ser. E Cap au pire declara que,
quanto questo do desaparecer, que a prpria experincia do
ser, o crnio e o vazio esto alojados sob a mesma insgnia.
De tal modo que finalmente - eis a terceira tese - apenas o
outro, ou o dois, sustenta o movimento.
Tese clssica, tese grega. O movimento s existe no par, ou
seja, no velho e na criana. Eles vo embora, andam. a idia de
que o movimento consubstancialmente ligado ao outro enquan-
to alterao. Mas o que significativo que esse movimento de
certa forma imvel. A propsito do velho e da criana - um
verdadeiro leitmotiv do texto -, ser dito constantemente:
La tte. Ne pas demandeI' si disparition se peul. Dire nono Sans demandeI' nono
D'elle disparition ne se peul. Sauf disparition de Ia pnombre. Alors disparition
de tOUI.Disparais pnombre! Disparais POUl'de bon. Tout POUl'de bon. Une
bonne fois pour tOUlespour de bon. Copo cit., p. 26)
Tant mal que mal s'en vont et jamais ne s'loignenl. Copo cit., p. 15)
148
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
criana so marcadas por uma emoo surda, bem particular em
Cap au pire: a migrao imvel designa o que seria possvel cha-
mar de carter espacial do amor.
Aqui est um desses textos, em que se ouve uma ternura abs-
trata poderosa, que faz eco a Assez:
De mos dadas caminham mal ou mal num passo igual. Nas
mos livres - no. Vazias as mos livres. Ambos costas
encurvadas vistos de costas caminham mal ou mal num passo
igual. Erguida a mo da criana para alcanar a mo que aper-
ta. Apertar a velha mo que aperta. Apertar e ser apertada. Mal
ou mal vo embora e jamais se afastam. Lentamente sem parar
mal ou mal vo embora e jamais se afastam. Vistos de costas.
Ambos encurvados. Unidos pelas mos apertadas apertando.
Mal ou mal vo embora como um s. Uma s sombra. Uma
outra sombra."
n) Aparecer e desaparecer. A mudana. O crnio
Uma hiptese acessvel ao crnio seria que as sombras, entre
um desaparecimento e um reaparecimento, tenham se modifica-
do. Essa hiptese evocada e trabalhada na pgina 16 da edio
francesa, mas expressamente apresentada como uma hiptese
do dizer:
Lentamente desaparecem. Ora um. Ora o par. Ora os dois.
Lentamente reaparecem. Ora um. Ora o par. Ora os dois.
Main clans Ia main ils vont tant mal que mal cI'un pas gal. Dans les mains libres
- nono Viciesles mains libres. Tous cleux cios courb vus cle cios ils vont tant mal
que mal cI'un pas gal. Leve Ia main cle I'enfant pour atteindre Ia main qui
treint. treindre Ia vieille main qui treint. treindre et tre treinte. Tant mal
que mal s'en vont et jamais ne s'loignent. Lentement sans pause tant mal que
mal s'en vont et jamais ne s'loignent. Vus de cios. Tous cleux courbs. Unis par
les mains treintes treignant. Tant mal que mal s'en vont comme un seul. Une
seule ombre. Une autre ombre. Copocit., pp. 14-15)
150
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Lentamente? No. Desaparecimento sbito. Reaparecimento
sbito. Ora um. Ora o par. Ora os dois.
Idnticos? Subitamente reaparecidos idnticos? Sim. Dizer sim.
Todas as vezes idnticos. Mal ou pior idnticos. At no. At
dizer no. Subitamente reaparecidos mudados. Mal ou pior
mudados. Toda vez mal ou pior mudados."
A possibilidade de mudanas reais, ou seja, mudanas entre o
aparecimento e o desaparecimento, no uma hiptese suscetvel
de afetar o ser da sombra, mas uma hiptese que a prescrio do
dizer pode eventualmente formular. mais ou menos como h
pouco: "Desaparea penumbra!", ou quando se diz "a ajoelhada",
"a inclinada", etc. Deve-se distinguir o que um atributo da pr-
pria sombra e a variao hipottica qual a prescrio do dizer
pode submet-Ia.
Afinal, tratando-se das sombras de tipo um (a mulher) e de
tipo dois (o velho e a criana), s a migrao imvel do par atesta
um movimento.
De modo que finalmente somos remetidos questo das mu-
danas da sombra de tipo trs, o crnio, crnio de onde ressumam
as palavras, de onde ressuma a prescrio do dizer. A intervm
evidentemente a suspenso da qual falvamos, que a estrutura do
cogito. Qualquer modificao, desaparecimento, reaparecimento ou
alterao do crnio bloqueado pelo fato de que o crnio deve ser
representado como o que apreende a si mesmo na penumbra.
No se pode supor, ento, que tudo desapareceu no crnio.
A hiptese de uma dvida radical, que afetaria as sombras de
desaparecimento integral, na prescrio que o crnio com isso
Lentement ils disparaissent. Tantt I'un. Tantt Ia paire. Tantt les deux. Lentement
rapparaissent. Tantt ['uno Tantt Ia paire. Tantt les cleux. Lentement? Non.
Disparition soudaine. Rapparition soudaine. Tantt I'un. Tantt Ia paire. Tantt
les deux.
Inchangs? Soudain rpparus inchangs? Oui. Dire oui. Chaque fois inchangs.
Tant mal que pis inchangs. Jusqu' nonoJusqu' dire nono Soudain rapparus
changs. Tant mal que pis changs. Chaque fois tant mal que pis changs.
151
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
faria, no pode ser mantida, pelos mesmos motivos que autoli-
mitam a dvida cartesiana radical. Aqui est a passagem:
No crnio tudo desaparecido. Tudo? Desaparecimento de tudo
no possvel. At desaparecimento da penumbra. Dizer ento
s desaparecidos os dois. No crnio um e dois desaparecidos.
Fora do vazio. Fora dos olhos. No crnio tudo desaparecido
exceto o crnio. Os esbugalhados. Os nicos na penumbra
vazia. Os nicos a serem vistos. Escuramente vistos. No crnio
o crnio nico a ser visto. Os olhos esbugalhados. Escuramente
vistos. Pelos olhos esbugalhados.*
A hiptese do desaparecimento das sombras, remetida ao fato
de que teriam desaparecido no crnio, portanto, de que no seriam
mais da ordem do ver ou do ver mal, no acarreta o desapareci-
mento de tudo, em particular no acarreta desaparecimento de
todas as sombras, porque o crnio, que , ele prprio, uma som-
bra, no pode desaparecer por si mesmo.
A matriz cartesiana enuncia-se necessariamente: "No crnio,
tudo desaparecido exceto o crnio." Penso, logo sou uma sombra
na penumbra. O crnio sombra-sujeito e no pode desaparecer.
o) Sobre o sujeito como crnio. Vontade, dor, alegria
O sujeito como crnio redutvel, fundamentalmente, ao dizer
e ao ver; o crnio combina os olhos esbugalhados e um crebro.
Mas, como em Descartes, h outras afeces. Em particular, h o
querer, h a dor e h a alegria, todos apontados no texto em seu
Dans le crne tout disparu. Tout?Disparition de tout ne se peut.]usqu' disparition
de Ia pnombre. Dire alors seuls disparus les deux. Dans le crne un et deu x
disparus. Hars du vide. Hors des yeux. Dans le crne tout disparu sauf le crne.
Les carquills. Seuls dans Ia pnombre vide.Seuls tre vUS.Obscurment vus.
Dans le crne le crne seul tre vu. Les yeux carquills. Obscurment vus. Par
les yeux carquills. Copo eit., p. 32)
152
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
lugar. Cada uma dessas afeces ser estudada de acordo com o
mtodo do piorar, ou seja, em seu essencial "iminimizvel menor".
O que o iminimizvel menor essencial do querer? o querer
quando dado em sua forma ltima, que querer o no-querer,
ou querer que no haja mais querer, isto , querer a si mesmo
como no querer, ou, dir Beckett, o querer do desaparecimento
do vo querer:
Ele gostaria do assim dito esprito que h tanto tempo perdeu
qualquer querer. O assim mal dito. No momento assim mal
dito. De tanto querer por tanto tempo todo querer voou. Lon-
go querer em vo. E quereria ainda. Vagamente quereria ain-
da. Vagamente em vo quereria ainda. Que ainda mais vago.
Que mais vago. Vagamente em vo quereria que o querer fos-
se o menor. Iminimizvel mnimo de querer. Inapaziguvel vo
mnimo.de querer ainda.
Gostaria que tudo desaparecesse. Desaparecesse a penumbra.
Desaparecesse o vazio. Desaparecesse o querer. Desapareces-
se o vo querer que o vo querer desaparecesse.*
Haveria muitos comentrios a fazer sobre a correlao entre
esse trecho e as doutrinas cannicas da verdade. Pode-se dizer
que o querer calcado no imperativo do dizer e que o "que tudo
desaparea", a vontade que desaparea finalmente "o vo querer
que o querer desaparea", vestgio irredutvel do querer, ou que
o querer, como o imperativo do dizer, s pode continuar.
Il voudrait l'ainsi dit esprit qui depuis si longtemps a perdu tout vouloir. L'ainsi
mal dit. Pour l'instant ainsi mal dit. force de long vouloir tout vouloir envol.
Long vouloir en vain. Et voudrait encore. Vaguement voudrait encore. Vaguement
vainement voudrait encare. Que plus vague encare. Que plus vague. Vaguement
vainement voudrait que le vouloir soit le moindre. Imminimisable minimum de
vouloir. Inapaisable vain minimum de vouloir encare.
Voudrait que tout disparaisse. Disparaisse Ia pnombre. Disparaisse le vide.
Disparaisse le vouloir. Disparaisse le vain vouloir que le vain vouloir disparaisse.
Copo eit., pp. 47-48)
153
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
A dor do corpo (enquanto a alegria vem das palavras). A dor
o que do corpo provoca o movimento e nisso ela a primeira
testemunha dos restos de esprito. A dor a prova corporal de
que h restos de esprito, na medida em que ela o que incita as
sombras ao movimento:
Ele est de p. O qu? Sim. O dizer de p. Forado afinal a se
pr e a se manter de p. Dizer ossos. Nenhum osso mas dizer
ossos. Dizer um solo. Nenhum solo mas dizer um solo. Para
poder dizer dor. Nenhum esprito e dor? Dizer sim para que os
ossos possam lhe doer tanto que nada alm que se pr de p.
Mal ou pior se pr e se manter de p. Ou melhor pior dos
restos. Dizer restos de esprito onde nada nos finais da dor.
Dor dos ossos tal que nada seno se pr de p. Mal ou pior se
pr assim. Mal ou pior se manter. Restos de esprito onde nada
nos finais da dor. Aqui ossos. Outros exemplos se necessrio.
De dor. De como aliviada. De como variada.*
A alegria, finalmente, est do lado das palavras. Alegrar-se
alegrar-se com o fato de que haja to poucas palavras para dizer o
que h a dizer. A alegria sempre alegria da pobreza das palavras.
O estigma do estado de alegria ou do jbilo, do que alegra, que
h extremamente poucas palavras para diz-Io. Ora, isso a pura
verdade, se refletirmos a esse respeito. A alegria extrema preci-
samente o que dispe de poucas ou de nenhuma palavra para se
dizer. Da que, na representao da declarao de amor, no h
li est elebout. Quoi? Oui. Le c!ireelebout. Forc Ia fin se mettre et tenir elebout.
Dire eles os. Nulos mais c!ireeles os. Dire un sol. Nul sol mais elire un sol. Pour
pouvoir elire elouleur. Nul esprit et elouleur? Dire oui pour que les os puissent
tant lui elouloir que plus qu' se mettre elebout. Tant mal que pis se mettre et
tenir elebout. Ou mieux plus mal eles restes. Dire eles restes el'esprit oi:!nuI aux
fins ele Ia elouleur. Douleur eles os telle que plus qu' se mettre elebout. Tant mal
que pis s'y mettre. Tant mal que pis y tenir. Restes el'esprit oi:!nul aux fins ele Ia
elouleur. lei eles os. D'autres exemples au besoin. De elouleur. De comment
soulage. De comment varie. Cop, cit., pp 9-10)
154
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
mais nada a dizer a no ser o "eu te amo", o que extremamente
pobre, porque est no elemento da alegria.
Penso, na Electra de Richard Strauss, na cena do reconheci-
mento de Orestes por Electra, em que EJectra canta um "Orestes!"
muito violento e a msica se paralisa. Tem-se um arranjo musical
jortissimo, mas absolutamente informe e bastante longo. Sempre
achei isso razoavelmente bom. como se a extrema alegria indi-
zvel fosse dada musicalmente pela autoparalisia da msica, como
se sua configurao interna meldica (que em seguida vai dar-se
tanto e mais em valsas melosas) fosse atingida pela impotncia:
temos ali um momento do "alegrar-se" enquanto disposio pobre
da denominao.
Beckett diz isso de maneira bem clara. Esse aspecto est eviden-
temente ligado ao fato de que h pobres restos de esprito, e
pobres palavras para esses pobres restos de esprito:
Restos de esprito portanto ainda. Bastante ainda. To mal a
quem to mal ou to mal onde pior bastante ainda. Nada de
esprito e de palavras? Mesmo tais palavras. Portanto bastante
ainda. O bastante para alegrar-se. Alegrar-se. S o bastante ain-
da para alegrar-se seno apenas eles. Apenas!'
Eis o que temos para as outras faculdades subjetivas que no o
ver e o dizer e, em primeiro lugar, as trs principais (vontade, dor,
alegria). Isso nos d, em suma, uma doutrina clssica das paixes.
p) Como pensar um sujeito?
Posto isto, caso se queira ir mais longe no estudo do sujeito,
deve-se proceder subtrativamente. No fundo, o mtodo de Beckett
Restes el'esprit donc encore. Assez encore. Tant mal qui tant mal oi:!tant mal
que pis assez encore. Pas el'esprit et eles mots? Mme ele tels mots. Donc assez
encore. Juste assez pour se rjouir. Rjouir! Juste assez encore pour se rjouir
que seulement eux. Seulement! Copo cit., pp. 37-38)
155
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
como a poche de Husserl ao avesso. A poche de Husserl consiste
em subtrair a tese do mundo, em subtrair o "h" para se voltar ao
movimento ou ao fluxo puro da interioridade que visa ao "h".
Husserl filia-se dvida cartesiana. Retira-se o carter ttico do
universo das operaes intencionais da conscincia, para tentar
apreender a estrutura consciente que governa essas operaes,
independentemente de qualquer tese do mundo.
O mtodo de Beckett exatamente o contrrio: trata-se de
subtrair o sujeito, de suspend-I o, para ver o que ento advm ao
ser. Far-se-, por exemplo, a hiptese de um ver sem palavras.
Far-se- igualmente a hiptese de palavras se ver. Far-se- a hip-
tese de um desaparecimento das palavras. E ento constatar-se-
que, nesse momento, h o mais bem visto. Aqui est um dos
protocolos dessa experincia:
Hiato para quando as palavras desaparecidas. Quando nada
mais possvel. Ento tudo visto como ento somente. Desobs-
curecido. Desobscurecido tudo o que as palavras obscure-
cem. Tudo assim visto no dito. Nada de ressumao ento.
Nada de vestgio sobre a substncia mole quando ela ainda
ressuma. Nela ressuma ainda. Ressumao somente para vis-
to tal como visto com ressumao. Obscurecido. Nada de
ressumao para visto desobscurecido. Para quando nada mais
possvel. Nada de ressumao para quando ressumao de-
saparecida. *
Seria necessrio explicar o texto em detalhes. Trata-se do pro-
tocolo do ver tal como fica desobscurecido quando se aventa a
Hiatus pour lorsque les mots disparus. Lorsque plus meche. Alors tout vu comme
alors seulement. Dsobscurci. Desbscurci tout ce que les mots obscurcissent.
Tout ainsi vu non dit. Pas de suintement alors. Pas trace sur Ia substance molle
lorsque d'elle suinte encore. En elle suinte encore. Suintement seulement pour
vu tel que vu avec suintement. Obscurci. Pas de suintement pour vu dsobscurci.
Pour lorsque plus meche. Pas de suintement pour lorsque suintement disparu.
Copo cit., p. 53)
156
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
hiptese do desaparecimento das palavras, do fim real do impera-
tivo do dizer - uma pura hiptese abstrata como a poche de
Husserl, e uma hiptese insustentvel, que no pode ser pratica-
da. Sob essa hiptese, algo do ser se esclarece. E pode-se fazer a
experincia inversa: subtrair o ver e perguntar-se qual o destino
de um dizer mal desconectado elo ver, do mal visto.
No desenvolvo essas experincias, mas, finalmente, quando
se recapitula a questo de desaparecer, obtm-se trs proposies.
Em primeiro lugar, o vazio impiorvel se considerado na
exposio da penumbra. O que significa que no h experincia
do ser, h apenas um nome. Um nome comanda um dizer, mas
uma experincia um dizer mal, e no um dizer.
Em segundo lugar, o crnio ou sujeito no pode ser subtrado
ao ver e ao dizer realmente, s pode ser subtrado em experin-
cias formais, em particular, porque sempre no desaparecido
para si mesmo.
Finalmente, as sombras, essas, ou seja, o mesmo e o outro, so
piorveis (do ponto do crnio), portanto, so objetos de experin-
cias, de exposio artstica.
Eis o que exposto, dito e tramado com muitas outras coisas.
H toda uma doutrina do tempo, do espao, das variaes ..., a se
perder de vista.
Pelo menos at a pgina 60. A partir da, acontece algo dife-
rente, cuja complexidade tanta que seriam necessrias longas con-
sideraes para se chegar a bom termo. Vou apontar o essencial.
q) O acontecimento
At essa pgina 60, permanecemos nos dados do dispositivo
mnimo, que entrelaa o ser, a existncia e o pensamento. E aqui
se produz um acontecimento no sentido estrito, uma descontinui-
dade, acontecimento preparado pelo que Beckett chama de um
estado ltimo. De modo geral, o estado ltimo o que acabamos
157
PEqUENO MANUAL DE INESTTICA
de dizer: o estado ltimo como ltimo estado do estado, ltimo
estado do dizer do estado das coisas. Esse estado apanhado na
impossibilidade do aniquilamento, exceto desaparecimento na
penumbra, que continua sendo uma hiptese fora do dizer.
O acontecimento, cujo traado se deve dizer, vai dispor, ou
desnudar, um imperativo do dizer reduzido ao enunciado de sua
cessao. As condies sero modificadas a partir do aconteci-
mento, de tal maneira que o contedo do "ainda" ser estritamen-
te limitado a "mais impossvel ainda". O que restar a dizer ser
somente que no h mais nada a dizer. E assim teremos um dizer
que chegou a seu grau de purificao absolutamente mximo.
Tudo comea pela recapitulao do estado ltimo:
Mesma inclinao para todos. Mesmas vastides de distncia.
Mesmo estado ltimo. ltimo em data. At mal ou pior menor
em vo. Pior em vo. Devora toda a vontade de ser nada. Nada
jamais se pode ser.'
O "estado ltimo" salda o processo do pior como interminvel.
Sua mxima : "Pior em vo." Porm, a partir do momento em que
a recapitulao termina, introduzida por "subitamente", produz-se
com brusquido uma espcie de afastamento desse estado para
uma posio limite, que como seu recuo absoluto para dentro
da lngua. Como se tudo o que foi dito, por poder ser dito em seu
estado ltimo, se encontrasse de imediato a uma distncia infi-
nitesimal do imperativo da lngua.
Deve-se dizer que esse movimento absolutamente paralelo
ao surgimento da Constelao no final do Lance de dados de
Mallarm. A meu ver, a analogia consciente, e veremos por qu.
como se, no momento em que no h mais nada a dizer, a no
ser "eis o estado das coisas, das coisas do ser" - o que Mallarm
Mme inclinaison pour tous. Mmes vastitudes de distance. Mme tat dernier.
Dernier en date. ]usqu' tant mal que pis moindre en vain. Pire en vain. Dvore
tout l'envie d'tre nant. Nant jamais ne se peut tre. Copo cit., p. 61)
158
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
diz sob a forma "nada teve lugar seno o lugar" -, quando se
pensa que o texto vai parar nesse momento, que se tramou essa
mxima como ltima palavra sobre aquilo de que o imperativo do
dizer capaz; como se nesse momento se produzisse uma espcie
de adjuno, em uma cena situada distncia da cena tratada,
adjuno sbita, em ruptura, brusca, e na qual se d uma meta-
morfose da exposio, metamorfose sideral, ou siderao. No se
trata do desaparecimento da penumbra, mas de um recuo do ser
ao limite de si. E, da mesma forma que em Mallarm a questo do
lance de dados se salda pelo aparecimento das estrelas da Ursa
Maior, aqui o que era contado na penumbra vai ser fixado como
buracos de alfinete, em uma metfora muito prxima. Eis a passa-
gem introduzida pela clusula de ruptura "Chega" ["Assez"]:
Chega. De repente chega. De repente bem longe. Nenhum
movimento e de repente bem longe. Bem menor. Trs alfine-
tes. Um buraco de alfinete. Na penumbra obscurssima. A vas-
tides de distncia. Nos limites do vazio ilimitado. De onde
no mais longe. Melhor pior no mais longe. Mais impossvel
menos. Mais impossvel pior. Mais impossvel nada. Mais im-
possvel ainda.
Seja dito mais impossvel ainda.'
Quero simplesmente insistir sobre alguns pontos.
O carter de acontecimento intratextual dessa disposio nos
limites assinalado pelo fato de que "de repente" no tem movi-
mento. "De repente bem longe. Nenhum movimento e de repente
bem longe." No uma mudana, portanto, uma separao:
uma outra cena, que repete a cena primordialmente estabelecida.
Assez. Soudain assez. Soudain tout loin. Nul mouvement et soudain tout loin.
Tout moindre. Trais pingles. Un trau c1'pingle. Dans l'obscurissime pnombre.
des vastitudes de distance. Aux limites du vide illimit. D'o pas plus loin.
Mieux plus mal pas plus loin. Plus meche moins. Plus meche pire. Plus meche
nant. Plus meche encare.
Soit dit plus meche encare. Copo cit., p. 62)
159
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Em segundo lugar - o que me faz pensar realmente que a
configurao mallarmeana da coisa consciente -, a passagem
"A vastides de distncia. Nos limites do vazio ilimitado", que,
para os ouvidos, absolutamente prxima de "na altura talvez to
longe que um lugar funde-se com o alm [...] uma constelao".
Estou absolutamente convencido de que os trs alfinetes e as sete
estrelas so a mesma coisa.
Em pensamento, isso de fato a mesma coisa: no momento
em que s resta a dizer a representao estvel do ser, surge numa
subitaneidade, que uma graa sem conceito, uma configurao
de conjunto na qual vai se poder dizer "mais impossvel ainda".
Ou seja, no um "ainda" ordenado ou prescrito s sombras, mas
simplesmente "mais impossvel ainda", ou seja, o "ainda" do dizer
reduzido pureza de sua cessao possvel.
No entanto, a configurao desse poder-dizer no mais um
estado do ser, um exerccio do piorar. um acontecimento, que
cria um longe. Um distanciamento incalculvel. Do ponto de vista
potico, seria preciso mostrar que essa configurao de aconteci-
mento, esse "de repente" esttica ou poeticamente preparado
por uma figura. Em Mallarm, a Constelao preparada pela
figura do mestre que est se afogando na superfcie do mar. Em
Beckett, essa preparao de figura, absolutamente admirvel, con-
siste na metamorfose toda imprevisvel do um-mulher em pedra
tumular, em uma passagem que deveria alertar, se possvel di-
zer, por sua descontinuidade em imagem. Pouco antes, uma pgi-
na antes do acontecimento nos limites, h o seguinte:
Nada e contudo uma mulher. Velha e contudo velha. Sobre
joelhos invisveis. Inclinada como velhas pedras tumulares
terna memria inclinam-se. Nesse velho cemitrio. Nomes apa-
gados e de quando em quando. Inclinadas mudas sobre tmulos
de seres nenhuns.*
Rien et pourtant une femme. Vieille et pourtant vieille. Sur genoux invisibles.
Incline comme de vieilles pierres tombales tenelre mmorie s'inclinent. Dans ce
160
SER, EXISTNCIA, PENSAMENTO
Essa passagem absolutamente singular e paradoxal com res-
peito a tudo o que dissemos. Em primeiro lugar, porque traz uma
metfora para o ponto das sombras. O um-mulher, a inclinao do
um-mulher torna-se literalmente uma pedra tumular. E sobre a
inclinao dessa pedra tumular o sujeito s dado no apagamento
de seu nome, na rasura de seu nome e de sua data de existncia.
Pode-se dif:er que o "chega" indica a possibilidade do aconte-
cimento sobre o fundo desses "tmulos de seres nenhuns", sobre
essa nova inclinao. A inclinao abre para a declinao, o tmulo
annimo para o alfinete astral.
No Lance de dados, a ruptura factual da constelao possvel
porque o elemento do lugar soube metamorfosear-se em outra
coisa que no ele mesmo.
Em Cap au pire, temos um tmulo, a velha que, ela prpria, se
tornou tmulo, o um-tmulo, da mesma forma no poema de
Mallarm temos a espuma que se torna navio e que, tornando-se
navio, suscita o capito do navio, etc. Temos uma transmigrao
da identidade da sombra para a figura do tmulo; e, quando te-
mos o tmulo, tambm temos a transmigrao do lugar: o que era
penumbra, vazio ou lugar inominvel, torna-se cemitrio. Chama-
ria a isso de uma preparao figural.
De fato, pode-se dizer que todo acontecimento admite uma
preparao figural, que sempre h uma figura pr-acontecimento.
No texto em questo, a figura dada a partir do momento em que
as sombras chegam a ser o smbolo do ser de uma existncia.
Qual o smbolo do ser de uma existncia seno a pedra tumular,
sobre a qual h o nome apagado e as datas de nascimento e de
morte, igualmente apagadas? Momento em que a existncia est
apta a apresentar-se como o smbolo do ser ela mesma e em que
ao ser advm seu terceiro nome: nem vazio, nem penumbra, mas
cemitrio.
vieux cimetiere. Noms effacs et ele quanel quando Inclines muettes sur les
tombes ele nuls tres. Copo cit., p. 61)
161
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
o tmulo O momento em que, por uma transmutao interna
ao dizer, a existncia penetra em uma tal simblica do ser que o
que vai poder ser pronunciado sobre o ser muda de natureza.
Uma cena ontolgica alterada repete o estado ltimo, estado lti-
mo que no era, portanto, o estado ltimo. H um estado supraml-
merrio do estado ltimo, que precisamente o que constitudo
de repente. Um acontecimento o que, figuralmente preparado,
faz advir que um estado ltimo do ser no seja o ltimo.
E o que vai restar no final? Bem, vai restar um dizer sobre o
fundo de nada, ou de noite: o dizer do "ainda", do "mais imposs-
vel ainda", o imperativo do dizer tal qual. No fundo, o termo de
uma espcie de lngua astral, que flutuaria sobre sua prpria runa
e de onde tudo pode recomear, de onde tudo pode e deve recome-
ar. Esse recomeo inelutvel pode ser dito: o inominvel do dizer
seu "ainda". E o bem, ou seja, o modo prprio do bem no dizer
sustentar o "ainda". S isso. Sustent-Io sem denomin-Io. Sus-
tentar o "ainda" e sustent-Io at o ponto de incandescncia extre-
ma, onde seu nico contedo aparente : "mais impossvel ainda".
Mas para isso, preciso que um acontecimento ultrapasse o
estado ltimo do ser. Ento, posso, e devo, continuar. A menos que,
para recriar as condies de obedincia a esse imperativo, seja pre-
ciso adormecer um pouco, o tempo de juntar, em um simulacro do
vazio, a penumbra do ser e a embriaguez do acontecimento. Talvez
seja essa toda a diferena entre Beckett e Mallarm: o primeiro
probe o sono, como probe a morte. Deve-se fazer viglia. Para o
segundo, tambm se pode alcanar a sombra aps o trabalho po-
tico, pela suspenso da questo, pela interrupo salvadora. por-
que Mallarm, depois de ter colocado de uma vez por todas que
um Livro possvel, pode contentar-se com "tentativas visando ao
melhor" e dormir entre duas tentativas. Eu aprovo-o, nesse aspecto,
por ser um fauno francs, mais do que um insone irlands.
162
10
FILOSOFIA DO FAUNO
Referncias
Em 1865, Mallarm tenta escrever uma obra destinada ao tea-
tro com o ttulo de Monlogo de umjauno.* O texto realmente
pensado para a representao, como atesta o fato de comportar
um grande nmero de didasclias, precisando movimentos e pos-
turas. Os esboos delineiam trs partes: a tarde de um fauno; o
dilogo das ninfas; o despertar do fauno. A construo dramtica
, no fundo, de grande simplicidade: evocao do ocorrido su-
cede a apresentao dos personagens, e, depois, quando do des-
pertar, a distribuio de tudo isso na dimenso do sonho.
Os primeiros versos dessa primeira verso:
Eu tinha ninfas. Um sonho? No: o claro
Rubi dos seios erguidos ainda abrasa o ar
Imvel.**
Como o monlogo no encontra produtor para o teatro, dez
anos depois, em 1875, sob o ttulo Improvisao de um jauno,
Mallarm escreve uma verso intermediria, que comea por:
As tradues dos trechos de Monlogo de umfauno, Improvisao de umfauno
e ele A tarde de umafauno so de Angel Bojaelsen.
j'avais des nymphes. Est-ce un songe? Non: le clair / Rubis eles seins levs embrase
encare l'air / Immobile.
163
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Essas ninfas, quero maravilh-Ias.-
Finalmente, em 1876, publicado o texto que conhecemos,
sob a forma de uma pequena brochura luxuosa, com um desenho
de Manet. A abordagem definitiva :
Essas ninfas, quero perpetu-Ias.*-
Trajetria exemplar. A primeira verso visa a um debate sobre
a realidade do objeto do desejo ("Eu tinha"), em que finalmente se
chega a uma deciso (no passava de um sonho). A segunda ver-
so estabelece um imperativo que podemos dizer de sublimao
artstica, qualquer que seja a condio do objeto ("maravilhar"). A
terceira verso designa uma tarefa para o pensamento: embora
tenha havido um desvanecimento do que surgiu uma vez, o poe-
ma deve garantir sua verdade perptua.
Arquitetura: as hipteses e o nome
o poema mantm-se por inteiro no espao entre o demonstra-
tivo essas e o eu que sustenta o imperativo da perpetuao. Qual
a relao entre a gnese desse eu e a objetividade aparente de
essas ninfas? Como um sujeito pode sustentar-se de um objeto, a
partir do momento em que este desapareceu e em que o prprio
eu sua nica atestao? O poema aquilo pelo que um desapa-
recimento vem dar todo o seu ser a um sujeito que se protege em
uma denominao pura: "essas ninfas".
Jamais ser questionado que aquilo de que tratamos recoberto
por esse nome, ninfas. A denominao o ponto fixo do poema, e
o fauno ao mesmo tempo seu produto e sua garantia. O poema
uma longa fidelidade a esse nome.
Ces nymphes, je les veux merveiller.
Ces nymphes, je les veux perptuer.
164
FILOSOFIA DO FAUNO
O que desapareceu sob o nome s pode ser suposto. E so
essas suposies que aos poucos constroem o fauno, no espao
entre o nome, essas ninfas e o eu.
A ocupao desse espao faz-se por hipteses sucessivas, tra-
balhadas e ligadas pela dvida, sob a fixidez do nome.
Quais so essas hipteses? Existem quatro principais, com ra-
mificaes internas.
1. As ninfas poderiam ter sido apenas imaginariamente suscita-
das pela fora do desejo do fauno (elas seriam "um voto de seus
sentidos fabulosos").
2. Poderiam ser apenas fices, desta feita induzidas pela arte
do fauno (que msico).
3. Elas seriam bem reais, teria existido o acontecimento de sua
chegada, mas a pressa do fauno, uma espcie de prematurao da
captura sexual, telas-ia dividido e suprimido. Esse seria o "crime"
do fauno.
4. Talvez as ninfas sejam apenas as encarnaes fugidias de
um nome nico: "ninfas" como hipstases de Vnus. O aconteci-
mento que atestam imemorial, e o nome verdadeiro que deve
vir sagrado, o nome de uma deusa.
Construdas pelo entrelaamento das hipteses, duas certezas
esclarecem o poema e constroem o "eu" do fauno:
De qualquer modo, as ninfas no esto mais l. So a partir
daquele momento "essas ninfas", e no tm importncia, e at
perigoso querer lembrar-se do que foram. Suprimido o aconteci-
mento, nenhuma memria pode ser sua guardi. A memria
uma desfactualizao, pois tenta ajustar a denominao a um
significao.
Doravante, trata-se de saber, abandonando qualquer mem-
ria e qualquer realidade, o que o nome vai tornar-se:
Casal, adeus; irei ver a sombra em que te transformastes.*
Couple, aclieu; je vais voir j'ombre que tu clevins.
165
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
As hipteses propem ao poema fixar uma regra de fidelidade.
Fidelidade em nome de um acontecimento.
Dvidas e vestgios
Passa-se de uma hiptese a outra por dvidas metdicas. Cada
dvida substitui a hiptese precedente, e a cada substituio apa-
rece a questo dos vestgios que o suposto referente do nome
teria deixado na situao precedente. Esses prprios vestgios de-
vem ser determinados de novo como vestgios, pois nenhum
prova "objetiva" de que o acontecimento teve lugar (que as ninfas
obsedaram empiricamente o lugar):
Meu seio, virgem de prova, atesta uma mordida.
Misteriosa, obra de algum dente augusto.*
o verso diz: h vestgios, mas como esses vestgios no cons-
tituem prova, devem ser determinados de novo. Se estivermos na
fidelidade, encontraremos conexes sensveis no nome do acon-
tecimento, mas nenhuma jamais ter validade de prova de que o
que ocorreu, ocorreu.
O que a dvida, incerta do nome, veicula de modo latente
que o que ter ocorrido , ao final do poema, a verdade do
desejo, tal como a Arte, o prprio poema, a capta e fixa. Entenda-
se que s alfineta, essa verdade, sob o efeito de denominao
de um acontecimento cujas hipteses sucessivas e as dvidas
que as afetam mostram que no passvel de determinao.
Ser tambm a verdade do "eu" inaugural, aquele que quer per-
petuar "essas ninfas": o sujeito do no passvel de determi-
nao como tal.
Mon sein, vierge ele preuve, atteste une morsure. I Mystrieuse, elue quelque
auguste elem.
166
I
I,
,
i
FILOSOFIA DO FAUNO
Da prosa interna ao poema
H no poema longos trechos em itlico e entre aspas, intro-
duzidos por palavras em letras maisculas, CONTEZ, SOUVENIRS [contai,
reminiscncias]. Tudo isso compe uma pontuao enftica, que
intriga. Aberto por imperativos em maisculas, encontra-se um
estilo narrativo bastante simples. Em que condies intervm essas
narrativas, sublinhadas com fora pelo itlico e pelas aspas? O poema
diz-nos com clareza: nenhuma dessas narrativas (h trs), que
evocam a presena carnal das ninfas, tem a menor chance de
salvar qualquer acontecimento. Um acontecimento nomeia-se, mas
no se pode recitar ou contar-se.
A partir de ento, as narrativas tm como nica funo propor-
se como materiais para a dvida. So fragmentos de memria a
serem dissolvidos. E talvez seja essa, com efeito, a funo de qual-
quer narrativa. Definamos a narrativa como aquilo a respeito do que
h dvida. A narrativa essencialmente duvidosa, no porque
no seja verdade, mas porque prope materiais para a dvida
(potica). Trata-se ento da prosa. Chamemos de "prosa" qual-
quer articulao da narrativa e da dvida. A arte da prosa no a
arte da narrativa nem a arte da dvida, a arte da proposta de
uma a outra. Embora seja possvel classificar as prosas, segundo
nelas predomine o deleite da narrativa ou sua austera apresenta-
o dvida. O primeiro tipo de prosa o mais afastado do poema,
o segundo a ele se expe um pouco mais, correndo o risco de nele
se desfazer.
Os trechos entre aspas e em itlico de A tarde de umfauno so
os momentos de prosa desse poema.
O problema saber se a poesia deve sempre expor prosaica-
mente a narrativa dvida do poema. O estilo pico de Victor
Hugo se encarrega de responder com majestade: "Sim!"A resposta
de Baudelaire mais matizada, mas observou-se muitas vezes que
em As flores do mal h um forte prosasmo local, uma funo
indubitvel da narrativa. A evoluo de Mallarm entre 1865 e sua
167
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
morte um afastamento contnuo de Victor Hugo, mas tambm
de Baudelaire. Pois trata-se de eliminar todos os momentos de
prosa. A partir de ento, o poema centralmente um enigma, o de
uma dvida que se deve resolver em afirmao, sem ter a narrati-
va como matria de seu exerccio. No h outra razo ao que se
chama, erroneamente, de hermetismo de Mallarm.
O Fauno ainda no "hermtico"; nele figura a prosa, embora
cercada, e quase zombada, pela sobrecarga de itlicos e aspas.
H dez momentos no poema, como se diz dez movimentos na
msica.
O movimento zero, o que se deixa aqum da conta, o primei-
ro fragmento do primeiro verso: "Essas ninfas, quero perpetu-
Ias." Dissemos que ele era o programa geral do poema: sustentar
um tema pela fidelidade ao nome de um acontecimento desapare-
cido e no passvel de deciso.
Examinemos os dez movimentos propriamente ditos.
1) Dissoluo do acontecimento em seu lugar suposto
To claro,
Seu leve encarnado, que pelos ares volteia
De sonos felpudos saciado.*
Transparncia do ar e latncia do sono. Como em Lance de
dados, a pena est sobre o abismo "sem cobri-I o nem fugir"; as
ninfas desaparecidas, reduzidas aparncia de uma cor, salpicam
(talvez) o lugar onde nem mesmo o prprio fauno sabe se desper-
ta ou adormece.
Si elair, / Leur incarnat lger, qu'il voltige dans l'air / Assoupi de sommeils
touffus.
168
I:
1
I
FILOSOFIA DO FAUNO
2) Colocao da dvida
Amei um sonho?
Minha dvida, humo de noite antiga, termina
Em galhos sutis, que, verdadeiros
Bosques, prova, misria! Que solitrio oferecia-me
Por triunfo a falha ideal de rosas -
Reflitamos...*
A dvida no absolutamente de tipo ctico. O imperativo :
"Reflitamos." Toda a operao do poema uma operao de pen-
samento, no de rememorao ou de anamnese, e a dvida uma
operao positiva do poema, o que autoriza a inspeo do lugar
sob a regra dos vestgios do acontecimento-ninfas. Embora a pri-
meira inferncia seja puramente negativa (eu estava s, "nada teve
lugar alm do lugar").
3) Do desejo msica
ou se as mulheres de que te gabas
Ostentam um voto de teus sentidos fabulosos!
Fauno, a iluso esvai dos olhos azuis
E frios, como uma fonte aos prantos, da mais casta:
Mas, a outra toda sussurros, dizes que ela contrasta
Como brisa do dia quente em teu velo?
Nada! pelo imvel e exausto esfalecimento
Sufocando de calores no frescor da manh quando luta,
No rumoreja nenhuma gua que minha flauta no despeja
No bosque regado de acordes; e somente o vento
Fora dos dois tubos disposto a exalar-se antes
Aimai-je un rve? / Mon doute, amas de nuit ancienne, s'acheve / En maint
rameau subtil, qui, demeur les vrais / Bois mmes, prauve, hlas! que bien seul
je m'offrais / Pour triomphe Ia faute idale de rases - / Rflchissons ...
169
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Que disperse o burburinho em chuva rida,
, no horizonte que nenhuma ruga remexeu,
O visvel e sereno sopro artificial
Da inpirao que volta ao cu.*
O que permite passar da hiptese de uma inveno do desejo
de uma suscitao pela arte a metamorfose "elementar" das
duas ninfas. Podem, com efeito, equivaler, na impossibilidade
de determinao de seu surgimento, fonte e brisa, gua e
ao ar. Ora, dessas equivalncias antigas, a arte desde sempre
capaz.
Esse movimento cruza duas coisas que no se separaro mais,
um procedimento situado do lado do desejo e do amor, e o
procedimento artstico, que ele prprio tem um estatuto duplo:
representado no poema pela arte musical do fauno, tambm o
devir do prprio poema. Existem, definitivamente, trs registros
enredados: o desejo, ligado ao suposto encontro da nudez das
ninfas; a arte do fauno (msico), criador de fices elementares;
a arte do poeta. A convocao ertica sustenta uma metfora
intrapotica do poema, sobrecarregada por metamorfoses e cor-
rentes de equivalncia ao suposto jogo do desejo: ninfas --7 olhos
azuis e frios --7 prantos --7 fonte --7 murmrio da flauta --7 capaci-
dade do poema.
ou si les femmes elont tu gloses / Figurent un souhait ele tes sens fabuleux! /
Faune, l'illusion s'chappe eles yeux bleus / Et froiels, comme une source en
pleurs, ele Ia plus chaste: / Mais, I'autre tout soupirs, elis-tu qu'elle contraste /
Comme brise elu jour chauele elans ta toison? / Que non! par l'immobile et lasse
pmoison / Suffoquant ele chaleurs le matin frais s'il lutte, / Ne murmure point
e1'eauque ne verse ma flute / Au bosquet arros el'accorels; et le seul vent / Hors
eles eleux tuyaux prompt s'exhaler avant / Qu'il elisperse Ie son elans une pIuie
ariele, / Cest, l'horizon pas remu el'une riele, / Le visibIe et serein souffle
artificiel / De l'inspiration, qui regagne le ciel.
170
I
FILOSOFIA DO FAUNO
4) Extorquir do lugar o nome do acontecimento
margens sicilianas de um plcido pntano
Que merc de sis minha vaidade saqueia,
Tcita sob as flores de fagulhas, CONTA!
"Que eu cortava aqui os ocos canios domados
Pelo talento; quando, no ouro verde-mar de distantes
Verduras dedicando sua vinha s/antes,
Ondula uma brancura animal em repouso:
E que ao lento preldio onde nascem osflautins
Esse vo de cisnes, no! de niades se salva
Ou mergulha ... "*
Aqui temos um exemplo, ainda bem simples, do que prova-
velmente o movimento mais geral dos poemas de Mallarm: a
apresentao do lugar, depois a tentao de nele discernir a prova
de algum acontecimento que se dissipou.
Esse trecho inclui uma primeira seqncia da narrativa entre
aspas e em itlico. Essa narrativa, atribuda ao prprio lugar, como
se ele fosse confessar o acontecimento que o obseda, um puro
tempo de prosa, o que por si s nos convence de que ele chegar
apenas dvida. Esse resultado est, quanto ao mais, inscrito na
palpitao interrogativa entre "cisnes" e "niades", que deixa aberta
a possibilidade de uma subverso da realidade (as aves do pnta-
no) pelo imaginrio (a nudez das mulheres). Finalmente, a narra-
tiva pode reconduzir totalmente solido do local, o que expe o
fauno primeira tentao.
borels siciliens el'un ealme marcage / Qu' l'envi ele soleils ma vanit saccage, /
Tacite sous les fleurs el'tincel1es, CONTEZ / "Que je coupais ici les creux roseaux
dompts / Par le talent; quand, sur for glauque de lointaines / Verdures ddiant
leur vigne desjontaines, / Ondoie une blancheur animale au repos:/ Et qu 'au
prlude lent ou naissent lespipeaux / Ce vol de cygnes, non! de nai'ades se sauve /
Ou plonge ..."
171
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
5) Primeira tentao: abolir-se extaticamente no lugar
Inerte, tudo arde na hora felina
Sem marcar por qual arte tudo largou
Hmem demais desejado de quem busca o l:
Ento despertar-me-ia no fervor primeiro,
Ereto e s, sob velha torrente de luz,
Lrio!e algum dentre vs para a ingenuidade.*
Como a narrativa do lugar no poderia convencer, pois s nos
prope uma memria intil, por que no desistir da busca de
vestgios? Por que no se consumir simplesmente na luz da paisa-
gem? a tentao da infidelidade, a de abdicar questo do acon-
tecimento e da fidelidade ao nome, s "ninfas". Como sempre se
induz uma verdade de algum acontecimento (seno, de onde viria
seu poder de novidade?), qualquer tentao contra a verdade apre-
senta-se como tentao de renunciar ao acontecimento e sua
denominao e contentar-se com o puro "h", com a fora definitiva
apenas do lugar. Consumido por meio-dia, o fauno libertar-se-ia
de seu problema, seria "um de todos ns", e no mais essa singu-
laridade subjetiva entregue ao no passvel de determinao. Todo
xtase do lugar o abandono de uma verdade cansativa. Mas isso
no passa de uma tentao. O desejo do fauno, sua msica e,
finalmente, o poema persistem na busca dos signos.
6) Signos do corpo e poder da arte
Outro que esse doce nada pelo lbio ruidoso
O beijo, que bem baixinho perfdias assegura,
Inel1e, tout brle elans l'heure fauve / Sans marqueI' par quel al1ensemble eltala/
Trop el'hymen souhait de qui eherehe ele Ia: / Alors m'veillerais-je Ia ferveur
premiere, / Droit et seul, sous un flot antique ele lumiere, / Lys! et ]'un ele vous
tous pour l'ingnuit.
172
I
FILOSOFIA DO FAUNO
Meu seio, virgem de prova, atesta uma mordida
Misteriosa, obra de algum dente augusto;
Mas, basta! arcano tal qual eleito confidente
O junco vasto e gmeo que sob o anil ressoa:
Que, desviando para si a turvao da face,
Sonha, em longo solo, que nos divertssemos
A beleza circundante por confuses
Falsas entre ela mesma e nosso canto crdulo;
E fazer com que to alto quanto se modula o amor
Esvaecer do sonho ordinrio pelo dorso
Ou por flancos puros seguidos de meus olhares castos,
Uma linha sonora, v e montona.*
Nos dois primeiros versos desse movimento, o fauno enuncia
que h um outro vestgio alm do beijo, ou da lembrana de um
beijo. O beijo "em si" pura anulao, um "doce nada". Mas h
o vestgio, uma mordida misteriosa. Nota-se evidentemente a con-
tradio aparente entre "virgem de prova" e "atesta uma mordida",
no mesmo verso. Essa contradio uma tese: nenhum vestgio
atestado de um acontecimento vale como prova de seu ter-acon-
tecido. O acontecimento subtrado prova, pois seno perderia
sua dimenso de dissipao impossvel de determinar. Mas no se
exclui que haja um vestgio, um sinal, a no ser pelo fato de que,
no sendo tal sinal uma prova, no obriga a sua interpretao. Um
acontecimento pode deixar vestgios, mas esses vestgios jamais
tm por si ss valor unvoco. Na realidade, impossvel interrogar
os vestgios de um acontecimento de outra forma que no sob a
Autre que ee doux rien par leur levre bruit / Le baiser, qui tout bas eles perfieles
assure, / Mon sein, vierge ele preuve, atteste une morsure / Mystrieuse, elue
quelque auguste dent; / Mais, bast! areane tel lut pour eonfielent / Le jone vaste
et jumeau dont sous l'azur on joue: / Qui, eltournant soi le trouble de Ia joue, /
Rve, dans un solo long, que nous amusions / La beaut el'alentour par eles
eonfusions / Fausses entre elle-mme et notre ehant erelule; / Et ele faire aussi
haut que l'amour se moelule / vanouir du songe orelinaire ele elos / Ou ele flane
pur suivis avee mes regarels elos, / Une sonore, vaine et monotone ligne.
173
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
hiptese de uma denominao. Eles no significam o aconteci-
mento, a no ser que este tenha sido determinado. Sob o nome
fixo "ninfas", determinado desde sempre, podemos, sem ter de
comprov-Io, atestar uma mordida "misteriosa".
Essa a prpria essncia da noo mallarmeana de mistrio:
um vestgio no comprovado, um signo cujo referente no obri-
gatrio. Existe mistrio todas as vezes que algo se assinala sem
que se seja obrigado a uma interpretao. Pois o sinal sinal do
prprio impossvel de determinar sob a fixidez do nome.
A partir do "mas" no verso "Mas, basta! ...", Mallarm desenvol-
ve a hiptese de que esse vestgio misterioso ele mesmo, na
realidade, uma produo da arte. Se o compararmos primeira
verso, teremos uma disposio bem diferente. Na primeira ver-
so, a mordida misteriosa era dita "feminina", de modo que a
interpretao estava estabelecida. Nenhum mistrio nas letras. Entre
1865 e 1876, Mallarm passa da idia de uma prova unvoca de
um vestgio misterioso, cuja interpretao aberta. Isso porque a
primeira verso faz parte do registro do saber. A questo que
anima o poema, at em seu destino teatral, : o que sabemos do
que aconteceu? Prova (a mordida feminina) e saber esto ligados.
Na ltima verso, o testemunho torna-se um signo cujo referente
suspenso. A questo no mais saber o que aconteceu; tornar
verdade um acontecimento impossvel de ser decidido. A v,elha
questo romntica do sonho e da realidade substituda por
Mallarm pela da origem referente ao acontecimento do verdadei-
ro e de sua relao com a doao de um lugar. So esses os
componentes do mistrio.
O poema diz: minha flauta de artista escolheu como confiden-
te prpria, como aquilo em que ela confia, tal mistrio. "Mistrio"
funciona a partir de ento como o argumentante do "eu" musicista
da flauta e abre para uma renovao da hiptese, segundo a qual
o referente do mistrio mais artstico do que enamorado.
Muito intrincados, os versos a partir de "Que, desviando para si
a turvao da face" enunciam que a flauta, reconduzindo para si o
174
FILOSOFIA DO FAUNO
que poderia atestar o desejo ou a perturbao, estabelece apenas
por conta da arte um sonho musical. O artista e sua arte animavam
o cenrio estabelecendo equvocos entre a beleza do lugar e seu
canto crdulo. A flauta que o artista toca sob o cu conseguiu
como confidente tal mistrio, reconduzindo a si todas as
virtualidades do desejo. Distrai toda a beleza do lugar estabele-
cendo um equvoco constante com seu canto. Sonha fazer desva-
necer, dissipar-se, com a mesma intensidade de que o amor
capaz, a quimera fantasiosa que se pode ter desse ou daquele
corpo. Tem o poder de tirar desse material da quimera "uma linha
sonora, v e montona".
A afetao evidente desse trecho, sua preciosidade compla-
cente sublinham que o mistrio da quimera desvanecida de cor-
pos desejados pode simplesmente ser um efeito da arte e no
obriga a uma suposio de acontecimento. Se captado pela arte,
um desejo sem encontro, sem objeto real (capaz de estabelecer
"confuses"), pode suscitar na situao um vestgio misterioso.
O vestgio artstico misterioso, pois vestgio apenas de si
mesmo.
A idia de Mallarm que a arte capaz de produzir no mundo
um vestgio que, relacionando-se apenas com seu prprio traado,
permanece fechado sobre seu enigma. A arte pode criar o vestgio
de um desejo sem objeto encontrado (no sentido do real). A resi-
de seu mistrio. Mistrio de sua equivalncia com o desejo, eco-
nomia feita de qualquer objeto, o que expe segunda tentao.
7) Segunda tentao: contentar-se com o simulacro
artstico
Faa com que, instrumento de fugas, maldosa
Siringe, torne a florescer os lagos onde me aguardas!
Remador brioso, falarei longamente
das deusas; e por pinturas idlatras
175
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
sua sombra ainda cingirei cinturas:
Assim, quando das uvas sorvi a claridade
De modo a banir um remorso por finta minha afastado,
Risonho, elevo ao cu o cacho vazio
E, soprando em suas peles luminosas, vido
De embriaguez, perscruto-as fundo at o entardecer. *
A transio dirige-se sua flauta, pois a hiptese precedente
que tudo procede da arte. a poema diz: tu, instrumento da arte,
recomece tua tarefa. Eu gostaria de tornar ao meu desejo ao qual
pretendes equivaler.
a fauno desejante distingue-se aqui do fauno artista. Mas, ao
mesmo tempo, a cena ertica apresentada como puro devaneio
e, conseqentemente, o acontecimento (a vinda real das ninfas)
anulado. Estamos aqui na segunda tentao, que de contentar-
se, subjetivamente, com o simulacro, com o desejo sem objeto.
o que se poderia chamar de uma interpretao perversa da hip-
tese anterior. Consiste em dizer: talvez tenha sido minha arte quem
criou esse mistrio, mas eu vou preench-Io de um simulacro
desejante. Meu deleite ser este. ento essencial que o simula-
cro assim concebido seja uma embriaguez, embriaguez que des-
via de qualquer verdade. Se o simulacro possvel, ento no
preciso mais da fidelidade, pois o que se ausentou, posso imitar,
artificializar enquanto um vazio, que tambm um vazio sensvel.
(as uvas infladas de ar). Um simulacro sempre a substituio de
uma fidelidade ao acontecimento pela encenao de um vazio.
Na questo do acontecimento, a funo do vazio central,
pois o acontecimento convoca, faz advir o vazio da situao.
Tehe elone, instrument eles fuites, maligne / Syrinx, ele refleurir aux laes ou tu
m'attenels! / Moi, ele ma rumeur fier, je vais parler longtemps / Des elesses; et
par el'ieloltres peintures, / A leur ombre enlever eneore eles eeintures: / Ainsi,
quanel eles raisins j'ai sue Ia clart, / Pour bannir un regret par ma feinte eart, /
Rieur, j'leve au elel el't Ia grappe viele, / Et, soufflant elans ses peaux lumineu-
ses, aviele / D'ivresse, jusqu'au soir je regarele au travers.
176
~
I
f
~,
FILOSOFIA DO FAUNO
Fazendo o real oscilar para o lado daquilo "que no est ali", o
acontecimento atesta que o ser do "h" o vazio. Desfaz a aparn-
cia do pleno. Um acontecimento pr em xeque uma plenitude.
Como o acontecimento se dissipa e dele s subsiste o nome, a
nica maneira verdica de tratar esse vazio na situao reconstituda
ser fiel a esse nome a mais (ser fiel s ninfas). Permanece, no
entanto, uma nostalgia do prprio vazio, tal como foi convocado
no claro do acontecimento. a nostalgia tentadora de um vazio
que seria pleno, de um vazio habitvel, de um xtase perptuo.
Faz-se necessria agora a cegueira da embriaguez.
ao que o fauno se abandona, e contra o que seu nico recur-
so a retomada brutal da memria narrativa.
8) A cena do crime
ninfas, tornemos a inchar REMINISCNCIAS diversas.
"Meu olho, perfurando os juncos, dardejava cada colo
Imortal, que em ondas afoga sua chama
Com um grito de raiva ao cu da floresta;
E desaparece o esplndido banho de cabelos
Em claridades e calafrios, pedreiras!
Acorro; quando, a meus ps, se entrelaam (mort{ficadas
Da languidez acalentada desse mal de ser dois)
Adormecidas apenas em seus braos audazes;
Rapto-as, sem desenla-Ias, e vo
Rumo a essa montanha, odiado pela sombra frvola,
Das rosas exaurindo todo operfume ao sol,
Onde nossofolguedo ao dia consumido seja igual. "
Eu te adoro, furor virginal, delcia
Feroz do sagrado fardo nu que desliza
Para fugir de meu lbio sorvendo fogo como um raio
Estremea! o pnico segredo da carne:
Dos ps da desumana ao corao da tmida
177
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Que abandona de vez uma inocncia, mida
De lgrimas desvairadas ou de vapores menos tristes.
"Meu crime, alegrepor vencer esses temores
Traioeiros, ter repartido o tufo descabelado
De beijos que os deuses guardavam to bem entrelaados:
Pois, apenas eu ia esconder um riso ardente
Sob as dobras felizes de uma s (guardando
Por um dedo simples, afim de que sua candura de pluma
Se tingisse do desassossegoda irm em brasa,
A pequena, ingnua e que no enrubescia.)
Que de meus braos, desfeitospor vagas mortes,
Essapresa, para sempre ingrata, se liberta
Impiedosa da lgrima da qual eu ainda estava brio."*
Essa longa seqncia sustenta-se vigorosamente na prosa inte-
rior, nos itlicos da narrativa, na intil pretenso da lembrana.
Sem desvios, ela conta, em primeiro lugar, como o fauno arrebatou
o casal das ninfas, depois como o perdeu, as duas belezas desvane-
cendo entre seus braos. O erotismo apia-se nela, quase vulgar
("mida L..J de vapores menos tristes", "da irm em brasa", etc.).
o nymphes, regonflons des SOUVENIRSdiverso ! "Mon 02il, trouant les joncs,
dardait chaque encolure /Immortelle, qui noie en l'onde sa brlure / Avec un cri
de rage au ciel de Iafort; / Et le splendide bain de cheveux disparaft / Dans les
clarts et lesfrisson;~ pierreries! / j'accours; quand, mes pieds, s'entrejoignei1t
(meurtries/ De Ia langueur gote ce mal d'tre deux)/ Des dormeusesparmi
leurs seuls bras hasardeux; / je les ravis, sans les dsenlacer, et vole / ce massij,
hai' par I'ombrage /rivole, / De roses tarissant tout paifum au soleil, / Ou notre
bat au jour consum soit pareil. "! ]e t'adore, eourroux des vierges, dliee !
Farouehe du saer fardeau nu qui se glisse ! Pour fuir ma levre en feu buvant,
eomme un clair ! Tressaille! Ia frayeur seerete de Ia ehair: ! Des pieds de
j'inhumaine au eceur de Ia timide ! Que dlaisse Ia fois une innoeenee, humide !
De larmes folles ou ele moins tristes vapeurs.! ''Mon crime, c'est d'avoir, gai de
vaincre cespeurs / Traftresse:,~divis Ia toujJe cheuele / De baisers que les dieux
gardaient si bien mle : / Car, peine j'allais cacher un rire ardent / Sous les
replis heureux d'une seule (gardant / Par un doigt simple, afin que sa candeur de
plume / Se teignft I'moi de sa S02urqui s'allume, / Ia petite, nai've et ne rougissant
pas:) / Que de mes bras, dfaits par de vagues trpas, / Cetteproie, jamais ingrate
se dlivre / Sans piti du sanglot dont j'tais encore ivre. "
178
I
I
I
FILOSOFIA DO FAUNO
No a "literatura vaga" de Verlaine (alis, poeta obsceno, como
se sabe), nem as palavras "alusivas, jamais diretas" do prprio
Mallarm (alis, poeta igualmente obsceno - leia "Uma negra
que algum demnio desperta").
A primeira narrativa, no movimento 4, funcionava sob o regime da
convocao do lugar. As "margens sicilianas de um plcido pnta-
no" deviam confessar o acontecimento-ninfas que os afetara. As
duas narrativas deste movimento 8 so confiadas diretamente me-
mria ("Ninfas, tornemos a inchar REMINISCNCIAS diversas"). H coin-
cidncia narrativa? No por completo. A primeira ocorrncia prosaica
conta apenas o desaparecimento das ninfas. Est centrada na dimen-
so desvanecente do acontecimento. Dessa vez, temos uma descrio
positiva, uma cena ertica na devida forma, que identifica o nome
("essas ninfas") e ratifica seu plural (as duas mulheres so claramente
distintas, ao mesmo tempo em que se afirma sua indistino relativa,
pois os deuses as conservavam "entrelaadas").
No entanto, qual o valor para o tornar-se-verdadeiro do poema,
da preciso ertica das lembranas?
A memria tem esse equvoco essencial de estar sob o signo do
nome. O lugar pode muito bem ser inocente do acontecimento, a
memria nunca o , por ser pr-estruturada pela denominao. Pre-
tende entregar-nos o acontecimento como tal, mas trata-se de uma
impostura, pois toda a sua narrativa comandada pelo imperativo
do nome, e pode ser que seja apenas um exerccio, lgico e retroa-
tivo, induzido pela inextirpvel assero "essas ninfas".
Jamais h memria do acontecimento puro. Sua face de su-
presso no memorial. A inocncia do lugar, o equvoco dos
vestgios dominam esse ponto. S existe memria daquilo que a
fixidez do nome pode suscitar. Por isso, por mais precisa que seja,
a seqncia prope apenas novos insumos para a dvida.
A primeira das duas narrativas da seqncia evoca o enlaa-
mento adormecido das duas ninfas, e seu arrebatamento pelo de-
sejo do fauno. A segunda, o desaparecer, por diviso obrigatria,
desse nu bicfalo.
179
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
oncleo fantasioso lsbico patente. Inaugurado poeticamente
por Baudelaire, percorre o sculo inteiro, inclusive a pintura
(lembremo-nos das adormecidas de Courbet). Desse motivo con-
vencional, pode-se esperar decerto alguma meditao subjacente
sobre o Um e o Dois (o "mal de ser dois"). Pois tudo ocorre na
manuteno do entrelaamento do mesmo com o mesmo.
H dois tempos essenciais, o verso 71 ("Rapto-as, sem desenla-
Ias") e os versos 82 e 83 ("Meu crime, alegre por vencer esses
temores / Traioeiros, ter repartido o tufo descabelado"). Enla-
amento e desenlaamento. Um do Dois, e o Dois fatal do Um.
As duas mulheres enlaadas constituem uma totalidade auto-
suficiente, a fantasia de um desejo fechado sobre si, destinado ao
mesmo, um desejo sem outro, seria preciso dizer encastrado? Em
todo caso, o Dois como Um. esse desejo em caracol que suscita
o desejo exterior do fauno, e tambm o que acarretar a sua
perda. Pois o que o fauno no compreende que o encontro das
ninfas no um encontro para o seu desejo, mas encontro do
desejo. O fauno trata como objeto (e portanto tenta dividir, tratar
"parcialmente") o que, justamente, s era uma totalidade por abs-
ter-se de qualquer objeto, por representar o desejo puro.
A lio dolorosa que recebe o fauno a seguinte: em um acon-
tecimento verdadeiro, no se trata jamais de um objeto do desejo,
mas do desejo como tal, do desejo puro. A alegoria lsbica uma
apresentao fechada dessa pureza.
O trecho (versos 75 a 81, interrupo dos itlicos) que separa as
duas narrativas dessa parte ter um destino particular. Afinal se trata
do nico momento propriamente subjetivado ("Eu te adoro, furor
virginal, delcia"), do momento em que o desejo declarado.
importante distinguir a declarao da denominao. Vamos cha-
mar de "declarao" - a denominao ("essas ninfas") tendo ocor-
rido - o fato de enunciar sua prpria relao com a denominao.
o tempo crucial de induo do sujeito sob o nome do acontecimen-
to. Todo sujeito declara-se ("eu te adoro") como relao com a deno-
minao e, portanto, como fidelidade desejante ao acontecimento.
180
I
11
i
:11
FILOSOFIA DO FAUNO
A declarao do fauno intercala-se entre dois tempos da narra-
tiva, o primeiro sob o signo do Um, o outro sob o signo da divi-
so. Ele faz essa declarao no momento de confessar que no
soube ser fiel ao Um do desejo puro.
Isso porque h infidelidade toda vez que a declarao se reve-
la heterognea denominao ou inscreve-se em uma outra srie
subjetiva que no a que a denominao impe. esse, de fato, o
"crime" do fauno.
ter tentado, sob o signo de uma declarao desejante heterog-
nea (querer unir-se eroticamente s duas ninfas separadamente), a
disjuno do fato de o Um, como desejo puro absorvendo o Dois, ser
guardado pelos deuses, como poder indivisvel do surgimento do
acontecimento. O crime tornar objeto o que surge de forma inteira-
mente diferente de um objeto. A fora subjetivante de um aconteci-
mento no o desejo de um objeto, mas o desejo de um desejo.
Mallarm diz-nos: qualquer um que restaure a categoria do ob-
jeto, que o acontecimento sempre destitui, remetido supresso
pura e simples. As ninfas dissolvem-se nos braos de quem preten-
dia torn-Ias objeto de seu desejo, em vez de ser conseqente com
o encontro de um desejo novo. Para ele, o nico vestgio do acon-
tecimento ser o sentimento de perda.
Quando h acontecimento, a objetivao ("o crime") convoca
a perda. o grande problema da fidelidade a um acontecimento,
da tica da fidelidade: como no restituir o objeto e a objetividade?
A objetivao a anlise e tambm o vcio narrativo da mem-
ria. O fauno analisa uma lembrana e perde-se na objetividade.
O fauno, ou pelo menos o fauno da memria, o fauno prosaico, no
soube ser o que o acontecimento exige de ns: um sujeito sem objeto.
9) Terceira tentao: o nome nico e sagrado
Tanto pior! ao xtase me levaro outras
Pela trana amarrada aos chifres de minha testa:
181
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
Sabes, minha paixo, que, purprea e j madura,
Cada granada explode e de abelhas murmura;
E nosso sangue, ardente por quem vai tom-Ia,
Escorre por todo o enxame eterno do desejo.
Na hora em que se tinge esse bosque de ouro e cinzas
Uma festa exalta-se na folhagem extinta:
Etna! em ti de Vnus visitada
Sobre tua lava posando seus calcanhares ingnuos,
Quando ressoa um sono triste no qual se extinge a chama.
Rainha em xeque!
castigo certeiro ...
No,'
Sempre infiel, o fauno adota a princpio a posio clssica de
quem renuncia a ser sujeito de um acontecimento; no aconteceu
nada de nico, etc. Dissoluo da singularidade na repetio. Isso
equivale, claro, a subtrair-se denominao, como indica o que
"outras" possam vir no lugar de "essas ninfas". Essa alteridade repetitiva,
em que s se sustm a monotonia do desejo abstrato, o vu tradi-
cional do abandono de qualquer verdade. Enquanto isso, uma verdade
no poderia ser indicada sob o "tanto pior" do esprito forte, nem
tampouco, alis, sob o "tanto melhor" do esprito inquieto.
Sob essa decepo camuflada, comandada pelo sentimento da
perda, amadurece, porm, outra postura, outra postura proftica:
o anncio do retorno do que foi perdido. uma figura mais inte-
ressante. Com respeito a um acontecimento no mais subjetivado
do que o desaparecimento, pode-se profetizar o retorno e mesmo
o Retorno (eterno), pois a fora do desejo, indexada perda,
Tant pis! vers le bonheur d'autres m'entraineront / Par leur tresse noue aux
comes de mon front: / Tu sais, ma passion, que, pourpre et dj mure, / Chaque
grenade clate et d'abeilles murmure: / Et notre sang, pris de qui le va saisir, /
Caule pour tout l'essaim ternel du dsir. / A l'heure ou ce bois d'or et de
cendres se teinte / Une fte s'exalte en Ia feuile etinte: / Etna! c'est parmi toi
visit ele Vnus / Sur ta lave posant ses talons ingnus, / Quand tonne un somme
triste ou s'puise Ia flamme. / ]e tiens Ia reine! / SUl' chtiment... / Non,
182
I
I
FILOSOFIA DO FAUNO
continua ali. A disponibilidade do desejo sem nome, do desejo
annimo, alimenta o anncio do retorno. Pois por causa de
"todo o enxame eterno do desejo" que no ocorreu o encontro
singular e que pode, portanto, retomar o seu princpio.
A dificuldade, que perpetua o crime, que esse retorno for-
osamente o do objeto. E at mesmo, como se ver, a hipstase
do objeto em Objeto: a Coisa, ou o Deus.
Esse movimento confirma a pouca f que se deve outorgar
memria, pelo fato de que s faz o crime se expor at suas con-
seqncias transcendentes. Sob o signo falsamente alegre do "tan-
to pior", a disposio analtica e objetiva subsiste. De repente, o
que vai retomar a perda, que em sua essncia a perda de
"essas ninfas".
A contrario, aquilo a que se pode ser fiel tem como carac-
terstica no se repetir. Uma verdade est no elemento do que no
pode se repetir. A repetio do objeto ou da perda ( a mesma
coisa) no passa da infidelidade decepcionante singularidade
que no se pode repetir do verdadeiro.
O fauno vai tentar superar por antecipao essa decepo, evo-
cando um objeto absoluto. No mais as mulheres, mas a Mulher,
no mais os amores, mas a deusa do amor, no mais sditas, mas
a rainha. Tramada na imagem do enxame, que se articula com o
desejo abstrato, Vnus desce ao lugar com a rainha inexistente
das abelhas do real.
Temos portanto a entrada em cena da terceira tentao, a da
denominao por um nome nico e sagrado, pelo que se abandona
a idia da singularidade do encontro em proveito de um nome
definitivo e imemorial.
Essa chegada do nome sagrado encenada cuidadosa e tea-
tralmente. Assiste-se a uma mudana da iluminao e do cenrio.
Entra-se no crepsculo do poema. O pntano solar substitudo
pelo motivo do vulco e da lava ("se tinge esse bosque de ouro e
cinzas"). A lgica do "tanto pior" prepara para a atmosfera pr-
noturna da decepo ("ressoa um sono triste no qual se extinge
183
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
a chama"). Boa imagem das condies de surgimento de uma
transcendncia fictcia: faz parte da essncia do deus chegar sem-
pre tarde demais. O deus nada mais que a ltima tentao.
O brusco "castigo certo" indica, imotivado, um sobressalto l-
cido do fauno (e do poeta): a tentao do sagrado, do nome nico
ao qual sacrificar a denominao do acontecimento, da Vnus que
vem no lugar de qualquer ninfa singular, do Objeto que anula
qualquer real, acarretaria conseqncias muito graves (de fato, a
oscilao do poema para no se sabe que profetismo romntico).
A tentao revogada.
10) Significao conclusiva do sono e da sombra
mas a alma
De palavras vaga e esse corpo lerdo
Tarde sucumbem ao altivo silncio do meio-dia:
Sem delongas preciso dormir no olvido do blasfemo
Jazo sobre a areia alterada e como deleita-me
Receber em minha boca o astro eficaz dos vinhos!
Casal, adeus; irei ver a sombra em que te transformastes.*
Revogando em dvida a figura crepuscular e cendrada da deusa,
o fauno restitudo ao meio-dia de sua verdade. a ela, a essa
verdade suspensa, que vai-se juntar no sono.
importante ligar esse sono, essa segunda embriaguez, muito
afastada da que acompanhava o simulacro musicista, ao motivo
terminal da sombra, e da inspeo do que ela ter-se transformado.
A sombra do par o que o nome "essas ninfas" ter induzido para
mais ]'me / De paroles vacante et ce corps alourdi / Tard succombent au fier
silence de midi: / Sans plus il faut dormir en l'oubli du blaspheme / Sur le sable
altr gisant et comme j'aime / Ouvrir ma bouche ]'astre efficace des vins! /
Couple, adieu, je vais voir ]'ombre que tu devins.
184
FILOSOFIA DO FAUNO
sempre no poema. O fauno diz-nos: irei ver, sob a proteo do
nome, o que "essas ninfas", o nome invarivel, ter sido. A sombra
a Idia, no futuro do presente composto de sua procisso potica.
A sombra a verdade do encontro das ninfas tal como o fauno
se destina a perpetu-Ia. A dvida aquilo por meio do qual o
fauno soube resistir s tentaes sucessivas. O sono essa imobi-
lidade tenaz em que o fauno pode permanecer, tendo passado do
nome verdade do nome, que o poema por inteiro, e do "fauno"
ao "eu" annimo, cujo ser completo ter perpetuado as ninfas.
O sono fidelidade compacta, tenacidade, continuidade. Essa
fidelidade derradeira o prprio ato do sujeito que se tornou,
"de palavras vaga", pois no tem mais necessidade de experimen-
tar hipteses. E "corpo lerdo", porque no tem mais necessidade
da agitao do desejo.
Diferentemente do sujeito de Lacan, que desejo maquinado
pelas palavras, o sujeito mallarmeano da verdade potica no
nem alma, nem corpo, nem linguagem, nem desejo. ato e lugar,
obstinao annima que encontra sua metfora no sono.
"[Eu] irei ver", simplesmente, o lugar de onde o poema por
inteiro foi possvel. "Eu" vou escrever esse poema. Esse ver do
sono vai comear por: "Essas ninfas, quero perpetu-Ias".
Entre "essas ninfas" e o "eu" de sua perpetuao, entre o desa-
parecimento do acontecimento das belezas nuas e o anonimato
do fauno entregue ao sono, ter havido a fidelidade do poema.
Somente ela subsiste para sempre.
Recapitulao
1) o acontecimento
O poema lembra o fato de no ser possvel determin-Io. um
dos principais temas de Mallarm. Nada dentro de uma situao, sa-
lo, tmulo, pntano ou superfcie do mar capaz de forar o reco-
nhecer do acontecimento como acontecimento. A questo do acaso
185
PEQUENO MANUAL DE INESTTICA
do acontecimento, de no ser possvel determinar seu pertencer tal
que, por, mais numerosos que sejam seus vestgios, o aconteci-
mento permanece incerto em sua declarao.
O acontecimento tem duas faces. Pensado em seu ser, suple-
mento annimo, incerteza, flutuao do desejo. No podemos real-
mente descrever a chegada das ninfas. Pensado de acordo com
seu nome, o acontecimento um imperativo de fidelidade. Essas
ninfas tero existido, mas s tramar a obedincia do poema a essa
injuno que torna verdade esse ter-acontecido.
2) o nome
fixo. "Essas ninfas" no mudar, apesar da dvida e das ten-
taes. Essa invariabilidade pertence nova situao, a do fauno
que desperta. O nome o presente, o nico presente, do aconte-
cimento. A questo da verdade pode ser a seguinte: o que fazer
com um presente nominal? O poema esgota as opes e conclui
que, em torno do nome, cria-se uma verdade que ter sido a
travessia dessas opes, inclusive as piores, as tentaes de nada
fazer com o dom do presente.
3) Afidelidade
a) Negativamente, o poema esboa uma teoria completa da
infidelidade. Sua forma mais imediata a memria, a infidelidade
narrativa ou histrica. Ser fiel a um acontecimento jamais quer
dizer lembrar-se dele e sempre significa, em compensao, os usos
que se faz de seu nome. Contudo, alm do perigo da memria, o
poema expe trs figuras tentadoras, trs maneiras de abdicar:
A identificao ao lugar, ou figura do xtase. Abandonando
o nome supranumerrio, essa figura suprime o sujeito na perma-
nncia do lugar.
A escolha do simulacro. Aceitando que o nome seja fictcio,
essa figura preenche seu vazio com uma plenitude desejante. Apartir
de ento, o sujeito no passa da onipotncia embriagada, em que o
pleno e o vazio se confundem.
186
FILOSOFIA DO FAUNO
A escolha de um nome imemorial e nico, que desapruma e
esmaga a singularidade do acontecimento.
Digamos que o xtase, a plenitude e o sagrado so as trs
tentaes que, de dentro de um surgimento de acontecimento,
organizam sua corrupo e negao.
b) Positivamente, o poema estabelece a existncia de um ope-
rador de fidelidade, que aqui o par das hipteses e da dvida
que as atinge. A partir da se compe um trajeto aleatrio, que
explora sob o nome fixo toda a situao, experimenta, supera as
tentaes e conclui no futuro do presente composto do sujeito
que esse trajeto se tornou. Os tipos de trajeto levados em conta
aqui procedem, quanto determinao do "eu", presa do nome
"essas ninfas", do desejo amoroso e da produo potica.
Do desejo que se liga ao nome do que desapareceu depende
que, revogado esse desejo, seja tecido dessa verdade singular um
sujeito que ele fez existir sua revelia.
187
ANEXO
Textos publicados utilizados como material na composio
deste livra:
"Art et philosophie". ln: DESCAMPS, Christian COrg.). Artistes et
Philosophes: ducateurs? Paris: Centre Georges-Pompidou, 1994.
"Philosophie et posie au point de l'innommable". ln: Po&sie, n 64.
Paris: 1993.
"Ladanse comme mtaphore de Ia pense". ln: BRUNO, Cira COrg.).
Danse et pense. Paris: GERMS, 1993.
"Dix theses sur le thtre". ln: Les Cahiers de Ia Comdie Franaise.
Paris: 1995.
"Le cinma comme faux mouvement". ln: L'Art du cinma, n 4.
Paris: 1994.
"Peut-on parler d'un film?". ln: L'Artdu cinma, n 6. Paris: 1994.
189
Você também pode gostar
- Riqueza Ilimitada Livro DigitalDocumento106 páginasRiqueza Ilimitada Livro DigitalCarla Eustáquio100% (2)
- A arte e as artes: E primeira introdução à teoria estéticaNo EverandA arte e as artes: E primeira introdução à teoria estéticaAinda não há avaliações
- O belo autônomo: Textos clássicos de estéticaNo EverandO belo autônomo: Textos clássicos de estéticaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (2)
- Dar corpo ao impossível: O sentido da dialética a partir de Theodor AdornoNo EverandDar corpo ao impossível: O sentido da dialética a partir de Theodor AdornoAinda não há avaliações
- Gilles Deleuze - O Ato de CriaçãoDocumento15 páginasGilles Deleuze - O Ato de Criaçãomostratudo100% (2)
- Esperando não se sabe o quê: Sobre o ofício de professorNo EverandEsperando não se sabe o quê: Sobre o ofício de professorNota: 5 de 5 estrelas5/5 (3)
- Marcio Valadão - Profetizando Vida-Nº76Documento40 páginasMarcio Valadão - Profetizando Vida-Nº76Co-criaçãoAinda não há avaliações
- O Que É A Realidade - Matrix - FilosofiaDocumento4 páginasO Que É A Realidade - Matrix - FilosofiaAnastasyia LevinaAinda não há avaliações
- Um Corpo A EscreverDocumento39 páginasUm Corpo A EscreverAnonymous 7vMfcO100% (1)
- BACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioDocumento209 páginasBACHELARD, Gaston. A Poética Do DevaneioCarlos Regis100% (11)
- DELEUZE, G GUATARRI, F. Capitalismo e Esquizofrenia, VOL 04, Mil Platôs PDFDocumento151 páginasDELEUZE, G GUATARRI, F. Capitalismo e Esquizofrenia, VOL 04, Mil Platôs PDFGabrielle Taver de Jesus100% (4)
- Gilles Deleuze & Félix Guattari - Mil Platôs Vol. 3Documento110 páginasGilles Deleuze & Félix Guattari - Mil Platôs Vol. 3Aline Andr100% (2)
- Modelo de Plano de Ensino SemestralDocumento9 páginasModelo de Plano de Ensino SemestralAnivaldo Vasco100% (1)
- Roland Barthes - O Império Dos SignosDocumento170 páginasRoland Barthes - O Império Dos SignosDarcio Rundvalt100% (10)
- Desconstruir Duchamp: Arte na hora da revisãoNo EverandDesconstruir Duchamp: Arte na hora da revisãoAinda não há avaliações
- Linguagem, tradução, literatura: Filosofia, teoria e críticaNo EverandLinguagem, tradução, literatura: Filosofia, teoria e críticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- A unidade do corpo e da mente: Afetos, ações e paixões em EspinosaNo EverandA unidade do corpo e da mente: Afetos, ações e paixões em EspinosaAinda não há avaliações
- JASPERS, Karl. Introdução Ao Pensamento Filosófico PDFDocumento107 páginasJASPERS, Karl. Introdução Ao Pensamento Filosófico PDFArthur GrupilloAinda não há avaliações
- ARTAUD - Textos Curtos PDFDocumento66 páginasARTAUD - Textos Curtos PDFMarina Di Pietrantonio100% (2)
- BADIOU, Alain. em Busca Do Real Perdido. Belo Horizonte - Autêntica, 2017Documento34 páginasBADIOU, Alain. em Busca Do Real Perdido. Belo Horizonte - Autêntica, 2017Alberto PucheuAinda não há avaliações
- Gênese e Estrutura Da Fenomenologia Do EspíritoDocumento146 páginasGênese e Estrutura Da Fenomenologia Do Espíritojoaomseckler100% (2)
- A dobra e o vazio: Questões sobre o barroco e a arte contemporâneaNo EverandA dobra e o vazio: Questões sobre o barroco e a arte contemporâneaAinda não há avaliações
- Obra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneasNo EverandObra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Por uma insubordinação poéticaNo EverandPor uma insubordinação poéticaGuy GirardAinda não há avaliações
- James, W. (2005) - PragmatismoDocumento148 páginasJames, W. (2005) - PragmatismoLeandro CostaAinda não há avaliações
- Paisagem, entre literatura e filosofiaNo EverandPaisagem, entre literatura e filosofiaAinda não há avaliações
- E-Book - Desdobramento Astral e As Dimensões Da NaturezaDocumento17 páginasE-Book - Desdobramento Astral e As Dimensões Da NaturezaFabiola BosioAinda não há avaliações
- Imagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogasNo EverandImagens de pensamento: Sobre o haxixe e outras drogasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (4)
- A Filosofia de DeleuzeDocumento77 páginasA Filosofia de Deleuzeecosdopensamento100% (2)
- HARDT, Michael. Gilles Deleuze Um Aprendizado em FilosofiaDocumento95 páginasHARDT, Michael. Gilles Deleuze Um Aprendizado em FilosofiaPriscila Lira de Oliveira100% (7)
- Agamben Ideia ProsaDocumento17 páginasAgamben Ideia ProsaGiselle Vitor da Rocha100% (1)
- Nancy A EscutaDocumento16 páginasNancy A Escutatribeironunes100% (3)
- BADIOU, A Aventura Da Filosofia Francesa + Derrida (1930-2004)Documento16 páginasBADIOU, A Aventura Da Filosofia Francesa + Derrida (1930-2004)RafaelSilva33% (3)
- KUSHI, Michio - O Livro Do DO-IN PDFDocumento117 páginasKUSHI, Michio - O Livro Do DO-IN PDFLucas100% (3)
- Dufrenne Estetica e FilosofiaDocumento30 páginasDufrenne Estetica e FilosofiaPaulaBraga6886% (7)
- Caosmose Um Novo Paradigma Estetico Felix GuattariDocumento107 páginasCaosmose Um Novo Paradigma Estetico Felix Guattarijuligontijo100% (4)
- A Ética Do Cuidado de Si Como Prática Da Liberdade - Michel FoucaultDocumento14 páginasA Ética Do Cuidado de Si Como Prática Da Liberdade - Michel Foucaultmarcusoestmann100% (3)
- Jacques Rancière - Partilha Do Sensível (Entrevista)Documento7 páginasJacques Rancière - Partilha Do Sensível (Entrevista)Mariana LimaAinda não há avaliações
- O dragão pousou no espaço: Arte contemporânea, sofrimento psíquico e o Objeto Relacional de Lygia ClarkNo EverandO dragão pousou no espaço: Arte contemporânea, sofrimento psíquico e o Objeto Relacional de Lygia ClarkAinda não há avaliações
- 11 AkhenatonDocumento29 páginas11 AkhenatonLilithAinda não há avaliações
- Diálogos e Dissidências: M. Foucault e J. RancièreNo EverandDiálogos e Dissidências: M. Foucault e J. RancièreAinda não há avaliações
- O Que É Um Dispositivo? Gilles DeleuzeDocumento5 páginasO Que É Um Dispositivo? Gilles DeleuzeVivianne Amaral100% (9)
- Resenha Livro Horror EconomicoDocumento8 páginasResenha Livro Horror EconomicohelentonAinda não há avaliações
- Arthur Danto e o Fim Da ArteDocumento6 páginasArthur Danto e o Fim Da ArteAntonioSimesSilva0% (1)
- FOUCAULT O Que e Um AutorDocumento4 páginasFOUCAULT O Que e Um Autorcolabor100% (1)
- Roland Barthes e a revelação profana da fotografiaNo EverandRoland Barthes e a revelação profana da fotografiaAinda não há avaliações
- Uma arqueologia do ensino de Filosofia no Brasil: Formação discursiva na produção acadêmica de 1930 a 1968No EverandUma arqueologia do ensino de Filosofia no Brasil: Formação discursiva na produção acadêmica de 1930 a 1968Ainda não há avaliações
- O Andarilho Das EstrelasDocumento142 páginasO Andarilho Das EstrelasvalerinnhaAinda não há avaliações
- Experimentos de Pensamento TraduzidoDocumento51 páginasExperimentos de Pensamento TraduzidoRodrigo Calheiros DantasAinda não há avaliações
- O Espinho de KleistDocumento84 páginasO Espinho de KleistFelipe Gonçalves CalvosoAinda não há avaliações
- O ORÁCULO CONTRARIADO Francisco BrennandDocumento23 páginasO ORÁCULO CONTRARIADO Francisco BrennandgalegosnesAinda não há avaliações
- Livro Grupo PesqDocumento164 páginasLivro Grupo PesqXisto Souza JúniorAinda não há avaliações
- Bourdieu: A Opinião Pública Não ExisteDocumento7 páginasBourdieu: A Opinião Pública Não ExisteArtur AraujoAinda não há avaliações
- O CONCEITO GEOGRÁFICO DE BAIRRO - Uma Aplicação À Questão Do Sítio Campinas-Basa e Da IlhinhaDocumento14 páginasO CONCEITO GEOGRÁFICO DE BAIRRO - Uma Aplicação À Questão Do Sítio Campinas-Basa e Da IlhinhaInês Santos MouraAinda não há avaliações
- O Papel Da Paternidade e A Padrectomia Pós-Divórcio - Nelson Zicavo MartínezDocumento17 páginasO Papel Da Paternidade e A Padrectomia Pós-Divórcio - Nelson Zicavo MartínezRicardoAinda não há avaliações
- Cap 1. O Surgimento Da Filosofia Na Grécia Antiga.Documento5 páginasCap 1. O Surgimento Da Filosofia Na Grécia Antiga.Igor AcioleAinda não há avaliações
- A Vida Inteligente PDFDocumento225 páginasA Vida Inteligente PDFCideni C Rodrigues100% (1)
- SORDI, Caetano Pos Correlacionismo e Antropologia Um Debate A Partir Dos Escritos de Levi Strauss Sobre o JapaoDocumento14 páginasSORDI, Caetano Pos Correlacionismo e Antropologia Um Debate A Partir Dos Escritos de Levi Strauss Sobre o JapaoVongoltzAinda não há avaliações
- (Livro) Observando A Qualidade Do Lugar Procedimentos para Avaliação Pós OcupaçãoDocumento119 páginas(Livro) Observando A Qualidade Do Lugar Procedimentos para Avaliação Pós OcupaçãoCelina IzarAinda não há avaliações
- O Outro Do Ser SurdoDocumento20 páginasO Outro Do Ser SurdolukinhaAinda não há avaliações
- Por Que Os Ateus São Pessoas Altamente Adaptáveis?Documento109 páginasPor Que Os Ateus São Pessoas Altamente Adaptáveis?Ramsés IIAinda não há avaliações
- Educação Pobreza e Desigualdade Social - UnB - Vol 1Documento235 páginasEducação Pobreza e Desigualdade Social - UnB - Vol 1Marco CostenaroAinda não há avaliações
- Educação e Comunicação Na Perspectiva de Paulo Freire - A Questão Da Mídia Na Prática DocenteDocumento12 páginasEducação e Comunicação Na Perspectiva de Paulo Freire - A Questão Da Mídia Na Prática DocenteJuliana Noronha DutraAinda não há avaliações
- Construcionismo SocialDocumento4 páginasConstrucionismo SocialAdriana Barretta AlmeidaAinda não há avaliações
- A CORPORAÇÃO TRIBAL-CADU LEMOS Ebook-MinDocumento60 páginasA CORPORAÇÃO TRIBAL-CADU LEMOS Ebook-MincadulemosAinda não há avaliações
- Ler o Espaço e Compreender o MundoDocumento8 páginasLer o Espaço e Compreender o MundoSolerGonzalezAinda não há avaliações
- 3864-Texto Do Artigo-14344-1-10-20160429Documento16 páginas3864-Texto Do Artigo-14344-1-10-20160429Rafael Manuel NhanombeAinda não há avaliações