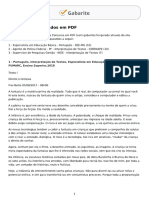Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
COPPAM - Cartilha - Cópia
COPPAM - Cartilha - Cópia
Enviado por
Betânia Santana0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações11 páginasTítulo original
COPPAM -cartilha - Cópia.docx
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
1 visualizações11 páginasCOPPAM - Cartilha - Cópia
COPPAM - Cartilha - Cópia
Enviado por
Betânia SantanaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes
Conselho de Preservao do Patrimnio Histrico e Cultural COPPAM
Apresenta
Nosso Patrimnio Histrico e Cultural
Preservao da cidade como herana para o futuro
1. Introduo
Quem dir quantas vezes a nao goitac levou o fogo taba dos brancos e
venceu os homens do raio? (O Guarani, Jos de Alencar, apud Alberto
Lamego, O Homem e o Brejo).
A sociedade a principal responsvel pelo seu patrimnio histrico e cultural, pois
dela advm e se consubstancia na dimenso do tempo; e sua preservao se d em funo de
seu significado e herana para as futuras geraes, porque a histria o registro dos eventos
dos quais o homem o ator principal.
Com a elaborao e a publicao dessa cartilha, pretende-se despertar na sociedade,
como parte dela, sobretudo nas crianas e adolescentes, alm de estudantes de um modo
geral, a vontade e o desejo de integrao/participao nas aes voltadas para a preservao
do histrico, do artstico, do arquitetnico e do ambiental.
A cidade a nossa Casa. nela que a gente vive.
O trabalho, em sntese, est divido em trs partes distintas: a) Antropolgica, um
ligeiro estudo entre o homem e seu espao vivencial; a formao da cidade enquanto ncleo
importante criado com o sentido de propiciar o desenvolvimento das humanidades; b)
Conceitos e definies sobre o patrimnio cultural e as razes pelas quais devemos preserv-
lo; c) Apresentao dos instrumentos de gesto do patrimnio; e o papel de cada um deve
desempenhar neste contexto.
Acredita-se que, se cada um cumprir com o seu dever, estaremos tecendo uma grande
rede de proteo nossa cultura, nossa memria e a tudo mais que se integre, pela sua
dimenso ontolgica, identidade cultural de nossa gente.
2. Sinopse Histrica
acidade lacustre apoiada sobre estacas em choas de madeira e
colmo, primitiva e rude construo, so grosseiras as formas. Que
importa? O essencial est feito. (Oliveira Martins, Elementos de
Antropologia, Lisboa, 1909, apud Lamego, O Homem e o Brejo
(p.128)).
Com a mais vasta rea do Estado do Rio de Janeiro, os campos dos ndios Goytacazes
(termo que, trazido para o portugus, pode significar corredores da mata para uns ou ndios
nadadores para outros), comearam a ser desbravados pelo homem branco, com a doao da
Capitania de So Tom a Pero de Gis da Silveira, que havia chegado ao Brasil com a expedio
colonizadora de Martim Afonso de Souza, em 1530, e posteriormente a seu filho Gil de Gis.
No entanto, devido aos constantes ataques dos Goytacazes, que haviam destrudo a populao
da Vila da Rainha, fundada em 1538, e depois Vila de Santa Catarina das Ms, prxima ao Rio
Itabapoana, Pero Gis da Silveira acabou abandonaram a povoao e retornando a Portugal,
em 1570.
Mas, a efetiva colonizao da regio somente iria comear em 1627, quando o
Governador-Geral, Martim Corra de S, doou algumas glebas da capitania a sete capites:
Miguel Maldonado, Miguel da Silva Riscado, Antnio Pinto Pereira, Joo de Castilhos, Gonalo
Corra da S, Manuel Corra e Duarte Corra, que construram, em 1633, currais para gado,
prximos Lagoa Feia e Ponta de So Tom em reconhecimento pelo seu herosmo nas lutas
contra os ndios e piratas na colonizao das terras.
Dos sete capites, apenas Miguel Riscado se estabeleceu nas terras recebidas. Os
demais alugaram as reas que lhes cabiam a colonos ou as doaram aos padres jesutas e
beneditinos. O Governador do Rio de Janeiro, Salvador Corra de S e Benevides, em 1648,
conseguiu a doao das terras da Capitania de So Tom, que, desde 1615, passara a chamar-
se Capitania da Paraba do Sul, para seus filhos Martim Corra de S e Benevides, Primeiro
Visconde de Asseca, e Joo Corra de S. Em poucos anos, a povoao prosperou, sendo
elevada categoria de vila em 29 de Maio de 1677.
Iniciou-se, assim, um longo perodo de violentos conflitos de terras que envolviam, de
um lado, os Asseca e, de outro, os descendentes dos sete capites e criadores de gado. Foram
cem anos de domnio dos Asseca, at que, em 1748, explodiu um levante chefiado pela
fazendeira Benta Pereira que, aos 72 anos, a cavalo e armada de pistolas, chefiou o combate,
que acabou por derrotar os Asseca.
No tardou, porm, a represso ao levante, ordenada pelo Governador do Rio de
Janeiro, que devolveu o poder aos derrotados. Finalmente, em 1752, apesar dos protestos dos
Asseca, a Capitania do Paraba do Sul foi incorporada Coroa Portuguesa, tendo sido, um ano
depois, anexada Capitania do Esprito Santo, somente voltando a pertencer Provncia do
Rio de Janeiro em 1832.
No ano seguinte, foi criada a Comarca de Campos e, em 28 de maro de 1835, a Vila de
So Salvador foi elevada categoria de cidade com o nome de Campos dos Goytacazes, e
agora os canaviais se estendiam pela plancie.
Em 1837, com o aparecimento da ferrovia, facilitou a circulao transformando o
municpio em centro ferrovirio da regio. A grande riqueza de Campos no sc. XIX pode ser
creditada expanso da produo aucareira, inicialmente apoiada pelos engenhos a vapor e
mais tarde substituda por usinas. Em 1875, a regio contava com 245 engenhos de acar e,
por volta do ano de 1879, foi construda a primeira usina, batizada como Usina Central do
Limo, concentrando os meios de produo em torno de uma idia cooperativa.
A descoberta de petrleo e gs natural na plataforma continental da Bacia de Campos
tem propiciado o aumento significativo da receita municipal nos ltimos anos, por meio do
recebimento de royalties excedentes e participaes especiais.
Por sua arquitetura ecltica, Campos dos Goytacazes considerado um museu a cu
aberto ficando atrs s da cidade do Rio de Janeiro. O municpio foi palco de importantes
acontecimentos: recebeu quatro vezes o imperador D. Pedro II, foi a primeira cidade da
Amrica Latina a ser dotada de luz eltrica, teve um campista Nilo Peanha - na Presidncia
da Repblica e alguns no governo estadual, dentre eles: Togo de Barros, Celso Peanha,
Teotnio Ferreira de Arajo Filho, Anthony Garotinho, Rosinha Garotinho...
A cidade se sobressai ainda por seus prdios histricos, o patrimnio cultural (as
danas tpicas, como o jongo e a Mana Chica; a Lenda do Ururau da Lapa; as festas
tradicionais, tendo como matriz as festas em louvor ao Divino Esprito Santo; as bandas civis
centenrias) e a fabricao de dois doces tradicionais: o chuvisco, a goiabada...
Fonte de Pesquisas: O Homem e o Brejo, Alberto Lamego; Na Taba dos Goytacazes,
Herv Salgado Rodrigues. Site da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
3. Nossa Herana para o futuro
A casa, o tipo de habitao, sabe-se que uma das influncias sociais que
atuam mais poderosamente sobre o homem (...). Essa influncia exerceu-a
de modo decisivo sobre a famlia patriarcal, no Brasil, a casa-grande de
engenho ou fazenda (...). (Sobrados e Mocambos, Gilberto Freyre apud
Alberto Lamego, O Homem e o Brejo).
Na aludida obra, Lamego narra o inicio do processo de urbanizao do povoado,
assinalando que Em toda a plancie no h uma pedra e embora a cordilheira e o Morro do
Itaoca tenham bons granitos e gnaisses, a carncia de transportes nos primeiros sculos
tornavam difcil o seu emprego (p.159).
E dele a citao: Em 1689, ao visitar Campos o bispo Alarco observou que todas as
construes eram de entulho e de tijolos crus cobertas de palhas de pindoba e taba, sendo
raro o sap que s se dava bem nas terras cansadas (...). A prpria matriz fora construda
desse jeito, e por muitos anos continuou assim, at que, em 1692, o Visconde de Asseca
monta a primeira olaria a fim de queimar telhas para a cobrir (sic). As pedras para as
construes modernas vinham do Rio de Janeiro e de Vitria (...)
Ainda Lamego, referindo-se ao sculo XVIII: Malgrado a populao j de milhares na
plancie a vila s possua trs casas de telha e cinco de palha, sendo a cadeia um tronco com
um telheiro por cima, e a igreja uma capela feita pelos irmos do Santssimo. Na zona rural, a
no ser o Colgio e o Mosteiro de So Bento, de coletividades religiosas, nada sobrevive como
testemunho de vivendas desse tempo (...).
Pode-se considerar que o processo de constituio do modelo de cidade moderna data
de 1837, quando por pedido da Cmara enviado o Engenheiro Henrique Luiz de Niemeyer
Bellegarde para dar incio s obras de melhorias e o saneamento urbano. A cidade pestilenta
gradativamente vai desaparecendo para dar lugar a vitrine da modernidade. (Na Taba dos
Goytacazes, Herv Salgado Rodrigues).
No trabalho acadmico Modernizao Urbana e Poder Poltico em Campos dos
Goytacazes (1930-40), sua autora, Heloiza Manhes Alves, descreve:
1) O projeto de urbanizao via consagrao da tcnica sanitarista/higienista elegia a
remodelao e embelezamento da cidade como meio de integrao ao mundo
civilizado. Dotar a cidade de artefatos do progresso era o objetivo de uma elite
econmica e poltica que buscava projetar-se na regio e na vida poltica estadual
e qui nacional.
2) Neste contexto que entendemos o projeto de reforma urbana para Campos, em
1902, por Saturnino de Brito. Projeto este a pedido de Benedito Pereira Nunes,
mdico, integrante da discusso sobre a transferncia da capital do estado de
Niteri para o interior tinha como argumentao de que era preciso afastar a
poltica fluminense das contendas e proximidades da capital do pas. A promoo
da interiorizao da capital do estado do Rio de Janeiro veio a se constituir em
instrumento disputa dos grupos polticos fluminenses em busca de afirmao. Ver:
Ferreira (1997) e Alves (2009).
3) A modernizao urbana de Campos dos Goytacazes, entre os anos 1930 e 1940, se
constituiu num empreendimento estrategicamente pensado pelas elites locais,
com intenes muito especficas - a busca da afirmao de cidade como metrpole
regional, centro poltico hegemnico no cenrio fluminense.
4. Patrimnio: Conceito
Patrimnio cultural o conjunto de todos os bens materiais ou imateriais que,
pelo seu valor prprio histrico, deve ser considerado de interesse relevante para a
permanncia e a identidade da cultura de um povo. Etimologicamente, patrimonium,
no Direito Romano, significava o conjunto de bens de uma pessoa, que inclua sua
casa, terras e utenslios indo at os escravos.
O patrimnio a nossa herana do passado, com a qual vivemos hoje, e
passamos revigorada s geraes vindouras.
Do patrimnio cultural fazem parte os bens imveis, tais como casares,
solares, capelas e igrejas, casas, praas, monumentos, conjuntos urbanos e, ainda,
locais de expressivo valor para a histria nos campos da antropologia, da
arqueologia, da paleontologia e das cincias sociais de um modo geral.
Nos bens mveis incluem-se, por exemplo, pinturas, esculturas e artesanato.
Nos bens imateriais consideram-se a literatura, a msica, o folclore (Lendas e Mitos), a
linguagem, a culinria e costumes com suas representaes simblicas.
5. Criao - IPHAN
A Constituio de 1988 estabelece no seu Art 216 que se "(...) constituem
patrimnio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referncia identidade, ao,
memria dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem:
I - as formas de expresso;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criaes cientficas, artsticas e tecnolgicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificaes e demais espaos destinados s
manifestaes artstico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e stios de valor histrico, paisagstico, artstico,
arqueolgico, paleontolgico, ecolgico e cientfico.
A proteco dos bens culturais em territrio brasileiro est garantida pela Lei
Federal n 25, de 30 de Novembro de 1937, a qual define as regras do "tombamento"
(inventariao) dos bens pertencentes ao "Patrimnio Histrico e Artstico Nacional",
bem como a proteo a que esses bens ficam sujeitos no sentido da sua preservao e
conservao.
5.1.Histria da Instituio
O Instituto de Patrimnio Histrico e Artstico Nacional - IPHAN foi criado em
13 de janeiro de 1937 pela Lei n 378, no governo de Getlio Vargas. Em 1936, o ento
Ministro da Educao e Sade, Gustavo Capanema, preocupado com a preservao do
patrimnio cultural brasileiro, pediu a Mrio de Andrade a elaborao de um anteprojeto de
Lei para salvaguarda desses bens.
Em seguida, confiou a Rodrigo Melo Franco de Andrade a tarefa de implantar
o Servio do Patrimnio. Posteriormente, em 30 de novembro de 1937, foi promulgado o
Decreto-Lei n 25, que organiza a proteo do patrimnio histrico e artstico nacional. O
IPHAN est hoje vinculado ao Ministrio da Cultura.
Rodrigo Melo Franco de Andrade contou com a colaborao de outros brasileiros
ilustres como Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Afonso Arinos, Lcio Costa e Carlos
Drummond de Andrade. O Prprio IPHAN um patrimnio histrico do pas, a partir de seus
elaboradores.
6. Criao - INEPAC
O Instituto Estadual do Patrimnio Cultural (INEPAC) o rgo subordinado Secretaria
de Estado de Cultura do Governo do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, ao qual compete
desenvolver aes para a preservao do patrimnio cultural e artstico no mbito do
territrio estadual.
Iniciou as suas atividades em 15 de julho de 1965, data do primeiro tombamento
estadual no Rio de Janeiro. Para atingir as suas finalidades desenvolve estudos e pesquisas
sobre bens culturais de real interesse, elabora pareceres tcnicos, procede tombamentos e
fiscaliza os bens tombados.
O tombamento a inscrio do bem considerado como patrimnio histrico, artstico
ou paisagstico em livro prprio (ou Livro de Tombo), com a discriminao das caractersticas
que o individualizam.
7. Criao COPPAM
Com o ttulo de Conselho de Preservao do Partrimnio Municipal, hoje denominado
Conselho Municipal de Preservao do Patrimnio Artstico e Cultural de Campos dos
Goytacazes, o COPPAM foi criado, por intercesso do Ministrio Pblico do Estado do
Rio de Janeiro, pela Lei 7.527 de 19 de dezembro de 2003, alterada pela Lei 8.151, de
26 de Maro de 2010.
Sua atuao, no entanto, somente se d a partir da criao do Plano Diretor do
Municpio, consolidado atravs da Lei 7.972, de 31 de maro de 2008.
A atual composio do COPPAM fruto da realizao da I Conferncia de Preservao
do Patrimnio Municipal
8. Legislao
-Decreto-Lei n 2, de 11 de abril de 1969;
-Lei n 509, de 3 de dezembro de 1981;
-Decreto n 5.808, de 13 de julho de 1982;
-Constituio do Estado do Rio de Janeiro, de 5 de outubro de 1989;
-Decreto n 23.055, de 16 de abril de 1997;
-Decreto-Lei n 25, de 30 de novembro de 1937;
- Lei Municipal 7.525, de 19/12/2003 (Lei 8.l51, de 26/03/2010);
8. TOMBO MUNICIPAL
Lei 7.527, de 19/12/2003.
Artigo 18 Cabe ao proprietrio do bem tutelado, protegido, preservado e ou
tombado a sua proteo e conservao, segundo os preceitos e determinao desta lei
e do COPPAM;
Pargrafo nico Os proprietrios ou usurios de bens imveis situados em rea
Especial de Interesse Cultural AEIC tutelados, protegidos, preservados e ou
tombados, atravs de requerimento Secretaria Municipal de Finanas, podero gozar
do desconto de at 80 % do valor anual do IPTU, de acordo com a Lei 8.188, de
18/11/2010;
Artigo 19 Os bens tutelados, protegidos, preservados e ou tombados no podero
ser destrudos, mutilados ou demolidos, salvo em caso de runa eminente,
comprovada por laudo tcnico da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e
Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Defesa Civil, mas com a deciso final a
cargo do COPPAM;
8.1.Das Penalidades:
Quem atentar contra o patrimnio pblico material est sujeito s multas
estabelecidas pela lei e, dependendo da gravidade, os responsveis pagaro
multas recolhidas ao Fundo Municipal de Cultura, que variam de 50 a 30 mil
UFICAS;
Dentre s infraes graves esto: Demolio de Imvel tutelado, protegido ou
tombado, sem conhecimento dos rgos municipais e do COPPAM;
Deixar dolosamente o imvel tutelado, preservado e ou tombado ficar em runas
com o propsito de justificar sua demolio;
9. Bens Imateriais
Patrimnio cultural imaterial (ou patrimnio cultural intangvel) uma concepo de
patrimnio cultural que abrange as expresses culturais e as tradies que um grupo
de indivduos preserva em respeito da sua ancestralidade, para as geraes futuras.
So exemplos de patrimnio imaterial: os saberes, os modos de fazer, as formas de
expresso, celebraes, as festas e danas populares, lendas, msicas, costumes e
outras tradies.
Nossos Bens Imateriais Registrados:
Mana Chica do Caboio;
Jongo;
Bois Pintadinhos;
Samba de Terreiro;
Lenda do Ururau da Lapa;
Doce Chuvisco.
10. Ficha Tcnica
Coordenao do Projeto
- Professor Orvio de Campos Soares
Superintendente de Cultura e Preservao do Patrimnio Histrico
Pesquisas
Maria Lucia Bittencourt da Fonseca (secretria ad-hoc)
Conselheiros
- Csar Romero Ferreira Braga;
- Zacarias Albuquerque Oliveira;
- Edison Pessanha Braga;
- Wainer Teixeira de castro;
- Carlos Roberto Bastos Freitas;
- Leonam de Menezes Rodrigues;
- Jorge William Pereira Cabral;
-Leonardo Vasconcelos da Silva;
- Viviane Daher Costa
- Mary Jane Moraes;
- Humberto Neto das Chagas;
- Denilson Sales de Souza (In-memorian)
Projeto Grfico e Ilustrao
Fernando Luiz Neves Soares
Apoio
Auxiliadora Freitas
Cmara Municipal de Campos dos Goytacazes;
Rosinha Garotinho Prefeita Municipal
Dr. Francisco Artur de Souza Oliveira Vice-Prefeito
Marinea Abude de Cerqueira Martins Secretria de Educao, Cultura e Esporte
Patricia Cordeiro Alves Presidente Fundao Cultural Jornalista Oswaldo Lima
Dr. Edison Batista Presidente da Cmara Municipal de Campos
Você também pode gostar
- Kit Completo Enem 2016 E Vestibulares - Apostilas Livros EDocumento8 páginasKit Completo Enem 2016 E Vestibulares - Apostilas Livros EMario Lima100% (3)
- O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: Uma Análise Sistemática e As Dificuldades de Acesso Pelo TrabalhadoresDocumento64 páginasO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: Uma Análise Sistemática e As Dificuldades de Acesso Pelo TrabalhadoresCledson Nunes FelixAinda não há avaliações
- Guia Do Vale Do CafeDocumento87 páginasGuia Do Vale Do CafeSandra LimaAinda não há avaliações
- 1 As Tres Revelacoes PDFDocumento4 páginas1 As Tres Revelacoes PDFBetânia SantanaAinda não há avaliações
- Relatório Educaçao EspecialDocumento4 páginasRelatório Educaçao EspecialGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- Analise Comparativo Do Manual Do Professor e Livro Do AlunomatematicaDocumento11 páginasAnalise Comparativo Do Manual Do Professor e Livro Do AlunomatematicaHelfas Samuel71% (7)
- Gestão Da Manutenção - Senai - CFPDocumento24 páginasGestão Da Manutenção - Senai - CFPAntonio JoseAinda não há avaliações
- Diretrizes Pedagógicas 2022Documento42 páginasDiretrizes Pedagógicas 2022Felipe UepaAinda não há avaliações
- TEMPLAT Dicionario Da EAP - Complementar A PlanilhaDocumento4 páginasTEMPLAT Dicionario Da EAP - Complementar A PlanilhaBetânia SantanaAinda não há avaliações
- 1 Causas Das Aflicoes PDFDocumento4 páginas1 Causas Das Aflicoes PDFBetânia SantanaAinda não há avaliações
- Referencias Conforto TermicoDocumento2 páginasReferencias Conforto TermicoBetânia SantanaAinda não há avaliações
- Aspectos Economicos para Cidades de Baixo CarbonoDocumento88 páginasAspectos Economicos para Cidades de Baixo CarbonoBetânia SantanaAinda não há avaliações
- Construcao Civil Sustentavel A Utilizacao Do Bambu em Divinopolis Minas Gerais 1166310Documento36 páginasConstrucao Civil Sustentavel A Utilizacao Do Bambu em Divinopolis Minas Gerais 1166310Betânia SantanaAinda não há avaliações
- Nt0003612a PDFDocumento174 páginasNt0003612a PDFBetânia SantanaAinda não há avaliações
- Uniflu Roteiro Levantamento Arquitetonico - Cópia PDFDocumento2 páginasUniflu Roteiro Levantamento Arquitetonico - Cópia PDFBetânia SantanaAinda não há avaliações
- QuadroComparativo LEONARDO TROIANO PDFDocumento2 páginasQuadroComparativo LEONARDO TROIANO PDFLeonardo TroianoAinda não há avaliações
- Teorias de Aprendizagem (TD)Documento28 páginasTeorias de Aprendizagem (TD)Pedro FerreiraAinda não há avaliações
- Armando Augusto de GodoyDocumento15 páginasArmando Augusto de GodoyJulia M. MonteiroAinda não há avaliações
- Epistemologia Da Interdisciplinaridade - Olga Pombo 2008Documento32 páginasEpistemologia Da Interdisciplinaridade - Olga Pombo 2008Alessandra Buonavoglia Costa-PintoAinda não há avaliações
- FRANCO, Sergio Miguel - Iconografia Urbana Grafiteiros e PixadoresDocumento176 páginasFRANCO, Sergio Miguel - Iconografia Urbana Grafiteiros e Pixadoresbernini1598Ainda não há avaliações
- Caderno de Questoes Concurso Com Gabarito 260223Documento37 páginasCaderno de Questoes Concurso Com Gabarito 260223Guilherme TregellasAinda não há avaliações
- Bingo CelularDocumento11 páginasBingo CelularAna Cláudia Do NascimentoAinda não há avaliações
- Flexao Verbal em Libras e em Lingua PortuguesaDocumento13 páginasFlexao Verbal em Libras e em Lingua PortuguesaMarta Aquino de AquinoAinda não há avaliações
- Instituto Superior Politecnico Jean Piaget de BenguelamDocumento69 páginasInstituto Superior Politecnico Jean Piaget de BenguelamNuriaAinda não há avaliações
- Prova Parana Professor Lingua Portuguesa 7521Documento75 páginasProva Parana Professor Lingua Portuguesa 7521sandracaskoskiAinda não há avaliações
- 20 Conselhos de Abilio Diniz para Ter Sucesso (Na Vida e Nos Negócios) - Finanças e Meios de Pagamento - Impulso Digital PDFDocumento3 páginas20 Conselhos de Abilio Diniz para Ter Sucesso (Na Vida e Nos Negócios) - Finanças e Meios de Pagamento - Impulso Digital PDFAaron GomezAinda não há avaliações
- TCC Breno Final CorrigidoDocumento22 páginasTCC Breno Final CorrigidoEmannuel Al'cirene IIAinda não há avaliações
- Simpósios Temáticos Jalla 2018 1. A Expressão Da Memória Andina Frente À ViolênciaDocumento44 páginasSimpósios Temáticos Jalla 2018 1. A Expressão Da Memória Andina Frente À ViolênciaElanir França CarvalhoAinda não há avaliações
- PSICOTEOLOGIADocumento23 páginasPSICOTEOLOGIAreginaaraujorochaAinda não há avaliações
- CMRJ Prova Port 108 PDFDocumento12 páginasCMRJ Prova Port 108 PDFRubens Carletti JúniorAinda não há avaliações
- Plano de Ensino Ginástica RítmicaDocumento7 páginasPlano de Ensino Ginástica RítmicaBrenoBatistaAinda não há avaliações
- Demanda Numinosa UDV Dissertação Ayahuasca PUC-RJ 2005Documento147 páginasDemanda Numinosa UDV Dissertação Ayahuasca PUC-RJ 2005Wagner LiraAinda não há avaliações
- Plano de Aula Sociologia 03Documento2 páginasPlano de Aula Sociologia 03Viviane WehdornAinda não há avaliações
- Cultura em Tempos de Libertac3a7c3a3o Nacional e Revoluc3a7c3a3o Social Amc3adlcar Cabral Samora Machel e Mc3a1rio de AndradeDocumento111 páginasCultura em Tempos de Libertac3a7c3a3o Nacional e Revoluc3a7c3a3o Social Amc3adlcar Cabral Samora Machel e Mc3a1rio de AndradeLuana AndradeAinda não há avaliações
- Lutas de Classes Na Alemanha, Prefácio.Documento7 páginasLutas de Classes Na Alemanha, Prefácio.Caroline Oliveira.Ainda não há avaliações
- Modelagem Matemática - A Matemática Do Dia A DiaDocumento3 páginasModelagem Matemática - A Matemática Do Dia A DiaDanilo MoraisAinda não há avaliações
- Plano de Curso Anual 1 Ano - Ciências HumanasDocumento31 páginasPlano de Curso Anual 1 Ano - Ciências HumanasJosé Carlos Chagas SoaresAinda não há avaliações
- IPq PsicopatologiaDocumento3 páginasIPq PsicopatologiaZaqueu RodriguesAinda não há avaliações