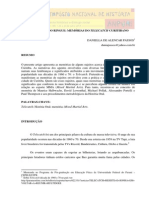Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Projetos Sociais
Projetos Sociais
Enviado por
pptvzcTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Projetos Sociais
Projetos Sociais
Enviado por
pptvzcDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Projetos sociais de empresas no Brasil:
arcabouo conceitual para
pesquisas empricas e anlises gerenciais*
Renata Buarque Goulart Coutinho**
Teresia Diana L. v. A. de Macedo-Soares***
Jos Roberto Gomes da Silva****
S U M R I O : 1. Introduo; 2. Metodologia; 3. Referencial terico; 4. Resultados e discusso; 5. Consideraes finais.
S U M M A R Y : 1. Introduction; 2. Methodology; 3. Theoretical framework;
4. Results and discussion; 5. Final remarks.
P A L A V R A S - C H A V E : responsabilidade social corporativa; investimentos sociais
de empresas; gesto de projetos sociais.
K E Y W O R D S : corporate social responsibility; corporate social investments;
social project management.
Este artigo apresenta o arcabouo conceitual desenvolvido como parte de
uma pesquisa com vistas investigao dos modelos de gesto adotados por
empresas no Brasil, na conduo de seus projetos sociais, sua adequao s
caractersticas dos projetos e as implicaes para sua efetividade e sustenta-
* Artigo recebido em mar. e aceito em ago. 2006.
** Doutora em administrao de empresas pelo Instituto de Administrao e Gerncia, IAG/PUCRio, e administradora do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES).
Endereo: Av. Repblica do Chile, 100/8o andar Centro CEP 20031-917, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil. E-mail: rbuarque@bndes.gov.br.
*** PhD em filosofia pela Universidade de Montreal, Canad e professora associada do Instituto
de Administrao e Gerncia, IAG/PUC-Rio. Endereo: Rua Marqus de So Vicente, 225
Gvea CEP 22453-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: redes@strategy-research.com.
**** Doutor em administrao de empresas pelo Instituto de Administrao e Gerncia, IAG/
PUC-Rio, e professor assistente do IAG/PUC-Rio. Endereo: Rua Marqus de So Vicente, 225
Gvea CEP 22453-900, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. E-mail: jrgomes@iag.puc-rio.br.
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
764
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
bilidade. Foi feita uma extensa reviso da literatura, a fim de identificar conceitos e construtos que pudessem apoiar a construo do arcabouo. Foi
identificada tambm a interao de diversos fatores que podem trazer implicaes para a efetividade dos projetos e para a sustentabilidade. A partir das
recomendaes de Kerlinger (1973) para operacionalizao de conceitos,
foram definidos os principais construtos adotados na pesquisa, posteriormente desmembrados em dimenses, s quais, por sua vez, foram atribudos indicadores. E, por fim, foi visto como o arcabouo resultante pode ser
utilizado na conduo de pesquisas empricas sobre projetos sociais desenvolvidos por empresas no Brasil e tambm sua importncia para os gestores
de projetos, na anlise da adequao entre os diversos fatores intervenientes, com vistas a uma maior efetividade e sustentabilidade dos resultados.
Corporate social projects in Brazil: conceptual framework for
empirical research and management analyses
This article presents a conceptual framework which was developed as part
of a research aimed at investigating management models adopted by firms
in Brazil to conduct their social projects, how they fit project characteristics,
and the implications for their effectiveness and sustainability. Firstly, the
article shares the results of a wide-range review of the literature, undertaken to identify concepts and constructs which could support the building
of the framework. The research also identifies the interaction of various factors that may have implications for project effectiveness and sustainability.
Based on Kerlingers (1973) recommendations regarding concept operationalization, a description is made of how the main constructs adopted in the
research were defined. These were then broken down into dimensions, to
which indicators were attributed. An explanation is given of how the resulting framework can be used to guide empirical research into social projects
developed by firms in Brazil, and also its importance for project managers in
their analyses of the fit between various intervening factors, in order to
ensure the greater effectiveness and sustainability of results.
1. Introduo
No Brasil, a responsabilidade social corporativa (RSC) foi trazida tona na dcada de 1960. A partir dos anos 1980, a RSC voltou s pautas de discusso nos
meios empresarial, acadmico e na mdia. A criao do Grupo de Institutos,
Fundaes e Empresas (Gife), em 1989; a campanha do Instituto Brasileiro de
Anlises Sociais e Econmicas (Ibase) pela publicao do balano social, a partir de 1997; e a criao do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, em
1998, foram marcos importantes. No bojo desse processo, est a atuao das
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
765
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
universidades e institutos de pesquisa. Muitos j contam com centros e grupos dedicados ao estudo da RSC, da tica empresarial e da atuao do terceiro setor.
Apesar do conceito de RSC abranger as relaes da organizao com
seus diversos stakeholders, seu brao social que mais d visibilidade s empresas. Muitas so intituladas empresas socialmente responsveis simplesmente por patrocinarem projetos em comunidades. Pouco se questiona sobre
a forma como tais projetos so implementados.
Pesquisas mostram que, no Brasil, tem sido crescente a injeo de recursos
na rea social (Ipea, 2001, 2002; Gife, 2001) e grande parte dos investimentos
sociais das empresas apoiada pelo trabalho voluntrio dos empregados (CeatsUSP, 1999). Uma tendncia na atuao social das empresas brasileiras o estabelecimento de parcerias e alianas interinstitucionais e intersetoriais, envolvendo outras empresas, organizaes no-governamentais e rgos do governo
(Ceats-USP, 2005). No entanto, ainda predominam atividades de assistncia social e de alimentao (Ipea, 2002); nos projetos desenvolvidos por meio de parcerias intersetoriais raramente feito um planejamento prvio das aes (Fischer
et al., 2003) e grande parte das empresas no dispe de informaes sistematizadas sobre o impacto de suas aes sociais (Ipea, 2001). A atuao social das empresas acontece de diversas formas: concentrando-se em um s projeto ou em
diversos; por meio de doaes espordicas ou iniciativas de longa durao; e com
formas diversas de gesto dos projetos (Fischer et al., 2003; Thompson e co-autores, 2000).
Apesar do crescente nmero de pesquisas sobre o tema no Brasil, na literatura de RSC, sob a tica da administrao de empresas, ainda pequena
a ateno dispensada gesto dos projetos sociais, com vistas obteno de
maior efetividade e sustentabilidade dos resultados.
Na segunda seo, apresentada a metodologia utilizada para a construo do arcabouo conceitual. Na terceira, so comentadas as principais
proposies tericas que o embasaram e na quarta so apresentados e discutidos os resultados o arcabouo em si, seus construtos, dimenses e indicadores e suas possveis utilizaes nos meios acadmico e empresarial. Na
quinta seo, so tecidas as consideraes finais.
2. Metodologia
Como j dito, foi feita uma extensa reviso da literatura. Devido caracterstica interdisciplinar da pesquisa, foi necessrio investigar diferentes reas de
conhecimento. Para tanto, foram pesquisados os temas: RSC, tica, desenvolvi-
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
766
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
mento sustentvel, participao social e gesto de projetos sociais. Este artigo,
no entanto, limita-se aos temas referentes a desenvolvimento e sustentabilidade e a projetos sociais, por serem mais diretamente relacionados ao arcabouo.
Na literatura das reas de polticas pblicas e desenvolvimento, mais
especificamente, foram investigados conceitos e definies relacionados a
desenvolvimento sustentvel, participao social e gesto de projetos sociais. Inicialmente, foi efetuada uma pesquisa em bases de dados nacionais e
internacionais (Search Bank, Ebsco Host, Emerald, ProQuest, Sociological
Abstracts, banco de teses da Capes), alm de publicaes de agncias multilaterais de fomento (Cepal, BID, Banco Mundial). Foram investigados tambm os seguintes peridicos: Revista de Administrao Pblica, Revista de
Administrao Municipal, Cadernos de Estudos Sociais, Espao e Debates e Revista do Servio Pblico.
Apoiando-se nas recomendaes de Kerlinger (1973) para operacionalizao de conceitos, foram definidos, com base na reviso da literatura, os
principais construtos adotados na pesquisa, posteriormente desmembrados em
dimenses, s quais, por sua vez, foram atribudos indicadores.
3. Referencial terico
Desenvolvimento e sustentabilidade
O conceito de desenvolvimento sustentvel traz em seu bojo contradies que
refletem a tenso entre crescimento e limite (Ismerio, 1999). A noo de desenvolvimento remete ao aumento, crescimento. Por sua vez, a noo de sustentabilidade tem em si a idia de limites, tanto externos exausto de
recursos, poluio , quanto internos inerentes as sociedades humanas e
seu universo simblico, no-material, cultural. Apesar do desenvolvimento remeter idia de crescimento, implica mudanas qualitativas do sistema social (Tankersley, 1994). Do ponto de vista social, o mesmo ritmo de crescimento
pode culminar no desenvolvimento, no maldesenvolvimento ou no de-desenvolvimento (Sachs, 2000).
A noo de desenvolvimento sustentvel integra as propostas do ecodesenvolvimento e do desenvolvimento endgeno e local, abarcando as dimenses econmica, poltica, tecnolgica, ecolgica e cultural, constitutivas de toda
a sociedade humana. Envolve, portanto, objetivos situados no trip eqidade
social-conservao ambiental-eficincia econmica.
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
767
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
O conceito de desenvolvimento sustentvel, apesar de amplamente discutido, ainda de difcil operacionalizao. A anlise da sustentabilidade de
uma iniciativa, programa ou ao social tarefa rdua, em funo da dificuldade de se encontrarem indicadores que possam ser utilizados para tal mensurao. A sustentabilidade pode ser vista de forma macro, analisando-se a
estratgia generalizada de consumo, crescimento e desenvolvimento da sociedade, ou de maneira micro, analisando-se um determinado processo, programa ou projeto (Mokate, 2002). Este ltimo o enfoque adotado neste artigo.
A viso micro da sustentabilidade tem sido muito utilizada pelas organizaes multilaterais de financiamento a programas e projetos de desenvolvimento. O Banco Mundial, a partir de 1990, props uma interpretao de
sustentabilidade que faz referncia a seis tipos de capital: humano, natural,
cultural, institucional, fsico e financeiro. A sustentabilidade de um programa
ou projeto dependeria, portanto, de um equilbrio apropriado entre os diversos tipos de capital. Tal interpretao faz uma ponte com as definies mais
macro da sustentabilidade, ao reconhecer uma relao de mo-dupla entre o
entorno e a iniciativa que se analisa, j que invoca a necessidade de harmonia entre ambos (Mokate, 2002).
Em consonncia com essa interpretao, o Banco Mundial passou, ento, a qualificar a sustentabilidade de seus programas e projetos, segundo um
amplo conjunto de fatores que so analisados (Mokate, 2002): elementos externos; fatores econmicos; financeiros; tcnicos; sociais; ambientais; institucionais; e de governabilidade.
Projetos sociais
Conceitos e classificaes
Um projeto social busca, por meio de um conjunto integrado de atividades,
transformar uma parcela da realidade, reduzindo ou eliminando um dficit,
ou solucionando um problema, para satisfazer necessidades de grupos que
no possuem meios para solucion-las por intermdio do mercado (Cepal,
1995; Nogueira, 1998).
Freqentemente, os termos projetos, programas e polticas sociais so
confundidos. Um programa social um conjunto de projetos; e uma poltica
social, por sua vez, um conjunto de programas. Projetos e programas so a
traduo operacional das polticas sociais. Um projeto envolve aes concretas a serem desenvolvidas em um horizonte de tempo e espao determina-
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
768
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
dos, restritas pelos recursos disponveis para tal. Os programas, em geral,
envolvem horizontes de tempo mais longos que os projetos. Pode-se, portanto, analisar um programa por meio do estudo dos projetos que o compem
(Cepal, 1995, 1998).
Faz-se necessria, tambm, uma distino entre as reas de atuao dos
projetos, pois esse universo muito vasto e heterogneo. Embora no haja consenso sobre a questo, foram pesquisadas algumas fontes documentos do
Prmio ECO-Amcham, Gife (2001), Ceats-USP (1999, 2005), Ipea (2002) e o
Guia Exame de Boa Cidadania Corporativa, com o intuito de se chegar a um denominador comum. Essas fontes tratam de projetos sociais relacionados iniciativa privada, no contexto brasileiro, o que permitiu uma melhor adequao da
terminologia ao campo deste artigo. As duas maneiras mais usuais de se classificar os projetos so: com relao ao seu objeto principal (sade, educao,
meio ambiente, cultura) ou com relao s caractersticas distintivas da populao-alvo (crianas, adolescentes, portadores de deficincia, idosos).
Com relao s etapas do ciclo de um projeto, muitas so as divises
apresentadas pelos autores investigados. Este artigo adota a seguinte diviso,
sugerida pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): identificao de idias do projeto, definio de objetivos, desenho, anlise e aprovao, execuo e avaliao ex post (BID/Ilpes, 2000).
Critrios de avaliao
Ateno especial deve ser dada ao processo de avaliao, que permite alcanar de forma mais adequada os resultados, com melhor utilizao dos recursos, alm de munir os formuladores e gestores de informaes importantes
para o desenho de futuras iniciativas ou para correo de cursos de atuao,
como um mecanismo de retroalimentao (Cohen e Franco, 1998).
So inmeras as sugestes a respeito dos critrios para a avaliao de
projetos sociais. Alguns, no entanto, permanecem definidos de forma difusa e
de difcil operacionalizao, alm de existirem muitas divergncias em torno
de suas definies.
O critrio mais comumente utilizado a eficcia (Mokate, 2002).
tambm um dos nicos acerca do qual h consenso. Refere-se ao grau em que
se atingem os objetivos de um projeto em um perodo de tempo, com a qualidade esperada, independentemente de seus custos (Cepal, 1998; Cohen e
Franco, 1998; Mokate, 2002).
O conceito de eficincia envolve a relao entre duas dimenses bsicas: resultados do projeto (bens e servios produzidos) e recursos utilizados
(insumos e atividades). Refere-se maneira como os objetivos so alcanados e remete capacidade de selecionar e usar os melhores meios, com os
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
769
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
menores custos possveis, para se realizar uma tarefa ou propsito (Cepal,
1998; Cohen e Franco, 1998; Mokate, 2002).
Vale ressaltar que, no caso de projetos sociais e ambientais, um custo
pode ser incorrido pelo desgaste ou sacrifcio de um recurso, seja ele tangvel
ou intangvel: tempo, recurso ambiental, recurso financeiro, capital social, confiana (Mokate, 2002). Nesse caso, custos e benefcios no deveriam ser medidos apenas em termos financeiros, devendo tambm ser considerados
segundo dimenses sociais e psicolgicas (Narayan, 1995).
Com relao efetividade, cada autor estudado mostra uma interpretao diferente. Para Mokate (2002), eficcia e efetividade so sinnimas. Para
a Unicef, efetividade e impacto podem ser considerados sinnimos, e expressam quanto o projeto tem efeitos (positivos) no ambiente externo (Costa e Castanhar, 2003). Cohen e Franco (1998) sugerem que a efetividade
a relao entre os resultados e o objetivo. A Cepal (1998:18) considera que
a efetividade supe a eficincia e a eficcia e a define como a capacidade
organizacional para ser eficiente e eficaz ao longo do tempo, alcanando nveis de impacto elevados e sustentados. Neste artigo, efetividade considerada uma medida geral de desempenho do projeto, desmembrada em
eficcia e eficincia.
Gesto de projetos sociais
A gesto do projeto consiste em dar unidade e coerncia ao ciclo de ao. Um
projeto tem como conseqncia um conjunto de produtos (gerados via processos de converso), resultados (previstos nos objetivos e metas) e impactos
(mudanas na realidade efetivamente alcanadas). A gesto deve assegurar
que tais produtos, resultados e impactos sejam coerentes com a concepo e
os fins do projeto, garantindo sua eficcia e efetividade, por meio de uma
adequada combinao de recursos (Nogueira, 1998).
Cabe considerar que: os processos de converso so implementados
em uma estrutura social e material especfica; a interao dos membros da
estrutura social gera cultura e clima organizacional tambm especficos;
junto com os processos, os atores da estrutura cumprem uma srie de papis funcionais que permitem articular as aes para maximizar o atingimento dos objetivos; o programa est inserido em um contexto com o qual
interage em maior ou menor grau; a interao de todos os elementos descritos gera um modelo especfico de organizao e gesto em cada programa
social (Cepal, 1998).
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
770
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
Nogueira (1998) prope uma tipologia de projetos baseada em duas dimenses:
g
a capacidade de programao das tarefas dada pelas exigncias de variao em sua execuo, diferindo com relao ao grau em que so suscetveis rotinizao ou formalizao;
a interao com os destinatrios da ao determina a relao entre operador e destinatrio, assim como o nvel de mudana que se pretende provocar nas condies ou capacidades dos destinatrios.
Pode-se imaginar que quanto maior for o mbito de comportamentos
que se deseja impactar, das atitudes a serem modificadas e dos valores a serem estabelecidos, maior ser a necessidade de interao entre a populaoobjetivo e os operadores do projeto, com maior discricionariedade no plano da
gesto, gerando uma maior necessidade da criao de mecanismos para participao da populao (Nogueira, 1998).
A Cepal (1998) prope uma tipologia de modelos de organizao e gesto de projetos sociais que considera duas dimenses:
g
o grau de padronizao dos produtos (bens ou servios resultantes do
projeto);
a homogeneidade/heterogeneidade da populao-objetivo nvel de semelhana nas variveis pertinentes que afetam os objetivos de impacto
do programa.
possvel, portanto, fazer uma associao entre as duas tipologias citadas de projetos e de modelos de organizao e gesto.
4. Resultados e discusso
Arcabouo conceitual
A figura representa o arcabouo conceitual construdo para este artigo, ilustrando de maneira simplificada a interao de diversos fatores que podem
trazer implicaes para a efetividade dos projetos sociais das empresas no
Brasil e para a sustentabilidade.
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
771
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
Arcabouo conceitual
Embora reconhea a complexidade de tais interaes, este artigo concentra-se nos fatores situados na regio alaranjada da figura, ou seja, nos modelos
de gesto adotados, na sua adequao s caractersticas dos projetos e nas conseqncias para a efetividade e sua contribuio para a sustentabilidade. Tambm abrange, de forma menos intensa, os outros fatores, j que alguns podem
ser considerados elementos constitutivos dos prprios projetos, pois projetos s
existem porque tambm h populaes situadas em um contexto histrico, cultural, ambiental e socioeconmico especfico, com necessidades a serem satisfeitas. Os projetos no se situam nesse contexto de forma isolada. Provavelmente
existiro outras aes e instituies que tencionam atacar os mesmos problemas, de forma direta ou indireta, articuladas ou no com o projeto em questo.
Ademais, so de fundamental relevncia a atuao do poder pblico e a forma
de interao do projeto com suas diversas esferas.
Portanto, o projeto, representado pelo crculo central na figura, resultante de uma rede de relacionamentos entre a principal empresa fomentadora, as empresas e instituies parceiras no projeto (organizaes sem fins
lucrativos, rgos e instncias governamentais), a comunidade ou comunidades envolvidas ou beneficiadas e outros projetos que tenham aes complementares s suas. Todas essas relaes acontecem em um contexto mais
amplo o macroambiente.
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
772
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
A partir da reviso da literatura, parte-se do pressuposto que a combinao dos fatores macroambientais, comunitrios e organizacionais (relacionados s instituies envolvidas no projeto) influencia a caracterizao do
projeto aqui denominada tipo de projeto e o modelo de gesto adotado, que, por sua vez, tambm influenciam-se mutuamente. Da o fato de sua
relao ser representada por uma seta de mo-dupla.
O arcabouo tambm sugere que o tipo de projeto e o modelo de gesto
adotado (consideradas as variveis principais) influenciam de alguma forma a
efetividade, a satisfao dos stakeholders e a sustentabilidade dos projetos (variveis de desempenho), embora no sejam suficientes para explicar o desempenho do projeto em sua totalidade. O desempenho tambm sofre influncia
indireta das condies de contorno representadas na figura.
Construtos adotados na pesquisa, dimenses constitutivas
e indicadores
Para que fosse possvel aplicar o arcabouo a pesquisas empricas e a anlises
gerenciais, foi necessrio um detalhamento, especificando-se suas dimenses, construtos e indicadores, como mostra o quadro 1.
Para o conceito de projeto social conceito central do artigo adotou-se a seguinte definio, construda a partir das definies apresentadas
por Nogueira (1998) e Cepal (1995, 1998):
Um projeto social um conjunto de aes que tm por propsito provocar impactos sobre indivduos ou grupos denominados populao-alvo
ou beneficirios, que compreendem uma determinada destinao de recursos e responsabilidades em um perodo de tempo determinado.
Os construtos tipo de projeto e modelo de organizao e gesto tomaram como base os trabalhos de Nogueira (1998) e Cepal (1998), com adaptaes, em funo de sua adequao ao objeto deste artigo. O construto
configurao institucional, por sua vez, foi uma construo dos autores e est
representado na figura pelo conjunto das formas em preto. Para o construto
efetividade, adota-se a sugesto da Cepal (1998), considerarmos que seja a
mais abrangente e de mais fcil compreenso. O construto satisfao dos
stakeholders foi uma construo dos autores, baseada na literatura sobre teoria dos stakeholders e na gesto estratgica voltada para eles, em que a satisfao dos diversos pblicos de interesse considerada medida-chave de
desempenho.
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
773
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
Quadro 1
Construtos adotados na pesquisa e suas definies operacionais
Construto
Definio operacional
Tipo de projeto
Caracterizao do projeto, de acordo com sua rea de atuao, caractersticas
distintivas e grau de homogeneidade da populao-alvo, seu objetivo principal,
nvel de impacto que pretende causar, produtos resultantes e grau de
padronizao destes produtos, tipo e quantidade de recursos utilizados e o grau
de rotinizao e de complexidade das tarefas executadas.
Modelo de
organizao
e gesto
Modelo adotado para gerenciar o projeto, caracterizado pela orientao bsica
seguida, formas e critrios de coordenao e controle, forma de organizao do
trabalho, estrutura organizacional adotada, conhecimento necessrio e
capacitao da equipe do projeto, grau de flexibilidade, forma de liderana e grau
de participao dos beneficirios e da equipe operacional do projeto.
Configurao
institucional
Configurao formada pela empresa ou empresas patrocinadoras do projeto,
instituio operadora do projeto, instituies parceiras, articulao com o poder
pblico e outros projetos ou aes sociais que tenham aes complementares ao
projeto.
Efetividade
Medida de desempenho do projeto, desmembrada em eficcia (grau em que se
atingem os objetivos do projeto em um perodo de tempo, com a qualidade
esperada) e eficincia (relao entre os resultados do projeto e os recursos
utilizados).
Sustentabilidade
Capacidade de continuidade do projeto e de seus resultados ao longo do tempo,
influenciada por fatores financeiros, sociais, institucionais e de governabilidade.
Satisfao dos
stakeholders
Grau de satisfao dos diversos pblicos afetados pelo projeto, com relao aos
resultados obtidos: populao-alvo, comunidade local, equipe do projeto,
empregados das empresas, instituies parceiras, poder pblico e outros
pblicos considerados relevantes.
Para o construto sustentabilidade, a partir dos fatores utilizados pelo
Banco Mundial para avaliar a sustentabilidade de suas iniciativas de desenvolvimento, foi feito um recorte que inclui apenas fatores que, de alguma forma, sejam influenciados pela combinao entre o tipo de projeto, o modelo
de gesto adotado e a configurao institucional do projeto. O intuito aqui
no medir a sustentabilidade do projeto de forma absoluta, mas captar indcios da contribuio dos fatores pesquisados sustentabilidade.
Nos quadros 2 a 7 so apresentados os construtos utilizados no arcabouo conceitual, desmembrados em suas dimenses constitutivas e indicadores. So apresentados tambm os valores e categorias que cada indicador
pode assumir. A especificao de dimenses para cada construto uma cons-
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
774
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
truo dos autores, a partir da literatura investigada, da experincia prtica e
de estudos anteriores a respeito do tema. No caso dos construtos tipo de projeto e modelo de gesto, as dimenses so, em sua maioria, adaptaes das
sugestes de Nogueira (1998) e Cepal (1998).
As dimenses relativas ao construto configurao institucional devem
ser analisadas de forma qualitativa. Os resultados obtidos devem ser cruzados com os dos demais construtos.
O construto tipo de projeto composto por dimenses que necessitam
ser analisadas qualitativa e quantitativamente. Recomendamos que seja efetuada a anlise da adequao entre os construtos tipo de projeto e modelo de gesto, conforme os quadros 8 e 9. De acordo com a literatura investigada, aos
tipos 1, 2, 3 e 4 de projetos (quadro 8) devem corresponder os modelos burocrtico, clientelar, adhocrtico e de integrao homognea, respectivamente (quadro 9). importante ressaltar que no se deve esperar que tal correspondncia
seja perfeita, mas que haja algum grau de correlao entre os dois construtos
para um mesmo projeto, o que denotaria coerncia na gesto. Por fim, os resultados dos construtos efetividade, satisfao dos stakeholders e sustentabilidade devem ser cruzados com os resultados dos demais construtos e com a anlise
de adequao entre os tipos de projeto e os modelos de gesto detectados.
Quadro 2
Configurao institucional: dimenses e indicadores
Dimenses
Indicadores
Empresa ou empresas
patrocinadoras do projeto
Razo social
Principal setor de atuao
Valores/Categorias
g
g
g
g
g
Grau de envolvimento da(s)
empresa(s) no projeto
g
g
g
Indstria
Comrcio
Prestao de servios
Intermediao financeira
Outro
Apenas doao de recursos
Gesto dos projetos
Incentivo atuao voluntria
de seus empregados no
projeto
Outro
continua
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
775
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
Dimenses
Indicadores
Instituio operadora do projeto
Razo social
Tipo
Valores/Categorias
g
g
g
g
Instituies parceiras
Razo social
Tipo
g
g
g
g
Articulao com o poder pblico
rgo/Instituio governamental
Empresa privada
Fundao
ONG
rgo/Instituio
governamental (municipal,
estadual, federal)
Municipal
Estadual
Federal
Objetivo da articulao
Motivo da articulao
Descrio dos projetos
g
g
Nome
Objetivo
Instituio que operacionaliza
Motivo da articulao
g
g
Articulao com outros projetos/
aes sociais
Empresa privada
Fundao
ONG
rgo/Instituio
governamental (municipal,
estadual, federal)
Objetivos da articulao
Quadro 3
Tipo de projeto: dimenses e indicadores
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
rea de atuao
Objeto de atuao do projeto
Educao
g
g
Cultura
Meio ambiente
Sade
g
g
Esportes
Gerao de renda
Assistncia social
Outro
continua
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
776
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
Populao-alvo
Caractersticas distintivas
grupo a que pertence
g
g
g
g
g
g
g
g
Grau de homogeneidade das
caractersticas relevantes
para o projeto
Objetivo principal
Descrio do objetivo
Tipo de objetivo
g
g
g
g
g
g
Impacto
Nvel de impacto que pretende
causar
Produtos resultantes
g
g
Tipo e quantidade de recursos
destinados ao projeto pelas
instituies envolvidas
g
g
g
g
Atividades e tarefas
Grau de rotinizao
g
g
g
Grau de complexidade
g
g
RA P
Homognea
Heterognea
Satisfazer necessidades
bsicas
Modificar condies de vida
Prevenir ou retardar a
deteriorao do bem-estar
pessoal ou de sade
Construir capacidades
Introduzir mudanas de
comportamentos, atitudes ou
valores
Outro
Profundo (alterar atributos
pessoais dos beneficirios)
Superficial (no alterar
atributos pessoais dos
beneficirios)
Descrio dos produtos
Grau de padronizao dos produtos
Recursos
Crianas
Adolescentes e/ou jovens
Adultos
Famlias
Terceira idade
Mulheres
Minorias tnicas
Outros
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
Padronizados
No-padronizados
(customizados)
Fsicos
Financeiros
Humanos
Tecnolgicos
Rotineiras e repetitivas
Pouco rotineiras
Com constante renovao
Simples
Complexas
777
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
Quadro 4
Modelo de organizao e gesto: dimenses e indicadores
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
Orientao da gesto
Para oferta/para demanda
g
g
g
g
Controle e medio de
desempenho
Mecanismos de controle
g
g
g
g
Critrio bsico para medio
de desempenho
g
g
g
g
Gesto orientada para a oferta
Gesto influenciada pela oferta
Gesto influenciada pela
demanda
Gesto orientada para
a demanda
Superviso direta
e hierrquica
Auto-superviso e autocontrole
de grupos de trabalho
Sistemas de controle e gesto
Padres de servio e satisfao
do beneficirio
Eficcia e eficincia
Aprendizagem
Coordenao e gesto de redes
Satisfao dos stakeholders
Indicadores de resultado
Organizao do trabalho
Estmulo ao trabalho em equipe
g
g
g
Mtodos de trabalho
g
g
g
Estrutura
Departamentalizao
g
g
g
g
Equipe do projeto
Conhecimento necessrio
g
g
g
Baixo
Moderado
Alto
Programveis
No-programveis
Mistos
Funcional
Equipes de trabalho, matricial
Divises territoriais
Por produto/por cliente
Especializado
Generalizado
Intermedirio
continua
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
778
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
Equipe do projeto
Comprometimento das pessoas
com os objetivos organizacionais
g
g
g
Interesse da gesto pela
capacitao das pessoas
g
g
g
Flexibilidade e percepo
do contexto
Propenso a mudanas
g
g
g
Contexto
g
g
Liderana
Estilo
g
g
g
Processo de deciso
g
g
Canal para resoluo de conflitos
g
g
g
Participao dos beneficirios
(populao-alvo)
Na gerao de idias para
o projeto
g
g
g
Na definio dos objetivos do
projeto
g
g
g
Na concepo/desenho do projeto
g
g
g
Baixo
Moderado
Alto
Baixo
Moderado
Alto
Baixa (estvel)
Alta (dinmica)
Intermediria
Estvel e previsvel
Estvel, mas com
aleatoriedade
Turbulento, incerto
Autocrtica
Participativa
Mista
Centralizado
Descentralizado
Hierarquia
Equipes de trabalho
Comit
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
continua
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
779
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
Participao dos beneficirios
(populao-alvo)
Na anlise e aprovao do projeto
g
g
g
Na execuo/implementao
do projeto
g
g
g
Na avaliao dos resultados
do projeto
g
g
g
Instncia mxima de
participao da
populao-alvo
g
g
g
Participao da equipe
operacional do projeto
Na gerao de idias para o
projeto
g
g
g
Na definio dos objetivos
do projeto
g
g
g
Na concepo/desenho
do projeto
g
g
g
Na anlise e aprovao
do projeto
g
g
g
Na execuo/implementao
do projeto
g
g
g
Na avaliao dos resultados
do projeto
g
g
g
RA P
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
Compartilhamento
de informaes
Consulta
Tomada de deciso
Ao
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
Alta
Varivel
Baixa
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
780
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
Quadro 5
Efetividade: dimenses e indicadores
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
Eficcia
Grau de atingimento de objetivos
g
g
g
Grau de cumprimento de prazos
g
g
g
Nvel de qualidade dos produtos
g
g
g
Eficincia
Alto
Mdio
Baixo
Alto
Mdio
Baixo
Acima do esperado
Conforme esperado
Abaixo do esperado
Resultados alcanados
(para a populao-alvo)
Resultados alcanados
(para os demais stakeholders)
Percepo sobre a relao entre
os resultados do projeto e os recursos
utilizados
Quadro 6
Sustentabilidade: dimenses e indicadores
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
Fatores financeiros
Grau de dependncia do projeto
com relao s suas atuais fontes
de financiamento
Probabilidade de continuidade das
atuais fontes de financiamento
g
g
g
g
Baixa
Mdia
Alta
Baixa
Mdia
Alta
continua
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
781
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
Dimenses
Indicadores
Valores/Categorias
Capacidade do projeto de gerar receitas
para sua manuteno
g
g
g
Capacidade de captao de recursos de
outras fontes para o projeto
g
g
g
Fatores sociais
Baixa
Mdia
Alta
Baixa
Mdia
Alta
Nvel de participao dos beneficirios, g Alto
determinado pela dimenso participao, g Mdio
do construto modelo de gesto
g Baixo
Fatores institucionais e de
governabilidade
Classificao da populao-alvo
com relao ao nvel de
apropriao do projeto
Probabilidade de continuidade das
parcerias para desenvolvimento e
implementao do projeto
Grau de apropriao do projeto
por parte do poder pblico
g
g
g
g
g
g
Vulnerabilidade do projeto a mudanas
polticas
g
g
g
Beneficirios
Clientes
Donos/gestores
Alta
Mdia
Baixa
Alto
Mdio
Baixo
Alta
Mdia
Baixa
Quadro 7
Satisfao dos stakeholders: indicadores
Dimenso
Indicadores
Valores/Categorias
Satisfao dos pblicos
afetados com os resultados
do projeto
Satisfao da populao-alvo
g
g
g
Satisfao da comunidade local
g
g
g
Baixa
Mdia
Alta
Baixa
Mdia
Alta
continua
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
782
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
Dimenso
Indicadores
Valores/Categorias
Satisfao da equipe
do projeto
g
g
g
Satisfao dos empregados das
empresas envolvidas
g
g
g
Satisfao das instituies
parceiras
g
g
g
Satisfao do poder pblico
g
g
g
Satisfao de outros pblicos
considerados relevantes
g
g
g
Baixa
Mdia
Alta
Baixa
Mdia
Alta
Baixa
Mdia
Alta
Baixa
Mdia
Alta
Baixa
Mdia
Alta
Quadro 8
Tipologia de projetos segundo as dimenses da pesquisa
e seus indicadores
Correspondncia entre os valores/categorias e o tipo de projeto
Dimenses
Indicadores
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Homognea
Populaoalvo
Grau de
Homognea
homogeneidade
das caractersticas
relevantes
para o projeto
Heterognea
Heterognea
Objetivo
principal
Tipo de
objetivo
Prevenir a
deteriorao
do bem-estar
pessoal ou
introduzir
mudanas de
comportamentos,
atitudes ou
valores
Introduzir
Construir
capacidades
mudanas de
comportamentos,
atitudes ou
valores
Satisfazer
necessidades
bsicas ou
modificar
condies
de vida
continua
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
783
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
Correspondncia entre os valores/categorias e o tipo de projeto
Dimenses
Indicadores
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Impacto
Nvel de
impacto que
pretende
causar
Superficial
Profundo
Profundo
Superficial
Produtos
resultantes
Grau de
padronizao
dos produtos
Padronizados
Padronizados
Nopadronizados
Nopadronizados
Atividades e
tarefas
Grau de
rotinizao
Rotineiras e
repetitivas
Rotineiras e
repetitivas
Com constante
renovao
Pouco rotineiras
Grau de
complexidade
Simples
Complexas
Complexas
Relativamente
simples
Fonte: Baseado na tipologia de Nogueira (1998).
Quadro 9
Tipologia de modelos de gesto segundo as dimenses
da pesquisa e seus indicadores
Correspondncia entre os valores/categorias e o tipo de projeto
Dimenses
Indicadores
Burocrtico
Clientelar
Adhocrtico
Integrao
homognea
Gesto
influenciada
pela oferta
Orientao
da gesto
Para oferta/para
demanda
Gesto
orientada
para a oferta
Gesto
orientada
para a
demanda
Gesto
influenciada
pela demanda
Controle e
medio de
desempenho
Mecanismos
de controle
Superviso
direta e
hierrquica
Padres de
servio e
satisfao do
beneficirio
Auto-superviso Sistemas de
e autocontrole controle e
de grupos de
gesto
trabalho
Critrio bsico
para medio
de desempenho
Eficcia e
eficincia
Satisfao
dos
stakeholders
Aprendizagem
Coordenao
e gesto
de redes
Estmulo ao
trabalho em
equipe
Baixo
Mdio
Alto
Mdio
Organizao
do trabalho
continua
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
784
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
Correspondncia entre os valores/categorias e o tipo de projeto
Dimenses
Indicadores
Mtodos de
trabalho
Integrao
homognea
Burocrtico
Clientelar
Adhocrtico
Programveis
Mistos
Noprogramveis
Mistos
Estrutura
Departamentalizao Funcional
Por produto/
por cliente
Equipes de
trabalho,
matricial
Divises
territoriais e/ou
funcionais
Equipe do
projeto
Conhecimento
necessrio
Especializado
Intermedirio
Generalizado
Intermedirio
Comprometimento
das pessoas
com os objetivos
Baixo
Moderado
Alto
Moderado
Interesse da gesto
pela capacitao
das pessoas
Baixo
Alto
Alto
Moderado
Propenso a
mudanas
Baixa
Intermediria
Alta
Intermediria
Contexto
Estvel e
previsvel
Estvel,
mas com
aleatoriedade
Turbulento,
incerto
Estvel,
mas com
aleatoriedade
Estilo
Autocrtica
Mista
Participativa
Mista
Processo de
deciso
Centralizado
Varivel
Descentralizado Varivel
Canal para
resoluo de
conflitos
Hierarquia
Comit
Equipes de
trabalho
Comit
Da populao-alvo
Baixa
Varivel
Alta
Varivel
Da equipe
operacional
do projeto
Baixa
Varivel
Alta
Varivel
Flexibilidade
e percepo
do contexto
Liderana
Participao
Fonte: Baseado na tipologia de Cepal (1998).
Aplicaes do arcabouo conceitual
Uma das aplicaes do arcabouo servir de lista de referncia para a confeco de instrumentos de coleta de dados e anlise de resultados de pesquisas
empricas sobre projetos sociais, das seguintes formas:
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
785
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
questionrios estruturados recomendamos que sejam formuladas questes para cada um dos indicadores que compem as dimenses constitutivas dos construtos;
roteiros para entrevistas em profundidade para uma compreenso mais
profunda das questes pertinentes, que no podem ser captadas apenas
por meio de questionrio. Assim, podem ser mais bem exploradas as relaes entre os fatores contemplados pelo arcabouo (representadas pelas
setas na figura) e suas implicaes para a efetividade, sustentabilidade e
satisfao dos stakeholders;
protocolos para estudos de caso o arcabouo poder, adicionalmente,
orientar o desenvolvimento de protocolos para estudos de caso simples ou
mltiplos, orientando o tipo de dados que deve ser coletado de diferentes
fontes de evidncia, a fim de se obter uma triangulao de informaes,
para uma maior confiabilidade dos resultados.
O arcabouo tambm poder ser utilizado como ferramenta gerencial
por gestores de projetos sociais das empresas e instituies parceiras. O detalhamento dos construtos, dimenses e indicadores oferece a possibilidade de
analisar a adequao entre o modelo de gesto adotado e as caractersticas do
projeto, bem como as implicaes dos diversos outros fatores e de suas interrelaes para as medidas de desempenho do projeto efetividade, sustentabilidade e satisfao dos stakeholders. Esse tipo de anlise permite a identificao de hiatos, inconsistncias e pontos de melhoria a serem trabalhados.
Vale ressaltar que a anlise dos construtos configurao institucional,
tipo de projeto e modelo de gesto deve ser feita de forma relacional, ou seja,
analisando-se sua combinao, adequao e congruncia. Para o construto efetividade, desejvel que as dimenses assumam os valores mais favorveis, assinalados em negrito no quadro 5. A anlise da dimenso eficincia deve ser
feita relativamente aos objetivos definidos para o projeto. Para satisfao dos
stakeholders, quanto mais altos os valores, melhor.
O construto sustentabilidade deve ser analisado com cautela. De forma
geral, desejvel que suas dimenses assumam os valores assinalados em negrito no quadro 6. No entanto, a sustentabilidade pode perder sua importncia em
projetos pontuais, que no tenham como objetivo causar impactos profundos.
Percebemos que a participao dos beneficirios , ao mesmo tempo,
uma dimenso do modelo de gesto e componente da dimenso social da sustentabilidade. Deve ser feita uma anlise cuidadosa do grau de participao
com relao ao tipo de projeto e s mudanas que se pretende alcanar com o
mesmo. Quanto mais profundo o impacto e maiores as mudanas pretendidas, maior a necessidade de participao da populao. Assim, pode-se questionar e analisar os verdadeiros objetivos do projeto.
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
786
C ou t i nho , Ma c ed o- Soa re s e S il va
5. Consideraes finais
Este artigo teve como objetivo apresentar o arcabouo conceitual desenvolvido como parte de uma pesquisa com vistas investigao dos modelos de
gesto adotados por empresas, no Brasil na conduo de seus projetos sociais.
O arcabouo conceitual apresentado no tem a pretenso de ser exaustivo, mas de contribuir tanto para a rea de pesquisa de RSC, mostrando um
caminho possvel de ser trilhado nas pesquisas de campo sobre investimentos
sociais de empresas, quanto para sua prtica no dia-a-dia das empresas, ajudando na anlise da adequao entre os diversos fatores intervenientes e de
suas implicaes para o desempenho do projeto.
Esperamos que as pesquisas desenvolvidas com o auxlio deste artigo
possam enriquecer o prprio arcabouo, por meio da deteco de outros possveis construtos a serem investigados, da discusso e validao das dimenses propostas, da proposio de novas dimenses e indicadores e de uma
melhor compreenso das relaes entre seus elementos constitutivos.
Referncias bibliogrficas
BID/ILPES. Gestin y control de proyectos Programa de Capacitacin BID/Ilpes. agosto
2000. Disponvel em: <www.eclac.org/publicaciones>. Acesso em: 20 nov. 2004.
CEATS-USP. Estratgias de empresas no Brasil: atuao social e voluntariado. So Paulo:
Programa Voluntrios, 1999.
. Alianas estratgicas intersetoriais para atuao social. Disponvel em: <www.fia.
com.br/CEATS/publica.php>. Acesso em: 18 mar. 2005.
CEPAL (COMISSO ECONMICA PARA AMRICA LATINA E CARIBE). Manual de formulao e avaliao de projetos sociais. Cepal, 1995.
. Gestin de programas sociales em Amrica Latina. Srie Polticas Sociales, Santiago de Chile: Cepal, v. 1, n. 25, 1998.
COHEN, Ernesto; FRANCO, Rolando. Avaliao de projetos sociais. Petrpolis: Vozes, 1998.
COSTA, Frederico L.; CASTANHAR, Jos Cezar. Avaliao de programas pblicos: desafios conceituais e metodolgicos. Revista de Administrao Pblica, v. 37, n. 5, set./out.
2003.
FISCHER, Rosa M. et al. Monitoramento de projetos sociais: um desafio para as alianas
intersetoriais. In: ENANPAD 2003. Anais... Atibaia, set. 2003. CD-ROM.
RA P
Rio d e Janei ro 40 (5 ): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
787
Pr ojetos So ciai s de Empr esa s n o B rasi l
GIFE. Censo retrata parcela do investimento social privado no Brasil. Disponvel em:
<www.gife.org.br>. Acesso em: 10 jun. 2001.
IPEA. Bondade ou interesse? Como e porque as empresas atuam no social. Set. 2001.
. A iniciativa privada e o esprito pblico: a ao social das empresas privadas no Brasil. Informaes imprensa. Jun. 2002.
ISMERIO, Marcia Gomes. Desenvolvimento sustentvel: o social como desafio na contemporaneidade. 1999. Dissertao (Mestrado) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de Psicologia, Programa Eicos, Ctedra Unesco de Desenvolvimento Durvel, Rio de
Janeiro, 1999.
KERLINGER, Fred N. Foundations of behavioral research. Holt, Reinhart and Winston,
1973.
MOKATE, Karen. Eficcia, eficiencia, equidad y sostenibilidad: qu queremos decir? Banco
Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (Indes),
2002.
NARAYAN, Deepa. Designing community based development. Social Development Papers,
The World Bank, n. 7, June 1995.
NOGUEIRA, Roberto Martnez. Los proyectos sociales: de la certeza omnipotente al comportamiento estratgico. Santiago de Chile: Cepal, 1998.
SACHS, Ignacy. Social sustainability and whole development: exploring the dimensions of
sustainable development. In: BECKER, Egon; JAHN, Thomas (Orgs.). Sustainability and social sciences: a cross-disciplinary approach to integrating environmental considerations into
theoretical reorientation. Zed Books, 2000.
TANKERSLEY, Ady Marina. Meio ambiente e ao empresarial numa abordagem integradora. 1994. Dissertao (Mestrado) Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto de
Psicologia, Programa Eicos, Ctedra Unesco de Desenvolvimento Durvel. Rio de Janeiro,
1994.
THOMPSON, Andres A.; TANCREDI, Francisco B.; KISIL, Marcos. New partnerships for social development: business and the third sector. International Journal of Public Administration, p. 1359-1380, May/Aug., 2000.
RA P
R io de Janeir o 4 0(5): 76 3-87 , Set./ Out. 20 06
Você também pode gostar
- Romantismo No PiauíDocumento37 páginasRomantismo No PiauíWilma Avelino de Carvalho100% (1)
- Teste Ingles 2Documento1 páginaTeste Ingles 2Rafael MesseriAinda não há avaliações
- Os Modelos Educacionais Na Aprendizagem On-Line - José Manuel MoranDocumento7 páginasOs Modelos Educacionais Na Aprendizagem On-Line - José Manuel Moranjapasantos103050Ainda não há avaliações
- Correção PalográficoDocumento3 páginasCorreção PalográficoAdailton Souza100% (1)
- 2017 Maciel Et Al Aval PGAF EfettividadeDocumento28 páginas2017 Maciel Et Al Aval PGAF EfettividademarcosgmacielAinda não há avaliações
- Maciel Et Al 2018b Discurso SaudeDocumento9 páginasMaciel Et Al 2018b Discurso SaudemarcosgmacielAinda não há avaliações
- Critica Elogio Ao Ocio RusselDocumento7 páginasCritica Elogio Ao Ocio RusselmarcosgmacielAinda não há avaliações
- Almeida Filho 1991 EpidemiologiaDocumento2 páginasAlmeida Filho 1991 EpidemiologiamarcosgmacielAinda não há avaliações
- ARQUIVO ARTIGOtelecatchDANIELLAPASSOSDocumento12 páginasARQUIVO ARTIGOtelecatchDANIELLAPASSOSmarcosgmacielAinda não há avaliações
- Moura Eriberto JoséLessadeDocumento125 páginasMoura Eriberto JoséLessademarcosgmacielAinda não há avaliações
- Neves 1996 Pesq QualiDocumento5 páginasNeves 1996 Pesq QualimarcosgmacielAinda não há avaliações
- Coltro 2000 Fenomenologia 1Documento9 páginasColtro 2000 Fenomenologia 1marcosgmacielAinda não há avaliações
- Psicologia Como CiênciaDocumento9 páginasPsicologia Como CiênciamairrconAinda não há avaliações
- Anais Do Congresso 2 INTERUNIESPDocumento483 páginasAnais Do Congresso 2 INTERUNIESPFlávia BertaciAinda não há avaliações
- Ebook Gratuito - Leitura Fria 2016 by KairosDocumento6 páginasEbook Gratuito - Leitura Fria 2016 by KairosMagno HenriqueAinda não há avaliações
- Ebook 5 Dicas Aline Castelo Branco 2Documento7 páginasEbook 5 Dicas Aline Castelo Branco 2Hugo MonergismoAinda não há avaliações
- AssociaÇÃo EspÍrita Vó BarbinaDocumento4 páginasAssociaÇÃo EspÍrita Vó BarbinaGersonFlorizCostaJr.Ainda não há avaliações
- Avaliação de SociologiaDocumento1 páginaAvaliação de SociologiaSuelen Cristine FruneauxAinda não há avaliações
- Fobia EscolarDocumento2 páginasFobia Escolargabrielamfenner3496Ainda não há avaliações
- Cap. 16 - Item 6 - PARÁBOLA DOS TALENTOSDocumento34 páginasCap. 16 - Item 6 - PARÁBOLA DOS TALENTOSJuliano Carvalho50% (2)
- Anexo - I - Uftm Sisu 2016Documento5 páginasAnexo - I - Uftm Sisu 2016the_eliseuAinda não há avaliações
- New MicrOIHENDocumento5 páginasNew MicrOIHENmaria ferreiraAinda não há avaliações
- Trab Univ Nilton Lins Jefferson Eng. CivilDocumento5 páginasTrab Univ Nilton Lins Jefferson Eng. CivilmicrocampartsAinda não há avaliações
- Sobre Os Diferentes Métodos de TraduzirDocumento30 páginasSobre Os Diferentes Métodos de TraduzirsilvamannyAinda não há avaliações
- Fraud Case Seen As A Red Flag For Psychology ResearchDocumento4 páginasFraud Case Seen As A Red Flag For Psychology ResearchJoséFernandoAinda não há avaliações
- Juventudes Violencias e Vida Nas Cidades PDFDocumento322 páginasJuventudes Violencias e Vida Nas Cidades PDFMárcia Esteves De CalazansAinda não há avaliações
- Contos - o Andarilho e o BorracheiroDocumento3 páginasContos - o Andarilho e o Borracheiropaulo44gAinda não há avaliações
- RunasDocumento16 páginasRunasmixirica100% (1)
- Laudo Ergonomico DinarteDocumento14 páginasLaudo Ergonomico DinarteDinarte Júnior100% (1)
- Arquétipo Grande MãeDocumento10 páginasArquétipo Grande MãeDiogo MendonçaAinda não há avaliações
- RELIGIÃO E CIÊNCIA o Porquê Do DiálogoDocumento6 páginasRELIGIÃO E CIÊNCIA o Porquê Do DiálogoJaciSouzaCandiottoAinda não há avaliações
- A Recíproca Relação Entre Amizade e Justiça em Face Da Felicidade Na Filosofia Moral PeripatéticaDocumento4 páginasA Recíproca Relação Entre Amizade e Justiça em Face Da Felicidade Na Filosofia Moral PeripatéticaAdrian SilvaAinda não há avaliações
- Calculos Pelo Metodo de NIOSH-Exercicios para AlunosDocumento22 páginasCalculos Pelo Metodo de NIOSH-Exercicios para AlunosRoberto Hiroyuki Murayama100% (7)
- Contratación PortugalDocumento9 páginasContratación PortugalAlvaro Arellano LopezAinda não há avaliações
- Aula1 O MagoDocumento4 páginasAula1 O MagoSofia BerberanAinda não há avaliações
- 12Documento797 páginas12Anonymous u80JzlozSDAinda não há avaliações
- Análise Da Incapacidade Física em Portadores de BursiteDocumento8 páginasAnálise Da Incapacidade Física em Portadores de BursitejonaslucidioAinda não há avaliações
- Osho - O Manifesto Zen - Liberdade de Si MesmoDocumento192 páginasOsho - O Manifesto Zen - Liberdade de Si MesmoandreAinda não há avaliações