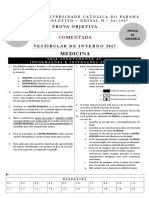Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Autogestão: Economia Solidária e Utopia
Autogestão: Economia Solidária e Utopia
Enviado por
raffaecDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Autogestão: Economia Solidária e Utopia
Autogestão: Economia Solidária e Utopia
Enviado por
raffaecDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.
org/otraeconomia
Autogesto: Economia Solidria e Utopia
Cludio Nascimento
professor da Escola Sindical Sul da CUT e tem pesquisado e escrito sobre
a autogesto por muitos anos. Escreveu, entre outros, A questo do socialismo:
da comuna de Paris comuna de Gdansk (CEDAC, 1986), Rosa Luxemburgo e
Solidarnsc (Editora Loyola, 1988) e, com Michael Lewy, Marxismo e socialismo
na Amrica Latina (CECA-CEDAC, 1989). E-mail: clauan@matrix.com.br
O prprio da autogesto de ter sido um movimento social antes de ser
uma doutrina
P. Rosanvallon
INTRODUO
Rosanvallon
(1976)
assinala
que
falar
da
autogesto primeiro se
interrogar sobre o destino de
uma palavra. Uma palavra
nova: apenas h 15 anos fez
sua apario em nossa lngua;
apenas se imps a partir de
1968. Uma palavra no sentido
etimolgico
restrito:
a
autogesto a gesto por si
mesmo.
Foto: Rita Barreto
Se surgiu na Frana para identificar a experincia iugoslava, rapidamente
se emancipou desta origem para qualificar tudo o que se fazia e se buscava aps
1968. Rosanvallon chega mesmo a falar de linguagens autogestionrias Ele
apresenta 5 possibilidades: Tecnocrtica, libertria, comunista, conselhista e
humanista.
Em Chaves para Autogesto, seus autores Alain Guilerm e Yvon Bourdet
(1975), falando sobre o abuso da palavra, afirmam que a palavra autogestion
relativamente recente, tendo aparecido na lngua francesa no inicio dos anos
60. Explicam que a palavra francesa autogestion no se encontra nos
dicionrios ou nas enciclopdias anteriores a 1960. Ela traduo literal da
palavra servocroata samoupravlje (samo sendo o equivalente eslavo do
prefixo grego auto, e upravlje significando aproximativamente gesto).
Bourdet, em sua tentativa de sistematizar a relao Marx-Autogesto,
afirma que o fato da autogesto s ter aparecido recentemente tem seu
significado. Isto testemunha, de uma parte, a ignorncia do passado, e podemos
entender porque certos anarquistas, fourieristas ou proudhonianos, por exemplo,
27
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
se irritam por que muitos conselhistas ou autogestionarios pensam ter achado
algo novo com uma nova palavra.
A palavra autogesto foi introduzida na Frana, para designar a
experincia poltico-economico-social da Iugoslvia de Tito, em ruptura com o
stalinismo, esclarecem os dois autores citados.
Em 1980, as edies CLAS (Cuestiones Actuales Del Socialismo) de
Belgrado, publicaram um glossrio sobre Autogesto Socialista Iugoslava.
Noes Fundamentais. Nele encontramos uma definio da Autogesto
Socialista: A autogesto , antes de tudo, uma relao socioeconmica entre os
homens que se funda no principio da distribuio segundo o trabalho e no sobre
a base do capital, dos meios de produo. A autogesto , de um modo
eloqente, uma categoria socialista. A mesma s pode desenvolver-se no campo
da propriedade social, isto , em relaes de propriedade em que os meios de
produo e o capital social no so propriedade privada do capitalista nem de
grupos de trabalhadores de determinadas empresas, nem objeto de gesto
monoplica do aparato burocrtico ou tecnocrtico do Estado.
A mesma editora, tambm em 1980, publicou uma obra intitulada A
Autogesto Socialista na Yugoslavia.1950-1980.Documentos. Em ensaio sobre
O sistema da autogesto na Yugoslavia, o principal terico iugoslavo, Edvard
Kardelj, assim se expressa sobre A idia da Autogesto: A autogesto no
uma inveno da teoria e da pratica iugoslavas, segundo nos atribuem
incorretamente, alguns como merecimento, outros como pecado. A idia da
autogesto to antiga como a idia do humanismo e, particularmente, como o
movimento operrio internacional, a historia de sua luta de classes e a historia da
pratica socialista. A mesma resultado de aspiraes permanentes do homem
em pr da liberdade e da livre criao, pelo domnio das leis objetivas da
natureza e da sociedade, por uma vida melhor. As idias e aspiraes
autogestionrias se expressaram de distintos modos no mundo, em numerosas
lutas da classe operaria e de homens e movimentos progressistas em pr da
libertao do trabalho e do homem, e em todas as revolues socialistas at o
presente(...) A autogesto um processo revolucionrio de transformao social
que s pode se expressar em uma profunda revoluo socialista e popular. E
assim foi nossa revoluo. A aspirao autogesto imanente a todo
movimento socialista, e sem autogesto no existe sequer socialismo.
Frank Giorgi (2003) afirma que sob as mais diversas formulaes,
encontramos na escrita de vrios tericos da autogesto os mesmos elementos
de base: a radicalidade da ambio, que se pretende herdeira do projeto
revolucionrio de libertao humana; o realismo prtico da dinmica; a recusa
em separar os meios e os fins, a via e a sada. Ela , segundo Victor Fay,
utopia realista.
Sem dvidas, o termo autogesto relativamente novo. Contudo, se a
PALAVRA recente, a IDIA to antiga quanto o prprio movimento operrio,
remontando aos incios do sculo XIX. Sob palavras distintas e doutrinas
diferentes, reencontramos a mesma aspirao na qual se inscreve o projeto da
autogesto. A autogesto imanente ao prprio movimento operrio e a seu
movimento de emancipao.
Todavia, esta constante nas lutas de emancipao dos trabalhadores
constitui uma herana que foi, por varias razes, esquecida. Aqui cabe
totalmente a citao de Walter Benjamin (1985): Em cada poca, tem-se outra
vez de tentar o resgate da tradio contra o conformismo, que dela quer se
apossar. Se o inimigo vencer, tambm os mortos estaro em perigo.
Neste sentido, as diversas EXPERINCIAS de concretizao da
autogesto, expressam as vrias formas e sentidos com que ela aparece em
determinados momentos crticos da histria dos trabalhadores. Portanto, a
28
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
histria destas experincias fundamental para desenvolvermos o contedo do
projeto socialista autogestionrio.
1. Os caminhos e as vias da autogesto
A autogesto na histria assume caminhos diversos. Georges Gurvitch
(1966) (um dos pioneiros do estudo da autogesto) , assinalou trs vias:
1)
Os conselhos de trabalhadores podem surgir espontaneamente,
dentro da ebulio de uma revoluo social;
2)
Os conselhos de trabalhadores podem ser instaurados por um
governo poltico nascido de uma revoluo social;
3)
Os conselhos de trabalhadores podem se desenvolver por etapas,
modificando em longo prazo a estrutura burocrtica da economia imposta por um
governo poltico nascido de uma revoluo social. Este processo pode ser mais
lento ou mais acelerado, a depender da estrutura concreta do poder poltico e das
conjunturas internas e externas.
Estas trs vias da autogesto tm suas qualidades e seus defeitos.
As experincias que vamos apresentar podem ser sistematizadas no
quadro referencial destas vias, por exemplo:
1)
-A primeira via, foi a da revoluo na Rssia em 1917, que foi a
primeira a experimentar, por um curto espao de tempo, o surgimento
espontneo dos conselhos operrios, no fogo da revoluo social;
2)
-A segunda via, a da experincia do governo da Iugoslvia, a
partir dos anos 50;
3)
-A terceira via, lenta e por etapas, tem exemplos nas lutas dos
operrios na Hungria e na Polnia, iniciadas em 1953 1956.
Esta classificao de Gurvitch foi feita na poca em que proferiu uma srie
de palestras em universidades da Iugoslvia, com o ttulo de Os Conselhos
Operrios, no ano de 1957. Portanto, logo aps as rebelies e revoltas no Leste
europeu em 1956.
Sendo assim, Gurvitch (faleceu em 1966) no pode presenciar outras lutas
autogestionrias que ocorreram em anos posteriores. De qualquer forma, por
exemplo, a evoluo da Polnia, desde as lutas de 1956 at o Solidarnosc, na
dcada de 80, parece se inserir na terceira via: um longo perodo de lutas,
culminando na desestruturao do sistema.
Outras experincias, como a da Arglia (a partir de 1962), ou as
experincias na Amrica Latina, Chile de Allende, Peru de Alvarado, Bolvia de
Torres, podem ser inseridas na via nmero dois: iniciativas de Governos polticos
em conjunturas marcadas por grandes lutas sociais.
A experincia histrica no ocorre de forma to pura: podemos dizer que
as 3 vias se confundem, se interpenetram, se articulam.
Assef Bayat (1991) tentou sistematizar as experincias histricas da
autogesto em outro referencial, utilizando quatro categorias e outros exemplos
de experincias histricas:
1)
Autogesto sob contexto de dualidade de poder, em conjunturas
revolucionrias;
2)
Autogesto nos pases ditos socialistas do Terceiro Mundo;
3)
Autogesto em governos populistas do Terceiro Mundo;
4)
capitalismo.
Possibilidades de autogesto em condies normais na periferia do
29
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
A primeira categoria cobre os exemplos da Rssia (1917), da Arglia
(1962), do Chile (1972), de Portugal (1974) e do Ir (1979).
A segunda categoria cobre os exemplos da China, Cuba, Moambique e
Nicargua.
A terceira categoria cobre os exemplos da Tanznia, Peru, Egito (Nasser) e
Turquia.
A quarta e ltima categoria no se refere a exemplos histricos, mas a
possibilidades. Bayat afirma que o Terceiro Mundo o principal portador das
possibilidades de autogesto, no contexto do capital globalizado.
Daniel Moth (1980), ex-membro do grupo Socialisme ou Barbrie, exmetalrgico da Renault, membro do grupo da revista Autogestion et Socialisme,
traou graus e/ou nveis de existncia da autogesto.
1) Diz respeito relao do operrio com seus instrumentos e com a
matria-prima; para Moth, certas formas de trabalho em cadeia e em peas no
podem ser autogeridos. Necessitam uma modificao dos instrumentos e do
aparelho de produo. Neste primeiro nvel, a autogesto requer o trabalho do
tipo de um arteso ou de um artista, e significa superar o taylorismo.
2) o do trabalho em equipe, da cooperao entre os trabalhadores, em
pequenas unidades de base, como equipes autnomas ou semi-autnomas.
Veja-se a experincia dos CQ no Japo, antes de serem assimilados no
toyotismo.
3) Caracteriza-se por uma gesto coletiva mais numerosa, por exemplo,
de oficinas.
4) o nvel da empresa.
5) No ltimo nvel, o objetivo o conjunto da sociedade.
Estes nveis podem existir de forma articulada ou de forma isolada: assim,
podemos falar de autogesto em se tratando apenas de uma empresa ou de
vrias empresas, que articuladas formam uma rede autogestionria (por
exemplo, o caso da Polnia em 1980-81); no nvel ou grau mais amplo e
sistemtico, a autogesto entendida como forma generalizada, o caso de um
pas (por exemplo, Iugoslvia, Arglia, etc.).
Pierre Naville (1978), autor que se dedicou ao estudo da autogesto,
afirma que os Conselhos Operrios existem sempre em estado latente nas
empresas de todos os tipos. s vezes, eles entram em atividade sob forma
embrionria, durante um curto perodo, como comits de greve. Outras vezes,
eles se inserem nas organizaes existentes, por ocasio de comisses de
reivindicaes; eles existem, em potencial, mesmo nos comits de empresas
legais, com tarefas e funes limitadas. Estas formas embrionrias que podem
assumir os Conselhos ou Comits, agrupando, em geral, trabalhadores de
diversas correntes polticas, dependem de muitas condies:
A primeira que as organizaes polticas, sindicais ou cooperativas
existentes no correspondam mais s exigncias das lutas do momento. Esta
condio no se apresenta em qualquer momento. Pode ocorrer que as atividades
dos sindicatos de massa ou dos partidos polticos respondam s necessidades de
ao. Os Conselhos Operrios no so e jamais foram os nicos organismos,
insubstituveis, totalmente diferentes das outras formas de organizao dos
trabalhadores. Ao contrrio, existem relaes flexveis, mesmo um parentesco,
das diferentes formas de organizao dos trabalhadores. S as condies da ao
mostram quais so as preferidas. No se pode substituir o estudo destas
condies por uma filosofia abstrata, uma teoria pura dos Conselhos Operrios.
As experincias histricas confirmam totalmente as palavras de Naville,
como veremos a seguir.
30
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
O filsofo Henri Lefebvre (1966) tentou sistematizar os problemas
tericos da autogesto. Suas idias so estimulantes e importantes na
perspectiva de tentarmos situar em um quadro terico as experincias histricas.
A experincia social (prtica social) mostra que as associaes de
autogesto surgem nos pontos frgeis da sociedade existente. Toda sociedade
tem seus pontos fortes que, no conjunto, formam a armadura, a estrutura da
sociedade.
O Estado repousa sobre estes pontos fortes. A poltica estatal tem por
tarefa soldar as possveis fissuras. Em volta destes espaos reforados nada
acontece. Todavia, entre estes pontos fortes, consolidados pelo Estado,
encontram-se as reas frgeis e as lacunas. ai que ocorrem fatos novos. As
foras sociais intervm nestas lacunas, as ocupam, as transformam em pontos
fortes, ou, ao contrrio, em outra coisa.
Os pontos frgeis, os vazios, s se revelam na prtica ou s iniciativas
de indivduos capazes ou s pesquisas de grupos capazes de agir. Os pontos
frgeis podem resultar de um abalo ou de uma desestruturao do conjunto.
Lefebvre nos oferece exemplos muito ilustrativos de suas idias:
1)
Em 1870, Paris o ponto fraco do Imprio Bonapartista. No incio
de 1871, a capital o ponto fraco da Frana. Devido industrializao, ao
crescimento do proletariado, em razo da guerra, derrota da proclamao da
Republica, ao estado de stio, e tambm, devido segregao social feita por
Haussmann, repartio dos operrios nos bairros perifricos, ao
emburguesamento e ao incio da deteriorao no centro.
Sob a Comuna, os operrios projetam realizar a autogesto nas fbricas
abandonadas pela burguesia de Versalhes, porm no tiveram o tempo
necessrio. Por infelicidade, a burguesia e seu Estado e as relaes de produo
capitalistas ficaram fortes fora de Paris; Thiers pode reconstituir rapidamente em
Versalhes o aparelho de Estado e a Armada.
Lefebvre aponta o ponto fraco onde surgiu a autogesto: as fbricas
abandonadas pelos patres. fundamental perceber sua noo de fraqueza:
surge de um campo complexo de contradies, tal qual apontou inicialmente.
importante tambm notar que o Programa da Comuna traz 13 pontos apontando
para o conjunto da sociedade francesa, no se restringindo ao campo da
produo;
2)
Em 1917, durante a derrocada do Tzarismo, antigos pontos fortes
de sua armadura scio-poltica, isto , a armada e a cidade, tornam-se pontos
fracos. Juntam-se, assim, as empresas capitalistas que uma burguesia mal
situada no conseguiu consolidar. Por sua vez, os setores fracos se juntam: os
Soviets de soldados, de camponeses, de operrios, se uniram em um imenso
movimento, o da Revoluo. Lembremos que Lnin proclamou a palavra-deordem: Todo o Poder aos Soviets, vendo neles mais que rgos representativos
ou destinados a eleger os representantes, mas grupos de trabalhadores
associados, gerindo livremente e diretamente seus negcios. Conjuntura
surpreendente. Nunca a autogesto generalizada foi to possvel.
3)
O exemplo recente da Arglia confirma nossa anlise. Onde se
instalou a autogesto? Nas fbricas abandonadas pelos patres (colonos).
Para Lefebvre, a autogesto no surge em qualquer lugar, conjuntura ou
momento. necessria uma conjuntura, um lugar privilegiado. Onde e quando
ela surge porta, necessariamente, seus elementos possveis: a tendncia
generalizao e radicalizao. Para que a autogesto se consolide, se
amplie, ela deve ocupar os pontos fortes da estrutura social que operam contra
ela.
A principal contradio que a autogesto introduz e suscita, sua prpria
contradio com o Estado; ela pe em questo o Estado: Desde que aparea um
31
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
raio de sol, em uma fissura,
esta simples planta cresce, e o
enorme
edifcio
estatal
ameaado.
Para
se
generalizar,
para
se
transformar
em
sistema, em escala de toda a
sociedade
(unidades
de
produo, unidades territoriais,
instncias e nveis superiores) a
autogesto no pode evitar o
choque com o sistema estatalpoltico, seja ele qual for. A
autogesto no pode evitar esta
Foto: Rita Barreto
difcil tarefa: constituir-se em
poder que no seja estatal. O Estado da autogesto, isto , o Estado no qual a
autogesto se eleva ao poder, s pode ser de um tipo: um Estado em extino.
A autogesto deve ser estudada de duas formas diferentes: como meio
de luta, abrindo caminho, e, como meio de reorganizao da sociedade, a
transformao de baixo para cima da vida cotidiana e do Estado.
2. Autogesto e Utopia
O contrrio da utopia, no a realidade, o pragmatismo
Georges Labica
Em 1993, seria retomada a experincia da Revista francesa Autogestion
et Socialisme. Desta vez com novo nome, Utopie Critique. No primeiro nmero,
seu editorial faz notar:
Neste fim d sculo, a misria do projeto emancipatrio patente. Como
nunca, o dilema socialismo ou barbrie est posto. Se, por sua atividade, o
movimento social expressou suas aspiraes autodeterminao, ao
autogoverno, autogesto social generalizada, estabeleceu as premissas das
transformaes necessrias e iluminou o grmen dos possveis, a utopia
mobilizadora deve ser repensada, refundada luz das revolues e sombra das
contra-revolues que abalaram o mundo e as certezas.
Pensamos que necessrio romper com o capitalismo para lanar os
fundamentos de um socialismo autogerido e que ser atravs de conflitos e de
experincias polticas, sociais, ideolgicas que se desenhar um novo projeto e
um programa transitrio.
Esta revista tem por ambio se inscrever em um processo de refundao.
Ela se prope a ser um dos momentos e um dos espaos desta dinmica
refundadora que necessita a confrontao de mltiplas tentativas, de diferentes
pontos de vista e um dilogo entre os atores dos movimentos sociais, entre
militantes, pesquisadores e tericos.
Trata-se de contribuir para a produo de uma nova cultura crtica, novas
representaes, novas praticas e novas instituies estruturando um sujeito e um
projeto revolucionrios.
No mesmo nmero, G.Labica (1993) fala mesmo de um retorno da
utopia, sobretudo, aps a derrocada das experincias do Leste europeu e das
idias de que no h alternativas, e do fim da historia, propagadas pelo
neoliberalismo.
Labica afirma que a autogesto aparece, ento, como uma tendncia.
importante precisar que a autogesto como perspectiva e entre as perspectivas
32
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
possveis- est inscrita no real. No de modo nenhum um efeito da imaginao.
Ela se inscreve no real na medida em que o desenvolvimento do processo de
trabalho relacionado a um desenvolvimento excepcional que um produto da
historia- da conscincia democrtica faz que possamos entrever hoje a
possibilidade do que Marx chamou os trabalhadores associados.
nesta perspectiva que Henri Lefebvre define a autogesto: a abertura
ao possvel. Ou seja, na perspectiva traada por Yvon Bourdet, apoiado na obra
de Ernst Bloch:
Quando Marx fala de encontrar o novo mundo na e pela crtica do mundo
velho, a extrao do que presente, e, portanto invisvel, pode ser qualificada
justamente de Utopia Concreta. , igualmente, neste sentido que, o que
extraordinrio (porque no percebido correntemente) no pode ser confundido
com o impossvel. A utopia concreta o extraordinrio possvel".
Ernst Bloch (1976) construiu a idia de um materialismo utpico, com
base em uma ontologia do ainda-no-ser.
A obra de Bloch diz respeito a o estatuto de uma teoria crtica da
sociedade renovada e repensada pelo prisma das utopias. Segundo, Arno
Munster (2001) Nos anos 1817-1918, Bloch orientou sua obra na perspectiva da
utopia, com o objetivo de reabilitar esse conceito, mas no no sentido de esboar
uma utopia poltica e social nova, na linha de T.Morus, de Fourier ou de Cabet,
mas de construir uma ontologia utpica completada por uma teoria da funo
utpica da conscincia antecipadora que leva diretamente uma teoria da
prxis que tem sua legitimidade nos ensinamentos da Tese XI de Marx sobre
Feurbach.
J sem seus primeiros ensaios, como, por exemplo, A impulso de
Nietzsche, E.Bloch falava de uma filosofia revolucionaria do futuro, definindo-a
como um saber ainda-no-consciente que torna a obra de arte um espao de
experimentao da esperana.
Em o Esprito da Utopia(1918), encontram-se numerosas antecipaes
dos temas maiores da obra da maturidade de Bloch: a teoria do ainda-noconsciente, da prxis antecipadora das imagens desejadas utpicas e a relao
com o pensamento socialista. Mesmo misturada com uma viso messinica, a
utopia comunista de Marx vista como a realizao de uma comunidade de
homens e mulheres iguais, vivendo e trabalhando, livres das condies alienantes
do capitalismo, em estruturas cooperativas.
Bloch, de 1935 a 1938, em Paris e Praga, trabalhou em uma obra sobre A
Historia do Materialismo. Segundo Munster, primeiro, a crtica sistemtica de
todas as concepes mecanicistas da matria que surgiram, aparentemente no
campo do otimismo cientifico das Luzes, durante todo o sculo XVIII e do sculo
XIX. Segundo, tentar, conforme s premissas tericas de um materialismo nodogmtico, uma relao da conscincia do sujeito com o contedo do ato
objetivo, no quadro de uma ontologia materialista do ainda-no-ser em que a
relao do sujeito ao mundo determinada como um modo de realizao
(manifestao) da possibilidade objetiva real; e, terceiro, tentar depurar o
conceito marxista de matria das desfiguraes vulgares de uma matria
coisificada, privilegiando uma concepo extremamente dinmica da matria
enquanto entelquia inacabada e, quarto, a (re) fundao de um conceito de
matria aberta, utpica em que a matria definida antes tudo como o
substrato da possibilidade objetiva real.
Na filosofia blochiana, o possvel e o ainda-no-ser so determinaes
ontolgicas fundamentais da nova experincia do mundo. A esperana e o futuro
encontram solo firme porque se fundamentam na realidade.
Dizia Bloch: O materialismo dialtico s tem sentido se admite que para
entender a gnese de uma estrutura, preciso ter em conta, no s o passado, o
33
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
vir-a-ser de tal estrutura, mas , tambm, a categoria do futuro, isto , tudo o que
a estrutura contm de virtualidade a cada instante.
Quando do Seminrio de comemorao dos 25 anos do CEDEC,
Boaventura Santos, com sua idia de Sociologia das ausncias, assinalava um
campo de afinidades com as idias de Bloch: Procurar o que falta no presente,
naquilo que existe.
Ao responder a questo por que pensar, Boaventura Santos (2001)
afirma que o pensamento alternativo caracteriza-se pela centralidade da
hermenutica da emergncia: para credibilizar as alternativas que esto a
emergir no mundo, precisamos de uma hermenutica de emergncia, que amplie
simblica e politicamente essas iniciativas locais.
H duas grandes idias a ter em conta. A primeira de Prigogine (e de
Aristteles), a idia de que o possvel mais rico que o real. A segunda uma
idia de Ernst Bloch, um filosofo que no hoje muito lido, mas que devia s-lo
muito mais: o conceito do ainda no, entre o ser e o nada, que funda o
principio da esperana! Ns vivemos em sociedades onde h espera, mas onde
no h esperana, e para reconstituir essa esperana, o principio do ainda no,
de algo que pode vir, que possvel porque est nas possibilidades do real e do
presente, cria um efeito de intensificao(...)
Este ainda no exige um elemento subjetivo, e esse elemento subjetivo
a conscincia antecipatria, a idia de que algo pode surgir, em que a ruptura
entre o presente e o passado possvel, a LATNCIA do futuro (grifo nosso), a
idia de incompletude. E, de novo, a idia da sociologia das ausncias aqui
muito importante, porque ela nos leva a mostrar que o que existe est aqum do
que pode existir, que h possibilidades irrealizadas e que so realizveis, so as
chamadas UTOPIAS REAIS (grifo nosso).
Michael Lowy e Daniel Bensaid , a partir de anlises das Teses de Filosofia
da Histria de Walter Benjamin e dos conceitos de Utopia e Esperana de Ernst
Bloch, desenvolveram reflexes que so fundamentais para a temtica da
autogesto. Lowy e Bensaid apresentam muitas de suas teses na obra
Marxismo,Modernidade ,Utopia (2000)
A atualizao destes conceitos implica uma nova viso radical da
temporalidade, o que ocorreu com a viso benjaminiana sobre o tempo
histrico e, na concepo de possibilidade na obra de Bloch.
Em seu ensaio Marxismo e Utopia, Lowy ( 1979) se reclama de diversas
fontes do socialismo:
O socialismo cientifico precisa mais uma vez tornar-se utpico buscando
sua inspirao no Principio Esperana (Bloch) que reside nas lutas, sonhos e
aspiraes de milhes de oprimidos e explorados, os vencidos da historia, em
Jan Hus e Thomas Munzer, nos soviets de 1917-1919 na Europa, e coletivos de
1936-1939 em Barcelona. Nesse nvel ainda mais indispensvel abrir
amplamente as portas do pensamento marxista gama de intuies sobre o
futuro, desde os socialistas utpicos de ontem at os crticos romnticos da
civilizao industrial, desde os sonhos de Fourier at os idias libertrios do
anarquismo.
Em sua obra sobre Walter Benjamin, (Avertissement d incendie. Une
lecture des thses Sur le concept d histoire), Lowy (2001) afirma: Benjamin se
inspira de textos como os Manuscritos de 1844, os escritos sobre a revoluo de
1848-1850 ou a Comuna de Paris ou ainda a critica do programa de Gotha (...).
O resultado deste trabalho uma reelaborao, uma reformulao critica do
marxismo, integrando na massa do materialismo histrico os clares
messinicos, romnticos, blanquistas, libertrios e fourieristas. Ou, antes, a
fabricao, a partir da fuso destes materiais, de um marxismo novo, hertico e
radicalmente distinto de todas as variantes -ortodoxas ou dissidentes de seu
tempo. Um marxismo messinico...Mas tambm e acima de tudo um marxismo
34
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
da imprevisibilidade: se a historia aberta, se o novo possvel, porque o
futuro no conhecido de antemo.
A advertncia de incndio de Benjamin guarda uma grande atualidade: a
catstrofe possvel seno provvel- a menos que...
O que significa: o pior no inevitvel, a historia permanece aberta, ela
comporta outras possibilidades, revolucionarias, emancipatrias e/ou utpicas,
conclui Lowy.
Em seu Marx, o Intempestivo, D.Bensaid (1999) nos chama a Uma nova
escuta do tempo:
(...) Pela evocao das conjunturas passadas, abordar o Outrora significa
portanto que ele seja estudado, no mais como antes, de maneira histrica, mas
de maneira poltica, com categorias polticas ou, como diz W. Benjamin (1985):
Tratar politicamente a historia pens-la do ponto de vista de seus momentos e
de seus pontos de interveno estratgicos.
(...) A citao do passado a comparecer contradiz o postulado de um
tempo irreversvel e no modificvel. A histria crtica no pode anular aquilo que
foi, mas pode redistribuir-lhe o sentido.
Bensaid assinala, em relao recolocao do passado, duas direes
contrrias: uma ontolgica e outra poltica. Na linha de Walter Benjamin e
Gramsci -a poltica- O tempo granuloso da historia no para eles nem o
cumprimento de uma origem nem a perseguio de um fim. O primado do futuro
desenha em Ernst Bloch o horizonte utpico da esperana. Em Heidegger a
direo ontolgica- ele assombra a meditao antecipada do ser-para-a-morte.
(...) As categorias benjaminianas do tempo ordenam-se triplamente no presente:
presente do passado, presente do futuro, presente do presente. Todo passado
renasce no presente tornando-se passado. Todo presente esvanece-se no futuro
tornando-se presente (...).
Em seu livro Walter Benjamin, Sentinelle Messianique, Bensaid (1990)
define o conceito dialtico do tempo histrico: o presente do passado responde
ao presente do futuro, a memria espera: Ns somos esperados. Prever esse
presente carregado de dividas messinicas a tarefa poltica por excelncia.
Encarar a funo antecipadora, no s em ns, subjetivamente, mas no mundo,
objetivamente. O passado j era antecipao do presente, o mesmo que este o
do futuro, e isto o que valoriza para ns a recordao. Quando no h
antecipao, o passado est concludo, est condenado, desapareceu, se encontra
aniquilado. Tudo o que nos move na ordem da civilizao antecipador: de nobis
fabula narratur, afirmou Bloch no debate sobre as noes de estrutura e
gneses, no Colquio de Ceresy-La-Salle.
Arrancar a tradio ao conformismo a tarefa revolucionaria por
excelncia. O conceito fundamental do materialismo histrico no o de
progresso, mas o de atualizao: atualizao das potencialidades.
Lowy, em seu estudo sobre Benjamin, afirma que: A abertura do passado
significa dizer que os nomeados julgamentos da historia no tm nada de
definitivo e de imutvel. O futuro pode reabrir os dossis histricos fechados,
reabilitar as vtimas caluniadas, reatualisar as esperanas e as aspiraes
vencidas, redescobrir os combates esquecidos ou julgados utpicos,
anacrnicos e a contra-corrente do progresso .Lowy cita a obra de E. P.
Thompson sobre a formao da classe operaria inglesa como uma manifestao
clara desta reabertura do passado.
Ernst Bloch, em O Principio Esperana, volume II, analisa a relao entre
marxismo e antecipao concreta. Bloch afirma categoricamente que o
marxismo no significa renuncia antecipao (funo utpica); ele o novum
de uma antecipao concreta relacionada ao processo imanente a Histria.
35
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
Marx ps fim ao dualismo reificado entre ser e dever-ser, entre
realidade emprica e utopia. Para Bloch, o realismo de Marx carregado de
futuro: justamente porque a obra inteira de Marx est bem mais a servio do
futuro, ela s pode ser entendida e realizada no horizonte do futuro, mas de um
futuro que no mais traduzido por uma utopia abstrata. Pois uma idia justa do
futuro somente pode ser fornecida a partir do passado e do presente, l onde ele
comea a despontar, ele no pode ser deduzido seno que a partir das tendncias
que operam (...). Este campo do futuro uma interessante oposio aos
falanstrios ou New Harmonies, puramente imaginarias, esta renuncia a todas as
vises de fantasia de um pretendido Estado do futuro.
Marx consagrou mais de 9/10 de sua obra anlise crtica do momento
presente, e designou um lugar relativamente reduzido s determinaes do
futuro. Por sua vez, segundo Bloch, as utopias abstratas dedicaram 9/10 de seu
espao ao desenho, pintura do Estado do futuro e apenas 1/10 observao
crtica, freqentemente negativa, do momento presente.
A utopia concreta tem seu principal elemento no processo histrico,
naquilo que Bloch chama de Latncia (Latenze),isto :
o correlato das possibilidades objetivas-reais no ainda-realizadas no
mundo.
O mundo inteiro percorrido pela grande idia de uma coisa e pela
inteno tendendo ao ainda-no-acontecido: a utopia concreta a teoria-praxis
mais importante desta tendncia. Seu campo socialmente muito vasto,
compreende todos os domnios do trabalho humano, estende-se aos campos da
tcnica e da arquitetura, da pintura, da literatura e da msica, da moral e da
religio.
O materialismo utpico blochiano tem por base que apenas um
pensamento orientado para transformao do mundo, portando uma vontade de
mudana, diz respeito ao futuro. Esta viso significa uma mudana no conceito
de ser. Ao abandonar a idia de um ser fechado e esttico, a verdadeira
dimenso da esperana e da utopia se abre, o mundo se enriquece em
disposies-, em tendncias-, em virtualidades-de (Latenze).
Concluindo seu ensaio sobre O Romantismo Revolucionrio de Bloch e
Lukacs, M. Lowy (1979) afirma que o romantismo revolucionrio no de modo
algum contraditrio com o pensamento de Marx, que comporta, ele tambm, uma
dimenso romntica anticapitalista. Aps meio sculo de hegemonia de um
marxismo kantiano e/ou positivista, e/ou darwinista, e/ou evolucionista (com
algumas excees como William Morris e Rosa Luxemburgo) surgiu com Bloch e
Lukcs, nos anos 1917 e 1923, uma potente e original leitura romntica do
marxismo, uma concepo romntica da revoluo social, que no desapareceu
mais da conscincia crtica moderna.
O trao comum que Lowy designa ao romantismo revolucionrio : a
crtica da civilizao industrial/burguesa moderna (como foi constituda depois da
metade do sculo XVIII) a partir de certos valores sociais, culturais, ticos,
estticos ou religiosos do passado pr-capitalista.
Nesta perspectiva, Bloch permaneceu fiel e, sobretudo, enriqueceu em
obras posteriores ao Esprito da utopia (1918) suas intuies de juventude; por
exemplo, em Experimentum Mundi (1975), O Principio Esperana( 1953 e
1959) e Herana do Nosso tempo (1962).
Como sabemos, Marx e Engels desconfiaram da utopia e Engels ops o
socialismo utpico ao socialismo cientifico. Bloch mostrou que possvel outra
interpretao de utopia e cincia.
Em sntese, Bloch define duas formas de utopia.
36
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
1)
A UTOPIA ABSTRATA: antecipa na imaginao uma outra realidade;
enquanto permanecer imaginria, esta antecipao porta um perigo: o de no
levar em conta os meios de sua realizao;
2)
A UTOPIA CONCRETA: contudo, enquanto antecipa um dever-ser
que ainda-no-, ela faz parte da realidade, imanente ao movimento social, e
viso subjetiva de uma mobilizao real, de uma transformao real do mundo.
Estas definies de Bloch nos levam a buscar na prxis da autogesto, nas
experincias desenvolvidas ao longo da histria, nas experimentaes sociais,
ocorridas em diversos momentos e lugares, os principais elementos que
compem a proposta do socialismo autogestionrio. Sem dvidas que, no campo
do chamado socialismo utpico, podemos encontrar muitas idias fecundas,
mas compem o que Bloch chama de utopia abstrata.
Bloch define o marxismo, no como o contrario de uma utopia, mas como
o novum de uma utopia concreta. Utopia no que traa imaginariamente seus
objetivos; em que, participa na ao transformadora; concreta, no que, como
representao, ela antecipa o que j est no real, inscrito no presente como
possibilidade. Portanto, a utopia concreta implica a crena em um dever-ser
ainda-no-realizado; a utopia a antecipao imaginaria de um objetivo.
Bloch fala do conceito de excedente da realidade: a utopia expressa a
contradio presente e o esforo imaginrio para antecipar a resposta concreta;
manifesta, assim, um poder critico frente realidade, enquanto ainda no foram
realizadas todas as esperanas. Este o sentido da noo de excedente:
possibilidade ainda-no-realizada, abertura ao futuro. Neste sentido, a historia
humana um oceano de possibilidades sempre abertas.
Para Bloch, A utopia concreta se encontra no horizonte de toda realidade;
a possibilidade real articula ao objetivo as tendncias-latncias dialticas
abertas.
3. A Pedagogia da Utopia Concreta
Todo amanh, porm, sobre o que se pensa e para cuja realizao se luta,
implica necessariamente o sonho e a utopia
(Paulo Freire)
Sou esperanoso no por teimosia, mas por imperativo existencial
(Paulo Freire)
No Brasil, a partir da experincia no campo da educao popular, Paulo
Freire desenvolveu uma profunda e radical reflexo sobre conceitos como utopia,
esperana.
Obra recente de Joo Francisco de Souza, coloca a vigncia do
pensamento de Freire no mundo ps-moderno.
Segundo Joo, A proposta pedaggica de Freire se centra na questo
cultural e, dialoga com todos os quadrantes da Terra.
As
Oprimido,
Pedagogia
Freire, A
verdadeira
vrias obras sobre pedagogia, por exemplo: A Pedagogia do
A Pedagogia da Indignao, A Pedagogia da Autonomia, A
da Esperana, Pedagogia da Pergunta e, tambm, o livro sobre
Pedagogia dos Sonhos Possveis, significam e constituem uma
antologia da Pedagogia da Utopia.
Neste ltimo, vemos que a epistemologia de Freire implica a historia
como possibilidade e aes culturais movidas pelos sonhos, a Utopia
libertadora. E, que tem uma base ontolgica: a capacidade do ser humano de
sonhar, a, nossa capacidade ontolgica de sonhar. De projetar para um futuro
37
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
mais prximo possvel dias de paz, equidade e solidariedade. Reativar em nossos
corpos conscientes as possibilidades de sonharmos o sonho UTPICO que Paulo
h anos j vinha nos convidando a sonhar o SONHO POSSIVEL- (...).
Mas, principalmente, Freire escreveu um pequeno e profundo ensaio sobre
Algumas Reflexes em torno da Utopia:
Nunca falo da utopia como uma impossibilidade que, s vezes, pode dar
certo. Menos ainda, jamais falo da utopia como refugio dos que no atuam ou
(como) inalcanvel pronuncia de quem apenas devaneia. Falo da utopia, pelo
contrario, como necessidade fundamental do ser humano. Faz parte de sua
natureza, histrica e socialmente constituindo-se, que homens e mulheres no
prescindam, em condies normais, do sonho e da utopia.
Freire crtica, ento, de forma indignada aquilo que chama de discurso
fatalista de educadores que em face dos obstculos atuais ligados globalizao
da economia reduzem educao a pura tcnica e proclamam a morte dos
sonhos, da utopia (...). O meu discurso em favor do sonho, da utopia, da
liberdade, da democracia o discurso de quem recusa a acomodao e no deixa
morrer em si o gosto de ser gente, que o fatalismo deteriora.
Freire fala da capacidade ontolgica de sonhar: Seres programados
para aprender e que necessitam do amanh como o peixe da gua, mulheres e
homens se tornam seres roubados se lhes nega a condio de participies da
produo do amanh. Todo amanh, porm, sobre o que se pensa e para cuja
realizao se luta implica necessariamente o sonho e a utopia. No h amanh
sem projeto, sem sonho, sem utopia, sem esperana, sem o trabalho da criao e
desenvolvimento de possibilidades que viabilizem a sua concretizao.
Paulo Freire apresenta muitas afinidades com o pensamento de Ernst
Bloch. Por exemplo: vale dizer que o sonho possvel no se trata de uma
idealizao ingnua, mas emerge justamente da reflexo crtica acerca das
condies sociais de opresso cuja percepo no se faz determinista, mas
compreende a realidade como mutvel a partir da participao dos sujeitos que a
constituem, sendo igualmente por ela constitudos. Desse modo, incluir-se na luta
por sonhos possveis implica assumir um duplo compromisso:
-o compromisso com a denncia da realidade excludente e o anuncio de
possibilidades de sua democratizao,
-bem como o compromisso com a criao de condies sociais de
concretizao de tais possibilidades.
Enfim, trata-se de assumir como um desafio decorrente da pratica
educativa libertadora o que Freire denominou INDITO-VIVEL, termo
presente desde os seus primeiros escritos.
Sem dvidas, as afinidades entre este conceito de Freire e o de ainda
no-acabado de Bloch, so evidentes.
Ana Maria Arajo Freire ressalta na Pedagogia da esperana a
importncia da compreenso do inditovivel para a assuno da historia
como possibilidade. E que, O risco de assumir a luta pelo indito-vivel uma
decorrncia da natureza utpica. O indito-vivel algo que o sonho utpico
sabe que existe, mas que s ser conseguido pela prxis libertadora... uma coisa
indita, ainda no claramente conhecida e vivida, mas sonhada.
Assim, A conscincia da incompletude nos seres humanos leva-nos a
envolver-nos em um processo permanente de pesquisa. precisamente esta
busca que faz com que a esperana aparea.
Enfim, a criao do indito-vivel representa uma alternativa que se
situa no campo das possibilidades e no das certezas.
38
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
BIBLIOGRAFIA:
Autogestin Socialista Yugoslava. Nociones Fundamentales. Belgrado: CAS, 1980.
Bayat, Assef. Works Politics and Power - International perspective on Workers
Control and Self-Management. Monthly Review Press, 1991.
Benjamin, Walter. Magia e Tcnica, Arte e Poltica, - Obras escolhidas. So
Paulo: Brasiliense, 1985.
Bensaid, Daniel. Walter Benjamin.Sentinelle Messianique. Paris: Plon.,1990.
---------------. Marx, o Intempestivo. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1999.
Bloch, Ernst. Le Principe Esperance (2 tomos). Paris: Gallimard, 1976 1982.
Santos, Boaventura de Souza. Seis Razes para pensar. Lua Nova n. 54. CEDEC,
2001.
Bourdet, Yvont e Guillerm, Alian. Autogesto: uma mudana radical. Rio de
Janeiro: Zahar, 1976.
Frank, Giorgi. Autogestion, la Dernir Utopie. Paris: Publications de la Sorbonne,
2003.
Gurvitch, Georges. Extraits de lOeuvre. Autogestion, tudes, dbats, documents.
Paris: Cahier no. 1, dcembre, 1966.
La Autogestion Socialista en Yugoslava, 1950-1980. Belgrado: CAS, 1980.
Labica, Georges. Marxisme, rvolution et paysage du souhait. Paris: Revue
Utopie Critique n.1, 1993.
Lefebvre, Henri. Problmes thoriques de l autogestion. Paris: Cahier n. 1,
1966.
Lowy, Michael. Marxisme et Romantisme Revolutionnaire. Paris: Sycomore, 1979.
____________ . Walter Benjamin: Avertissement dincendie. Paris: PUF, 2001.
Lowy, Michael e Bensaid, Daniel. Marxismo, Modernidade, Utopia. So Paulo:
Xam, 2000.
Moth, Daniel. LAutogestion goutte goutte. Paris: ditions du Seuil, 1980.
Munster, Arno. Lutopie Concrte dErnst Bloch. Paris: ditions KIME, 2001.
Naville, Pierre. Notes sur la Histoire des Conseils Ouvriers. Paris: Arguments n. 4.
UGE, 1978.
Rosanvalon, Pierre. Lge de lautogestion. Paris: ditions du Seuil, 1976.
Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia, saberes necessrios pratica educativa.
So Paulo: Paz e Terra, 1997.
____________. Pedagogia da Esperana. Um encontro com a Pedagogia do
oprimido. So Paulo: Paz e Terra, 1992.
____________. Os Cristos e a Libertao dos Oprimidos. Portugal: Edies
Base-FUT, 1978.
____________. Pedagogia da Indignao, cartas pedaggicas e outros escritos.
So Paulo: Editora UNESP, 2000.
Freire, Ana Maria A. (org). Pedagogia dos Sonhos Possveis. So Paulo: Unesp,
2001.
Revista Coleo Memria da Pedagogia. Paulo Freire, a Utopia e o Saber. So
Paulo: 2005.
Mello, Marco (org.). Paulo Freire e a Educao Popular. Atempa-Ippoa, 2008.
Streck, Danilo R., Redin, Euclides e Zitkoski, Jaime J. (orgs). Dicionrio Paulo
Freire. Autentica, 2008.
39
Otra Economa - Volumen II - N 3 - 2 semestre/ 2008 - ISSN 1851-4715 - www.riless.org/otraeconomia
Ulburghs, Jef. Pour une Pedagogie de l Autogestion. Manuel de lAnimateur de
Base. Editions Ouvrirs, 1980.
Revista Autogestion et socialisme. Nmero especial : autogestion et formation.
Paris: cahier 13/14, 1970.
Revista Autogestions. Les passions pdagogiques. n.12/13. Privat, 1982-83.
Suchodolski, Bogdan. Fondamenti de pedagogia marxista. La Nuova Italia, 1977.
40
Você também pode gostar
- Aula 1 - Boas Práticas de Manipulação de Formulações FarmacêuticasDocumento98 páginasAula 1 - Boas Práticas de Manipulação de Formulações FarmacêuticasLarissa BarbozaAinda não há avaliações
- Kult Movimentos JogadoresDocumento2 páginasKult Movimentos JogadoresMagusAndréLAinda não há avaliações
- Trauma, Transferência e Contrantransferência - OUTEIRALDocumento30 páginasTrauma, Transferência e Contrantransferência - OUTEIRALCa KZAinda não há avaliações
- Resumo Do Livro de HabermasDocumento3 páginasResumo Do Livro de HabermasSérgio da Silva100% (2)
- Territorio Do MucuriDocumento49 páginasTerritorio Do MucuriEliane MacedoAinda não há avaliações
- Dossier Do Professor 1o CicloDocumento19 páginasDossier Do Professor 1o CicloRenata VianaAinda não há avaliações
- E-Book Evangelizar o Plano PerfeitoDocumento28 páginasE-Book Evangelizar o Plano PerfeitoBruna Gomes VieiraAinda não há avaliações
- Defeitos Na Solda PDFDocumento13 páginasDefeitos Na Solda PDFCris NunesAinda não há avaliações
- 039 - Operação Com Serra Clipper - Rev00Documento10 páginas039 - Operação Com Serra Clipper - Rev00Igor MesquitaAinda não há avaliações
- COPELDocumento23 páginasCOPELGerson AlmeidaAinda não há avaliações
- Organização de Tarefas e Rotina DomésticaDocumento12 páginasOrganização de Tarefas e Rotina Domésticaedu melloAinda não há avaliações
- Semiologia Médica - Roteiro Básico de Exame FísicoDocumento1 páginaSemiologia Médica - Roteiro Básico de Exame Físicoanon_905586732Ainda não há avaliações
- Cortinas Compact SwitchDocumento18 páginasCortinas Compact SwitchVivaldo AlvesAinda não há avaliações
- José Américo Miranda (Organizador)Documento26 páginasJosé Américo Miranda (Organizador)Literature Literatura100% (1)
- VOD-Interação Gênica e Pleiotropia-2019Documento9 páginasVOD-Interação Gênica e Pleiotropia-2019zelda skywalkerAinda não há avaliações
- TCC OriginalDocumento12 páginasTCC OriginalJulia KipperAinda não há avaliações
- Prova Medicina 2014Documento36 páginasProva Medicina 2014Gustavo Nazareno MonteiroAinda não há avaliações
- Fisico QuimicaDocumento9 páginasFisico QuimicaClara SantiagoAinda não há avaliações
- Atividades Arte GregaDocumento2 páginasAtividades Arte GregaAnne SpielAinda não há avaliações
- Comentada Prova Amarela Medicina Inverno 2017 1Documento19 páginasComentada Prova Amarela Medicina Inverno 2017 1Deborah LGAinda não há avaliações
- AustêmperaDocumento3 páginasAustêmperaLucas ChiminAinda não há avaliações
- NBR 14751 - Equipamento de Protecao Individual - Cadeira Suspensa - Especificacao e Metodos de enDocumento5 páginasNBR 14751 - Equipamento de Protecao Individual - Cadeira Suspensa - Especificacao e Metodos de enNailtonLacerda100% (1)
- Ccsa Mat Prof 2Documento236 páginasCcsa Mat Prof 2ingrid.velosaAinda não há avaliações
- 2 Lista de Exercícios - PFCDocumento2 páginas2 Lista de Exercícios - PFCJoão CarlosAinda não há avaliações
- Peritus-Programa de Ingles - 1 e 2 Classe PeritusDocumento10 páginasPeritus-Programa de Ingles - 1 e 2 Classe PeritusHamilton Chibante MiquiceneAinda não há avaliações
- Avaliação - Deficiência FísicaDocumento3 páginasAvaliação - Deficiência FísicaDheise Dill100% (1)
- Emergencista Pre Hospitalar PDFDocumento2 páginasEmergencista Pre Hospitalar PDFEdson MárioAinda não há avaliações
- Apostila de LiteraturaDocumento15 páginasApostila de LiteraturaValeska PaivaAinda não há avaliações
- Catalogo Completo Skil 2019Documento2 páginasCatalogo Completo Skil 2019Efraim GomesAinda não há avaliações
- CALLAI, Helena Copetti. Educação Geográfica - Ensinar e Aprender Geografia.Documento20 páginasCALLAI, Helena Copetti. Educação Geográfica - Ensinar e Aprender Geografia.KeelzinhaaaAinda não há avaliações