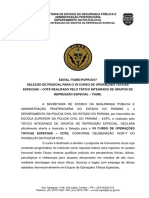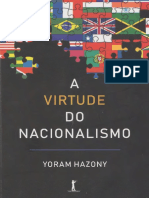Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
20 Anos Depois A Construcao Democratica Da Periferia de Sao Paulo
20 Anos Depois A Construcao Democratica Da Periferia de Sao Paulo
Enviado por
Maruca Batata DulceTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
20 Anos Depois A Construcao Democratica Da Periferia de Sao Paulo
20 Anos Depois A Construcao Democratica Da Periferia de Sao Paulo
Enviado por
Maruca Batata DulceDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Gabriel de Santis Feltran
VINTE ANOS DEPOIS: A CONSTRUO DEMOCRTICA
BRASILEIRA VISTA DA PERIFERIA DE SO PAULO
Gabriel de Santis Feltran
Durante o regime militar brasileiro, uma fronteira ntida distinguia os grupos sociais oficialmente legtimos daqueles a
serem banidos da convivncia pblica. Cabia ao Estado legislar sobre essa distino e represso oficial manter esta fronteira ativa, impedindo que a pluralidade da sociedade fosse
representada politicamente. O bloqueio seletivo do acesso
legitimidade pblica desenhava a face autoritria do sistema
poltico. At por isso, foi s durante a decadncia do regime
militar que alguns dos segmentos sociais reprimidos puderam se articular, ainda que fossem muito distintos entre si,
em torno da reivindicao comum de espaos de expresso
poltica. Os principais atores populares desta reivindicao
foram chamados de novos movimentos sociais1.
Este artigo conta a histria de um destes atores, o Movimento de Defesa do Favelado (MDF), que desde o final dos
anos 1970 atua na periferia leste da cidade de So Paulo2. Ao
1
Paoli (1995) capta com muita sensibilidade este sentido propriamente poltico
da apario dos movimentos sociais populares do perodo.
2
A reconstruo dessa trajetria est amparada em pesquisa de carter etnogrfico, realizada junto ao MDF na Zona Leste de So Paulo, entre 2001 e 2003. Este
artigo resume e atualiza o centro dos argumentos de pesquisa mais extensa, que
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
83
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
84
narrar esta histria de trinta anos, vinte dos quais vividos sob
a nova democracia brasileira, o texto destaca as diferentes
modalidades de relao entre os setores populares e a esfera poltica no Brasil contemporneo. De um lado, aparecem
as mediaes, discursivas e institucionais, construdas nas
ltimas dcadas na tentativa de diluir a fronteira que bania
os segmentos populares da representatividade poltica; de
outro lado, podem ser vistas as fronteiras recentes que, ainda
que sob um regime pautado pela universalidade formal de
direitos, se repem atualmente entre os setores populares e
o mundo poltico. A garantia de legitimidade presena dos
setores populares no mundo pblico aparece ento como
uma questo incontornvel da construo da pluralidade do
sistema poltico, pressuposto da noo de democracia.
Como se sabe, a efervescncia movimentista da virada
para os anos 1980 foi, em So Paulo, gerada pela apario
conjunta, na cena pblica, dos seguintes segmentos sociais:
i) grupos pauperizados das periferias urbanas, reivindicando melhorias sociais objetivas, organizados por vertentes
da igreja catlica inspiradas pela teologia da libertao; ii)
grupos de sindicalistas que renovavam o iderio socialistaoperrio do perodo, na esteira das mobilizaes dos metalrgicos do ABC; iii) setores jovens da classe mdia e das
elites intelectuais, que nas universidades haviam conhecido
o marxismo e os movimentos libertrios do norte3.
No interior deste campo, legitimado tambm por fraes minoritrias das elites e da imprensa4, articulavam-se
incluiu ainda outro movimento e foi publicada integralmente em Feltran (2005).
Agradeo aos integrantes do MDF e a Evelina Dagnino, que apoiaram a pesquisa
de modo decisivo, e a Adrin Gurza Lavalle pelo estmulo para que este texto fosse
escrito. Os nomes prprios citados, exceo das figuras pblicas, so fictcios.
3
Para alm da renovao das matrizes discursivas centrais para estas mobilizaes (catlica, sindical e marxista ver o trabalho paradigmtico de Eder Sader, 1988), estes
setores intelectualizados traziam a influncia cultural das transformaes americana e
europia que se seguiu apario dos movimentos de direitos civis e de maio de 1968.
4
Como a Ordem dos Advogados do Brasil, grandes jornais da imprensa escrita
paulistana etc. A grande mobilizao pelas Diretas J!, por exemplo, j seria um
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
grupos to dspares quanto favelados e feministas, estudantes trotskistas e jovens negros, militantes da pastoral
da juventude e homossexuais, operrios, ambientalistas e
lideranas polticas recm-chegadas do exlio. As disputas
privadas entre estes setores eram conhecidas internamente,
mas a aliana conjuntural marcante entre eles, na leitura
pblica, explicava-se em negativo: todos estes grupos viviam
a condio comum de baixssima representatividade durante o regime anterior e percebiam na ao conjunta uma
possibilidade de expressar publicamente suas identidades e
interesses. As falas destes atores, aproveitando-se dos vazios
discursivos prprios das transies de poder, permitiram
mesmo que se conformasse no pas uma espcie de contraesfera pblica5 que, paralela transio institucional lenta, segura e gradual posta em marcha pelos militares, abriu
espaos renovados para a construo democrtica.
Esta esfera pblica nascente ofereceu uma caixa de ressonncia fundamental para os novos movimentos sociais,
em particular os de carter popular, que puderam ser lidos
ento como os novos personagens da cena poltica brasileira6. Ora, se estes movimentos efetivamente interferiam
na discusso pblica, estando fora das mediaes institucionais constitudas, constatou-se ainda neste contexto o alargamento da poltica para alm dos marcos institucionais7 e
marco dessa aliana, inteiramente conjuntural, criada pela existncia, naquele
momento, de um inimigo comum determinado.
5
Evidentemente, empresto aqui a expresso de Habermas (1992), que de algum
modo j antecipa a crtica que Fraser (1995) elaboraria sua noo de espao pblico dos anos 1960. Em linhas gerais, entretanto, minhas referncias para pensar
o privado, o social e o poltico no estudo dos movimentos sociais vm da leitura
de Hannah Arendt. Na literatura brasileira, Costa (1997) j usou a noo habermasiana de contra-esfera pblica ou esfera pblica alternativa para pensar a
transio de regime.
6
Utilizando-me da expresso que d ttulo ao trabalho de Sader (1988). Para excelentes revises e classificaes da imensa bibliografia sobre os movimentos sociais de at meados dos anos 1990, segundo diferentes perspectivas analticas, ver
Baierle (1992), Doimo (1995) e Paoli (1995).
7
Diversos trabalhos de referncia para a literatura do perodo caminham claraLua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
85
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
86
a elaborao em curso de uma nova noo de cidadania,
concebida como uma estratgia de democratizao conjunta do Estado e das relaes sociais8.
Foi esta leitura eminentemente poltica dos movimentos populares que os figurou, nas anlises acadmicas e nas
disputas de poder efetivas, como atores de relevncia central para a construo democrtica. Militantes e analistas
empenhados no aprofundamento democrtico concordaram que estes atores expressavam publicamente os interesses dos setores populares, at ento alijados da poltica pela
tradio autoritria brasileira, e da seu impacto democratizante. Ao reivindicarem bens sociais publicamente, os movimentos populares forjariam no apenas aes especficas de
superao de suas carncias imediatas, como tambm uma
ruptura com o autoritarismo poltico: os direitos renovados
que eles pautavam seriam ancorados tanto nas leis quanto
na construo de uma cultura mais democrtica9. Instituase neste momento um nexo normativo bastante forte entre
as noes de democracia poltica e de justia social, que permaneceu durante as dcadas seguintes como o pressuposto
mente nesta direo. Para citar alguns, Sader (1988, p. 312) cita a ampliao
da poltica com base na criao de uma nova concepo da poltica, constituda
a partir das questes da vida cotidiana e da direta interveno dos interessados.
Evers (1984, pp. 12-13) comenta que os esforos das ditaduras militares para suprimir a participao poltica [...] tiveram o efeito exatamente oposto de politizar
as primeiras manifestaes sociais por moradia, consumo, cultura popular e religio. Santos (1994, p. 225) argumenta que a novidade dos novos movimentos
sociais no reside na recusa da poltica, mas, pelo contrrio, no alargamento da
poltica para alm do marco liberal da dicotomia entre Estado e Sociedade Civil.
8
Dagnino (1994). a qual se refere ao 1994a.
9
Telles (1994, pp. 91-2) explicita a ruptura em jogo naquele contexto: No se
trata aqui, preciso esclarecer, de negar a importncia da ordem legal e da armadura institucional garantidora da cidadania e da democracia. A questo outra. O
que se est aqui propondo pensar a questo dos direitos em outro registro. Pois,
pelo ngulo da dinmica societria, os direitos dizem respeito, antes de mais nada,
ao modo como as relaes sociais se estruturam. [...] Seria possvel dizer que, na
medida em que so reconhecidos, os direitos estabelecem uma forma de sociabilidade regida pelo reconhecimento do outro como sujeito de interesses vlidos,
valores pertinentes e demandas legtimas.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
central, quase naturalizado, de grande parte das anlises
sobre a democratizao brasileira. A construo da democracia, centro de elaborao do projeto poltico em pauta
nas esquerdas do pas, produziria igualdade social.
Vinte anos depois, esse nexo entre transformao poltica e mudana social perdeu sua capacidade explicativa. A
construo democrtica brasileira tem sido marcada e pautada, ao contrrio das expectativas militantes, justamente
pela contradio marcante entre a consolidao formal do
Estado de direito (permeada inclusive pela implementao
de um sistema amplo e bem-sucedido de participao poltica da sociedade civil na expanso das polticas sociais10) e
a persistncia (ou agravamento) da desigualdade social. Ao
contrrio do aprofundamento da democracia s relaes
sociais, o perodo democrtico recente foi marcado pela
exploso da violncia e aumento do desemprego estrutural11, especialmente nos grandes centros urbanos, onde a
sociabilidade pblica sofreu restrio importante.
Os movimentos populares sentiram na pele esta contradio. Como atores polticos institudos, estes movimentos
tiveram ambientes pblicos cada vez mais estveis para atuar. Conforme o tempo passava, os marcos legais se tornavam
mais progressistas, os canais de relao com o Estado mais
numerosos e melhor institudos, e apareciam possibilidades reais de participao efetiva na formulao de polticas
pblicas setoriais. Como organizaes sociais das periferias
urbanas, entretanto, estes mesmos movimentos passaram a
10
Ver especialmente Avritzer e Navarro (2003) ou Ribeiro e Grazia (2003). As relaes
entre poltica e sociedade no Brasil tm merecido destaque em muitas publicaes
recentes, como, por exemplo, em Paoli e Telles (2001), Dagnino (2002), Dagnino,
Olvera e Panfichi (2006), Carvalho (1997), Oliveira e Paoli (2000), entre outros.
11
Dados da PED (Pesquisa Emprego e Desemprego Convnio Seade-Dieese) na
Regio Metropolitana de So Paulo indicam Taxa de Desemprego Total de 9,6% em
1986, chegando a 18,7% em 2004, com pico de mais de 20% em vrios meses entre
2002 e 2005 (ltimos dados anuais disponveis). A pesquisa indica ainda uma diminuio significativa nos rendimentos reais dos trabalhadores empregados no perodo democrtico, apesar da pequena recuperao visualizada nos ltimos anos.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
87
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
conviver com a instabilidade de um tecido social cada vez
mais inseguro, tanto pelas novas formas de trabalho, cada
vez menos afeitas a garantir direitos, quanto pela exploso
da violncia, que apareceu cada vez mais prxima dos cotidianos12. Este texto explora alguns elementos deste paradoxo, constitutivo da atuao contempornea dos movimentos populares, a partir de um olhar retrospectivo sobre o
percurso de trs dcadas do MDF.
Nas pistas do movimento de defesa do favelado
Anos 1970
88
No era a poltica que movia as reunies da Legio de Maria,
grupo de religiosas catlicas que, em meados dos anos 1970,
rezavam de casa em casa na favela da Vila Prudente, Zona
Leste de So Paulo. Ler trechos da bblia entre os favelados
era parte da misso de confortar com preces o sofrimento
de pessoas, de todo lado do Brasil, que j h algum tempo
chegavam em grandes levas para tentar a vida em So Paulo. Para estes migrantes, o trabalho numa terra de progresso
seria o signo de uma ascenso social possvel, e o sofrimento de viver em lugares sem gua, luz ou dono seria depois
esse era o plano o fundamento da narrativa dos pioneiros:
quando ns chegamos, aqui em volta era tudo mato.
Mas a reza de casa em casa ganhou outros significados
com o passar dos anos. No final da dcada de 1970, a teologia da libertao j contaminava setores relevantes da Igreja
12
A violncia, alis, hoje a categoria central de quase todas as narrativas de vida dos
que nasceram nas margens de expanso das cidades nas ltimas dcadas. O estigma
das classes perigosas segue operante: os anos 1990 foram repletos de produo de
narrativas jornalsticas e cinematogrficas sobre a exploso de uma violncia considerada banal nas grandes cidades, que contaminou tambm a produo bibliogrfica: o sucesso de relatos como os de Barcellos (2004); Soares, Bill e Athayde (2005),
Ferrz (2005) e Lins (1997) , de modos distintos, parte do mesmo fenmeno. Num
contraponto a essa tendncia, Alba Zaluar segue oferecendo pistas relevantes (ver
uma compilao de seu trabalho recente em Zaluar, 2004) para pensar as relaes
entre periferias urbanas, violncia e democratizao.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
Catlica e j tinha o aval da Confederao Nacional dos Bispos do Brasil, cujas lideranas influenciavam diretamente
as comunidades de base e pastorais em So Paulo. Foi nessa poca que novos missionrios chegaram favela da Vila
Prudente, e as reunies de reza passaram tambm a discutir
temas mundanos: a precariedade da moradia, o cheiro do
esgoto a cu aberto, a falta de gua e luz para as famlias, de
creches e escolas para as crianas, a violncia13.
Aos poucos, de um trabalho estritamente religioso
desenhava-se uma prtica social popular, ancorada numa
narrativa simultaneamente socialista e crist, que j chegava aos moradores de favelas embebida da legitimidade
prpria dos religiosos junto aos setores populares. A opo
preferencial pelos pobres professada pelos novos padres
e irms, agora tambm moradores das periferias urbanas,
encontrava um solo propcio para se desenvolver. Alm de
os pobres serem muitos, os vnculos entre a religiosidade
e a celebrao do trabalho e do progresso, presentes nesta
narrativa, casavam-se perfeitamente com a utopia privada
das famlias que chegavam s periferias: Deus h de dar um
trabalho pra gente progredir, ser algum na vida.
Neste contexto, a reza na Vila Prudente se tornou um
meio para organizar o povo em aes de melhoria concreta
das condies de vida. Grupos de jovens, estudantes e moradores passaram a auxiliar os religiosos nos cultos e especialmente nas aes comunitrias, que incluam desde salas de
alfabetizao de adultos, seguindo o mtodo de Paulo Freire,
13
Importante ressaltar que os relatos de pesquisa j identificam a presena da
violncia urbana entre as favelas paulistanas no final dos anos 1970, embora o
crescimento alarmante do tema ocorra nas dcadas seguintes. A violncia praticamente no aparece na literatura especfica sobre os movimentos sociais da periferia, em parte pela legtima recusa dos autores em reforar o esteretipo trazido
pelas teorias da marginalidade, que associavam diretamente pobreza e violncia, e
em parte porque esta violncia nascente, sendo considerada subproduto direto da
desigualdade, deveria ser suplantada pela democratizao da cena poltica, que se
mostrava vivel pela ascenso dos movimentos populares.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
89
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
90
at a construo da rede de esgoto canalizado da favela, em
mutiro tocado pelos prprios moradores. A concretizao de
benefcios fundamentais ao morador da favela foi aos poucos
ampliando a participao nos grupos comunitrios, que se
encontravam toda semana. Alguns dos favelados paulistanos,
envolvidos diretamente nas mobilizaes, comearam ento a
circular por reunies crescentemente politizadas. Nestes espaos, jovens militantes conheceram a fama das personagens de
esquerda que voltavam do exlio, e fazer parte das suas lutas os
estimulava a seguir reunindo os moradores de cada favela, s
vezes mais de uma vez na semana, para fazer alguma coisa.
J na virada para os anos 1980, a abertura do regime
favorecia a circulao de discursos novos nestas reunies.
As notcias das greves que estouravam no ABC, onde alguns
moradores da Vila Prudente trabalhavam, chegaram rpido
e trouxeram baila conversas sobre um sindicalismo combativo, que impunha respeito ao patronato. As narrativas
celebravam o poder popular de transformao e as virtudes das classes populares. As teleologias crist e socialista se
encontravam sobre um pano de fundo favorvel: a populao lutava por ascenso social, o progresso do mundo levaria transformao, as classes populares seriam as protagonistas da conquista de justia social.
Na favela da Vila Prudente j se falava tambm das
articulaes em torno da criao de um partido poltico
de trabalhadores, nas quais estariam presentes muitas das
lideranas progressistas da Igreja Catlica (como Dom
Luciano Mendes de Almeida, que apoiava diretamente
as lideranas dessa favela), alm dos sindicalistas do ABC,
como Lula. Muitos dos personagens que voltavam do exlio
poltico tambm se empenharam na criao do partido em
So Paulo, como Paulo Freire, que passou a freqentar assiduamente as reunies da comunidade da Vila Prudente.
Um partido de trabalhadores, construdo coletiva e organicamente, seria a possibilidade de migrao efetiva das
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
demandas e anseios das comunidades de periferia para a
esfera poltica14. O partido representaria politicamente os
setores populares organizados e, at por isso, seus procedimentos internos de organizao foram, naquele contexto,
muito parecidos aos utilizados para organizar os trabalhos
de base junto aos setores populares15.
Os moradores da Vila Prudente envolvidos nas reunies locais, minoria estrita dos milhares de indivduos que j
viviam pela favela, comearam tambm a circular por espaos
ampliados de militncia as reunies do sindicato, do partido, as manifestaes em frente a prdios pblicos. recorrente, ao entrevistar militantes de movimentos desse perodo,
que suas narrativas sejam profundamente subjetivas relatos
de emancipao pessoal e poltica ao se recordarem das
lutas neste contexto. Circulando pela cidade os favelados
sentiam ter voz e descobriam o mundo; contar suas histrias
em espaos ampliados j era fazer poltica. Os anos seguintes
foram invariavelmente intensos para estas pessoas e, sem que
se notasse, logo os favelados da Vila Prudente e seus assessores passaram a se chamar de movimento. Foi assim que
surgiu, sem nenhum tipo de formalizao, o Movimento de
Defesa do Favelado, conhecido por todos como MDF.
14
O PT vai hegemonizar este campo de discursos em So Paulo e em algumas outras capitais importantes, desde sua fundao, embora alguns grupos de esquerda
no aderissem aposta na democracia liberal como caminho para a transformao social. Parte destes grupos nunca se inseriu no PT, mantendo-se politicamente muito restrita, e parte retirou-se ou foi expulsa no correr dos anos, conforme
o programa do partido migrava para o centro. No Rio de Janeiro e no sul do
pas, o PDT e outros partidos de esquerda tambm executaram papel importante
na agregao dos setores movimentistas. Partidos como o PMDB e o PSDB, com
trajetrias muito distintas, tambm oferecero nortes programticos a pessoas e
organizaes que haviam se empenhado na queda da ditadura, mas no se identificavam com o programa de transformao esquerda que o PT trazia fortemente
desde sua criao.
15
Um militante dos movimentos sociais do perodo, brincando sobre essa proximidade entre movimento, trabalhos comunitrios, partido e sindicato, conta que ela
se materializava em reunies: das 2h s 5h: das 2h s 3h era Pastoral, das 3h s 4h
movimento sindical, das 4h s 5h era PT. S mudava a pauta, mas as pessoas eram
as mesmas!.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
91
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
Anos 1980
92
Logo na primeira metade da dcada de 1980, dada a efetiva
abertura do regime poltico e a circulao cada vez mais macia de discursos de crtica ao passado autoritrio, os participantes do MDF sentiram que a realidade conspirava a seu favor.
O Brasil progredia, a destituio do regime autoritrio significaria transformao rumo igualdade social, e era hora de
apostar alto na poltica. O governo municipal de So Paulo, a
partir de 1983, tambm imerso nesta renovao discursiva16,
passou a considerar os moradores das favelas como merecedores dos servios pblicos de gua e luz. J no era possvel
ignorar tanta gente, e marcava-se assim uma diferena importante em relao aos governos anteriores, cuja poltica para as
favelas estava centrada nas tentativas de remoo17.
Ao mesmo tempo, o novo governo sabia que a distribuio pblica de servios essenciais aos domiclios, ao longo de
algum tempo, poderia ser utilizada pelas famlias faveladas
para legitimar a posse do terreno ocupado18. Para defenderse desta possibilidade, as empresas pblicas passaram a instalar nas favelas pontos de distribuio coletiva de gua e luz, s
vezes um ponto para 100 ou 200 casas. As pessoas passaram
a buscar gua nesses pontos coletivos e a fazer suas ligaes
16
Mrio Covas foi o prefeito de So Paulo pelo MDB, indicado por Franco Montoro, de maio de 1983 ao final de 1985.
17
Foram recorrentes na pesquisa as referncias ao governo municipal Jnio Quadros como o perodo de maior intensidade nas tentativas de remoo, como neste
trecho de uma das principais lideranas do movimento: era muito grande o povo
que vinha sofrendo, com o Jnio, com outros governos, que queriam mais desfavelar, que entendiam a favela como desfavelamento, levar o favelado, construir casa,
construir projeto pra levar pra longe.
18
Por que que o poder pblico no queria ligar [gua e luz nas favelas]? No
que os favelados no pagassem pelo risco de inadimplncia no. que o recibo
configurava posse. Se voc provar que voc pagou uma conta de luz, ou uma conta
de gua h tantos anos, hoje, por exemplo, te d direito de usucapio. Ou seja, a
posse da terra se configura pela comprovao do tempo que voc utiliza aquela
terra. Portanto era por isso que eles no queriam institucionalizar o acesso a esse
direito, de gua e luz [Erundina]. (Doravante, os nomes dos entrevistados em
pesquisa emprica aparecem entre colchetes.)
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
de luz a partir dos postes instalados nas redondezas. Como o
regime de cobrana das empresas progressivo, conforme o
uso, os pontos coletivos de distribuio geraram contas astronmicas e no era possvel pag-las. A sada privada foi partir
para as ligaes clandestinas, individualizadas, mas o MDF viu
a um rebaixamento do estatuto de cidadania dos moradores
de favela e resolveu protestar publicamente. Iniciou-se assim
uma articulao especfica, entre pequenos grupos militantes
das favelas de So Paulo, em torno da luta pelo abastecimento individualizado de gua e luz. Essa articulao interessava
a muitos, no entanto, e ampliou significativamente os participantes do MDF.
As discusses entre estes grupos transformaram-se na
luta pela taxa mnima de gua e luz para os moradores de
favela, que foi referida, durante toda a pesquisa emprica que
realizei, como a primeira grande reivindicao coletiva do
MDF. Era a primeira vez, em j alguns anos de mobilizao,
que o movimento julgava adequado pressionar o governo.
Antes disso, agia-se no plano local e em busca de melhorias
pontuais, como nos mutires informais para a construo
do esgoto na Vila Prudente, mas no se mexia com os atores pblicos formais. A partir de agora, num cenrio mais
democrtico, seria preciso pressionar os governantes para
que cumprissem o seu papel pblico: o favelado agora seria
cidado e, portanto, poderia exigir seus direitos sociais. Era
uma outra gramtica poltica que se colocava em marcha.
A dimenso do processo poltico que se iniciava ali ainda era insuspeitada. A luta pela taxa mnima cresceu tanto
e gerou tanta mobilizao de base que nos debates pblicos
veio tona um dado notvel: quase metade da populao
de So Paulo morava em favelas, cortios ou reas irregulares. Em 1983, esta luta foi ento assumida pela vereadora
recm-eleita Luiza Erundina, do PT, cujo histrico de atuao militante em diversas favelas de So Paulo produzia
iniciativas similares s da Vila Prudente. Erundina, eleita
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
93
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
94
vereadora basicamente pelo voto dos favelados, articulava
em torno do seu mandato parlamentar o Movimento Unificado de Favelas (MUF), ao qual o MDF aderiu imediatamente19. Em abril de 1984, o MDF e o MUF marcaram
presena no comcio histrico pelas Diretas J! para presidente, no Vale do Anhangaba. Os militantes do perodo se
lembram muito mais, entretanto, da manifestao de 13 de
junho de 1984, quando o MUF foi em passeata ao Palcio
do Governo exigir a taxa mnima para os favelados. Ainda que intensamente reprimido pelas foras da ordem, o
movimento conseguiu o que queria. Uma semana depois,
seus representantes foram recebidos pelas empresas pblicas de distribuio, para fecharem o acordo que estabelecia
a cobrana de uma taxa social domiciliar de gua e luz
para os moradores das favelas de So Paulo20.
Essa conquista pblica fortaleceu todo o movimento,
e isso repercutiu tambm na Vila Prudente. A demonstrao de benefcios concretos aos favelados, obtidos pela ao
coletiva, trazia mais moradores para a luta; e as assemblias
do MUF lotadas deixavam claro que havia muitos outros
grupos de favelados mobilizados como eles. O movimento
dos favelados construa poder poltico e, portanto, mudava
o diagrama de compreenso de suas privaes: as mazelas
sociais das maiorias deixavam de ser figuradas como fracasso pessoal ou familiar e passavam a ser vistas como injustia
social. Como era o Estado autoritrio o principal adversrio
daquele campo, ainda no incio dos anos 1980, foi simples
supor que as injustias sociais viriam a ser suplantadas pela
democratizao. Os setores populares que aderiram ao que
19
Tanto a criao do PT, quanto da Central nica dos Trabalhadores (CUT) e do
MUF respondiam, em diferentes escalas, intencionalidade estratgica de produzir sujeitos polticos representativos de setores sociais at ento destitudos do
cenrio poltico, em perodo de transio de regime.
20
Vale ressaltar que o acordo no foi legalizado, mas assumido pelas empresas e
cumprido at recentemente, quando essas empresas foram privatizadas.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
seria posteriormente chamado de projeto democrticopopular, do qual o PT foi ator central, claramente traziam
consigo esta demanda.
O nexo entre o clima de democratizao poltica e a
promessa de justia social do perodo fortaleceu estes movimentos de base, e o MDF cresceu muito nos anos 1980.
Na estratgia de unificao das lutas, muitas outras favelas
menos organizadas foram agrupadas sob o guarda-chuva do
movimento, em toda a Regio Episcopal Belm, para utilizar o termo das comunidades de base. O MDF seria o representante dos interesses das favelas dos distritos de Ipiranga, Belm, Vila Prudente, Parque So Lucas, Sapopemba e
So Mateus, com vnculos fortes tambm em Santo Andr.
A expanso rpida do movimento demandou mudanas
em sua organizao interna: decidiu-se pela manuteno
e remunerao de uma equipe central de militantes, para
possibilitar maior dedicao aos trabalhos e maior ateno
s articulaes mais amplas do campo movimentista 21.
O organograma do MDF passou a prever, a partir da, trs
instncias de suporte a essa equipe de militantes profissionais:
i) suporte popular pelas lideranas de base das quase 40 favelas
j vinculadas ao MDF naquele momento, que engrossavam as
mobilizaes e possibilitavam capilaridade s aes; ii) suporte
por tcnicos especialistas (advogados, arquitetos, engenheiros), que acompanhavam e assessoravam as obras empreendidas, bem como as aes pblicas e demandas do campo; e iii)
suporte por polticos e parlamentares (em geral ex-militantes
jovens do movimento eleitos vereadores ou deputados estaduais), que atuavam junto ao partido e nos parlamentos como
portadores dos interesses do movimento. Religiosamente, as
assemblias mensais do MDF unificavam este grupo todo na
discusso e deliberao das linhas gerais de atuao.
21
Essa equipe central de lideranas do MDF era paga com recursos obtidos junto s
organizaes catlicas Cafod e Trocaire, da cooperao internacional irlandesa.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
95
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
96
Vale lembrar que, graas ao papel articulador representado no cenrio mais amplo, o PT e os intelectuais orgnicos do partido, entre eles os assessores do movimento,
j apareciam como atores centrais do campo movimentista
tambm em esfera mais ampla. Nos trabalhos de base catlicos e na formao sindical, os militantes recm-chegados
passavam a ser estimulados a freqentar tambm as reunies do partido e a considerar sua centralidade para a transformao social e popular em vista.
J no comeo desse processo, em 1985, o MDF se tornou uma figura jurdica, o que facilitaria as relaes institucionais do movimento com os governos e outros rgos de
financiamento externo. Tanto a direo como as lideranas
de favelas e assessorias se tornaram scias da entidade: o
MDF deixava de ser uma organizao comunitria, centrada
na Vila Prudente, e se tornava um movimento articulador
de entidades comunitrias, agora com sede em um escritrio na Vila Alpina. Esta frmula de organizao interna, que
obteve recursos internacionais de organizaes religiosas
por mais de duas dcadas seguidas, sustentou materialmente o movimento at os dias de hoje.
O MDF passava ento a intermediar diversas escalas
de atuao social e poltica; seu modo de agir se tornava
muito mais complexo. Para que se tenha uma idia disso, o
movimento que nasceu na favela da Vila Prudente em 1978,
sete anos depois j atuava em mais de 40 favelas da Zona
Leste, estimulando em cada uma delas a execuo de obras
coletivas de melhoria, em regime de mutiro autnomo, e
a organizao poltica dos favelados. A Vila Prudente seguia
dando o exemplo: depois de concludas as obras do esgoto
canalizado, foram construdas, ainda nos anos 1980, uma
creche comunitria e uma casa de cultura, alm de reformadas algumas vielas e barracos em situao de risco.
No plano poltico municipal, o MUF percebia que, aps
a conquista da taxa mnima de gua e luz, era preciso haver
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
uma nova bandeira agregadora dos diversos movimentos
comunitrios esparsos pela cidade. A estratgia foi ento lanar, j em 1986, uma nova campanha geral, de interesse de
todos: a luta pela Concesso do Direito Real de Uso (CDRU).
Do ponto de vista urbanstico as favelas seguiam irregulares,
e mesmo que o desfavelamento j no fosse politicamente
vivel, nenhum morador possua a documentao formal da
casa em que vivia e, portanto, nem garantia legal do direito
permanncia nela nem a possibilidade de pass-la aos seus
filhos. O movimento de favela, como se referem ao MUF
muitos dos militantes daquele perodo, assumiu ento a causa da regularizao fundiria em So Paulo, pregando a posse coletiva da terra, com garantia legal e individualizada para
o uso dos moradores22.
Havia uma distino poltica fundamental entre essa
nova luta, pela CDRU, e a anterior, pela taxa mnima de
gua e luz. Se na primeira mobilizao as favelas se contentaram com um acordo extra-oficial junto s empresas
prestadoras de servios, que garantia um benefcio social (a
taxa mnima de gua e luz para moradores de favela, apesar
de concretizada naquele perodo, no se materializou na
forma de lei e, portanto, no garantiu o direito legal aps
a privatizao destas empresas), no caso da CDRU a luta
exigia garantia legal de direitos. A presso j era pela garan22
Este instrumento jurdico ativava entre os militantes a memria das lutas da Assemblia do Povo de Campinas (1979 e 1981 ver Dagnino, 1994b). Marcelo, um
dos principais assessores do MDF, advogado e hoje assessor parlamentar, caracteriza juridicamente essa proposta: o trabalho que a gente fez, de mais significado,
eu acho que foi a luta pela posse da terra, quando ns discutimos com a populao a questo da Concesso do Direito Real de Uso, que um instituto jurdico
que foi feito na poca da ditadura, 1967, um decreto-lei ainda, que constitui esse
instituto. E ns usamos esse instituto exatamente pra garantir a posse do pessoal,
levando em considerao que voc no fica com a propriedade, voc garante esse
exerccio. No uma questo precria, um direito real, ento a pessoa pode registrar esse direito real. [...] No chega a ser uma escritura, mas um documento
que confere a ele o direito da posse da terra, por um prazo longo, e que voc acaba com aquele temor da desocupao. Isso foi amplamente discutido nos ncleos
de favela.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
97
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
98
tia do direito fundamental moradia, na letra da lei, para
todos os favelados de So Paulo.
A mobilizao de base para presso poltica seguia como
a estratgia central do movimento, mas era agora associada
ao institucional de advogados e assessores tcnicos, que
estudavam qual seria a melhor forma de garantir o direito
terra aos favelados, mantendo o princpio de no defender a
propriedade privada23. Na apario deste tipo de ao mais
formal dos movimentos, o partido tornou-se tambm mais
central para a mobilizao: os movimentos contavam com a
negociao da aprovao do projeto da CDRU na Cmara
dos Vereadores, o que se faria, em ltima anlise, pela atuao dos parlamentares petistas eleitos por eles. Desde este
perodo, em So Paulo, o PT passou ento a ser o mediador
poltico fundamental entre os movimentos sociais e a institucionalidade poltica. No foi ento por acaso que o MDF
se vinculou ao partido, como dezenas de outros movimentos semelhantes, e passou a enfatizar a atuao poltica s
aes pontuais de melhoria em cada favela assessorada24.
Tambm no foi por acaso que a Campanha da Fraternidade da CNBB, em 1986, teve como tema Terra de Deus,
23
At aqui estava garantido que eles resistiriam, pra no serem despejados, mas isso
era uma situao instvel, precria, ento era preciso garantir a sua permanncia nas
reas, atravs do direito real de uso. E a veio toda uma discusso que teve uma importncia poltica grande, no seio do prprio movimento: seria um direito individual,
famlia por famlia, ou seria um direito coletivo, direito real de uso da rea como um
todo, para o conjunto daquelas famlias. E a houve divergncia no movimento. [...] A
vertente mais avanada do movimento, da qual ns participvamos, desde a origem,
entendamos que seria um avano a posse coletiva, o direito real de uso coletivo, a
posse coletiva, pra no reproduzir a propriedade capitalista, o princpio capitalista da
propriedade. Porque voc termina reproduzindo, n? A famlia que est com dificuldade financeira vende, e especula, dentro da prpria [favela]. [Erundina]
24
O que bastante claro para as lideranas do MDF: e depois a gente comeou
num trabalho mais poltico mesmo, n? A partir de representar o MDF noutras
organizaes, na poca era o MUF (Movimento Unificado de Favelas) [...] [depois
na UMM], ento a gente foi ampliando nesse sentido. Depois um pouco, nos ltimos anos, na relao com a Cmara Municipal, n? Que a gente tem relao com
alguns parlamentares do PT, n, ento tambm nessa dimenso mais realmente
poltica. [Snia]
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
terra de irmos. Os movimentos de base, conectados at
ento a atores de relevncia nacional como a CNBB, produziam aes articuladas. A campanha pautava os debates da
reforma agrria e urbana, com vistas s mobilizaes sociais
em torno da Assemblia Nacional Constituinte que se gestava. O suporte e a legitimidade da CNBB, neste ano, foram
decisivos para a luta da CDRU entre 1986 e 1988. Foram
anos agitadssimos para o MDF. Os militantes dividiam-se
entre a luta pela Concesso do Direito Real de Uso da terra
para todas as favelas da cidade de So Paulo, as mobilizaes poltico-partidrias em torno da Constituinte e a atuao poltica das igrejas e comunidades de base, que assessoravam dezenas de associaes comunitrias da Zona Leste.
Foi o estgio mais avanado do movimento, me diria Luiza Erundina, quase vinte anos depois, referindo-se luta pela
CDRU. Ningum melhor que ela para constatar a relevncia
poltica daquele momento: na esteira da popularidade conquistada como uma das lideranas desse processo de lutas, Luiza Erundina teve legitimidade suficiente para, em 1988, tornarse a candidata do PT prefeitura de So Paulo, em disputa partidria que contou com Plnio de Arruda Sampaio. No havia
expectativa de vitria a princpio, mas a campanha cresceu
muito nas semanas finais, e Erundina terminou por vencer as
eleies municipais, tornando-se a primeira mulher a governar
a cidade de So Paulo, e pelo PT. Esta surpresa, mesmo para os
favelados de So Paulo, fez com que todo o cenrio de atuao
poltica do MDF se alterasse radicalmente25.
A nova prefeita de So Paulo no tinha apenas sua origem poltica nos movimentos de favela; ela ainda era parte
integrante e fundamental da articulao destes movimentos.
25
So inmeras as referncias surpresa dos militantes na constatao da vitria
eleitoral do PT em 1988. Erundina foi eleita numa conjuntura especfica, com o
diferencial relevante do voto til das classes mdias contra Paulo Maluf; mas efetivamente teve suas bases eleitorais entre as populaes faveladas das Zonas Sul e
Leste do municpio de So Paulo.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
99
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
A eleio de Erundina no poderia deixar de ser lida, por
estes setores mobilizados, como a ascenso deles prprios
ao Executivo municipal. A representatividade dos setores
populares pelos movimentos e pelo PT, mais do que nunca,
era considerada um dado natural. A composio dos quadros de confiana da prefeitura empossada em 1989 se fez,
quase que inteiramente, na distribuio negociada de cargos a ex-lideranas populares de movimentos, at ali organizados informalmente ou precariamente institucionalizados,
alm dos sindicalistas e intelectuais vinculados ao PT26.
Anos 1990
100
O governo da maior cidade do pas, na virada para os anos
1990, situava em definitivo o PT como partido relevante
para o cenrio poltico nacional. Nas favelas da Zona Leste da cidade, o MDF passava evidentemente a atuar como
um dos braos de sustentao do Executivo municipal.
Se h alguns anos o movimento se fortalecia justamente
na presso contra os governos e na articulao ampla de
grupos favelados em torno de um discurso autonomista,
agora ele se sentia parte de uma administrao municipal,
o que implicava no s apoiar o partido e o governo em
cada debate, ou cada arena de relao entre movimentos
e governo, mas contribuir efetivamente para a administrao dos programas de governo implementados. A natureza
mesma do movimento como ator social e poltico deveria
ser alterada, e assim se fez.
O MDF que h pouco tempo administrava apenas os
recursos de manuteno, ou obtidos em festas religiosas e
rifas comunitrias, para realizar obras pontuais nas favelas,
26
A presena inicial de nomes como Paulo Freire (Educao), Eduardo Jorge
(Sade), Marilena Chau (Cultura) e Nabil Bonduki (Habitao) nas secretarias
de governo, todos eles at ali bastante envolvidos na militncia junto aos setores
populares, fazia do governo Erundina um espao bastante aberto para as aes
articuladas com os movimentos sociais.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
agora precisava se organizar para o engajamento efetivo na
gesto de grandes projetos municipais para a populao
favelada. Muitas vezes, o movimento se viu discutindo e
negociando projetos pblicos sobre o imenso mapa da cidade, com recursos em pauta at ento inimaginveis. Era a
discusso sobre a gesto de polticas pblicas chegando,
de uma vez por todas, aos movimentos populares. O amadurecimento do debate poltico no interior do MDF a partir
desta experincia inegvel; o movimento se tornava um
ator poltico constitudo em solo mais firme, o que almejava
h tempos, e atuaria na interface entre governos e sociedade civil mediando a construo de polticas pblicas.
Evidentemente, a construo artesanal das relaes
entre o movimento e as suas bases nas favelas, que o legitimava publicamente, passou a ser feita com menos afinco.
A estrutura de mediao entre Estado e sociedade estava
em plena construo, e os movimentos sociais foram forados a assumir sua tarefa nela s custas de submeter-se, conscientemente, falta de tempo e ao excesso de trabalho que
acompanham os militantes de um processo poltico desta
magnitude. Agora na Prefeitura, alm do mais, o movimento tratava de projetos de amplitude bem maior e, portanto, deveria considerar no apenas suas bases especficas a
cada ao planejada. Ao contrrio, deveria levar em conta uma srie muito mais extensa e plural de sujeitos populares, desde as organizaes de base vinculadas a outros
partidos polticos at os clubes desportivos e organizaes
filantrpicas, passando pelos interesses privados de vereadores, condomnios, comerciantes etc. As negociaes e os
diagramas de resoluo de conflitos se tornaram bem mais
complexos e exigiam qualificaes especficas. Passaram a
ser mais valorizados internamente ao campo militante, para
este perfil de atuao, os indivduos leais gesto municipal
(e ao partido) e que fundamentalmente estivessem capacitados, do ponto de vista tcnico, para auxiliar na tarefa de
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
101
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
102
administrar a cidade de So Paulo. Boa parte dos quadros
populares dos movimentos como o MDF, quase sempre formados na atuao militante e pastoral, pouco escolarizados
e capacitados formalmente para a gesto, passou a ocupar
cargos subalternos tanto no governo quanto no partido.
A conseqncia lgica desse processo que, apesar das
mudanas internas, as organizaes populares, comunitrias
e religiosas como o MDF passaram a ocupar espaos bem
menos relevantes na disputa poltica interna ao governo,
e o partido poltico que vai progressivamente assumindo
papel de ator central no campo democrtico-popular27.
No mbito interno ao PT as mudanas tambm eram profundas: a partir da primeira grande derrota eleitoral para
presidente, em 1989, e das primeiras administraes municipais importantes nacionalmente (So Paulo, Porto Alegre,
Vitria), o partido decidia caminhar para um programa
paulatinamente mais instrumental, centrado na ascenso
ao Estado: se antes a mudana (ou a construo da hegemonia) partiria das bases, agora percebia-se que o Estado deveria ser o lcus de irradiao do projeto de transformao
esquerda. A partir do Estado, o partido construiria uma
democracia participativa que poderia radicalizar a participao popular na esfera poltica. O partido pautava assim
um papel especfico para os movimentos populares como
o MDF; seus quadros deveriam, agora, ser tambm submetidos a formaes e capacitaes para esta nova tarefa.
Militantes de base passaram ento a conviver com inmeras
ofertas de cursos de formao de lideranas, capacitao
para gesto de polticas pblicas etc.
No MDF no foi diferente, e uma das primeiras conseqncias deste cenrio foi a traduo silenciosa do movimento de favelas em movimento de moradia. Se no cen27
As diferenas entre as formas de organizao do movimento e do partido, alis,
que na origem eram mais retricas que prticas, passaram tambm a se estabelecer muito mais claramente a partir daqui.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
rio anterior, para fazer presso era necessrio agregar-se
ao mximo a outros movimentos, e da um MUF fazia todo
sentido, agora que o movimento governo, quanto mais
setorializadas e especficas as demandas, mais geis podem
ser as solues. A pulverizao do MUF entre movimentos
e grupos com demandas setoriais foi inevitvel, e este
um dos fatores do declnio rpido da apario pblica do
movimento de favela durante a gesto Erundina. Surgiu,
entretanto, uma srie renovada de fruns temticos e entidades articuladoras setoriais, especializadas nas relaes de
grupos movimentistas organizados por demandas com as
secretarias de governo (sade, educao, moradia, assistncia social, saneamento, obras etc.). O MDF abandonou a
amplitude dos temas reivindicados pelas favelas; traduzia-se
num movimento de moradia e, mais tarde filiou-se Unio
dos Movimentos de Moradia (UMM).
At por isso, a atuao do movimento no governo Erundina se concentrou nas relaes com a Secretaria Municipal
de Habitao. Como se sabe, as polticas de habitao popular naquela gesto do PT tiveram como estratgia principal
a realizao de mutires habitacionais autogeridos, com
intensa participao dos movimentos sociais de base na
gesto dos canteiros de obras28. O MDF tornou-se parceiro
direto da prefeitura municipal em vrios destes mutires,
na Zona Leste de So Paulo29. Construir centenas de casas
populares em mutiro, em cada canteiro de obras, exigia do
movimento uma habilidade gerencial impressionante, alm
de uma srie de competncias profissionais especficas.
Entraram ento em cena as assessorias tcnicas dos
mutires, contratadas pela prefeitura, e que trabalharam
28
O debate sobre essas iniciativas imenso na literatura sobre o urbanismo em So
Paulo e reverbera ainda hoje. Para uma descrio interna ao governo Erundina,
ver Andrade, Rosseto e Bonduki (1993).
29
Inclusive nos mutires histricos para o movimento de habitao em So Paulo,
como a Fazenda da Juta, no distrito de Sapopemba.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
103
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
104
muito prximas dos movimentos de moradia durante toda
a dcada de 199030. Esta nova composio de atores contribuiu para que se consolidasse o perfil de atuao movimentista mais competente gerencial e tecnicamente e mais
centrado na intermediao entre decises de governo e
execuo de polticas pblicas. Efetivamente, os setores
populares organizados em movimentos passavam a se constituir mais solidamente como atores polticos, encontrando
nas parcerias com o Estado para execuo de programas
de governo o seu nicho de atuao pblica. Estas mudanas internas no so privilgio do MDF, evidentemente: elas
fazem notar o desenvolvimento do processo que a literatura dos movimentos sociais denominou como sua insero
institucional31. Em meados dos anos 1990, a tecnificao
e a profissionalizao das organizaes sociais e populares
j era uma tendncia da estrutura associativa da sociedade
civil brasileira. Nesta passagem, a contra-esfera pblica
movimentista dos anos 1970 e 1980 tambm se inseriu institucionalmente, e seus atores passaram a fazer parte do jogo
poltico constitudo.
Os anos de mudana intensa sempre passam rpido. O
governo Erundina j estava no final quando foi levado para
a Cmara Municipal o projeto de regulamentao da Concesso do Direito Real de Uso da terra para as favelas. Tramitando desde 1986, o projeto seria votado ainda durante o
governo popular, mas em cenrio poltico j radicalmente
diferente daquele que o instituiu. Como no poderia deixar
de ser, a negociao desse processo j foi quase inteiramente represada aos espaos institucionais, e a setorializao
30
Essas assessorias, em geral ONGs constitudas por arquitetos e engenheiros, tambm faziam parte do campo das esquerdas, em geral por terem sido constitudas
como um contraponto s empreiteiras, que dominavam o mercado da construo
civil e as licitaes pblicas em todo o pas.
31
Insero essa exaustivamente debatida na literatura de at meados dos anos 1990
e valorada de modos muito diversos. Ver, por exemplo, as distintas concluses de
Doimo (1995) e Carvalho (1997).
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
dos movimentos, com o declnio do MUF, j no permitia
tanta presso conjunta sobre a Cmara de Vereadores. Os
grupos de oposio prefeitura tambm j disputavam de
modo mais feroz a base eleitoral crescente das favelas e cortios32, e o projeto de lei no passou. Faltou um nico voto,
o de Biro-Biro, ex-jogador do Corinthians, que mudou de
idia no ltimo momento. A frustrao foi grande no MDF:
as lideranas disseram ter perdido motivao, e os moradores de favela, que j no acompanharam de to perto as discusses, permaneceram sem a garantia legal do direito de
habitar a metrpole33. Foi assim que o governo Erundina
terminou para o MDF.
Tudo seria ainda bem pior para o movimento a partir
de 1993, com a derrota do PT nas duas eleies municipais
que se seguiram. Paulo Maluf assumiu a prefeitura municipal e, no plo oposto do espectro ideolgico, tinha os
movimentos populares vinculados ao PT como adversrios
diretos. Na rea da habitao, os mutires foram paralisados e os contratos com as assessorias tcnicas no foram
renovados; o movimento passou ento a conviver tambm
com a escassez dos recursos materiais para a execuo de
projetos. Outras polticas pblicas entraram em cena e,
no caso das favelas, durante o governo Maluf teve imensa
visibilidade em So Paulo a construo de prdios populares do Projeto Cingapura34. O MDF, de co-gestor destas
32
Especialmente os setores liderados por Walter Feldman, que articulavam uma
srie de favelas e cortios ex-participantes do MUF para combater a noo da posse coletiva da CDRU, apostando em um projeto que favorecesse o mecanismo de
compra e venda das casas pelos moradores de favelas.
33
O Estatuto da Cidade, em contexto novamente muito distinto, fundamentaria
na dcada seguinte a regularizao das condies de ocupao das reas de favela
em todo o pas.
34
O Projeto Cingapura foi fundamental na poltica habitacional do prefeito Paulo Maluf (1993-1996), elaborada em evidente reao ao crescimento dos mutires, na maioria autogeridos por movimentos populares da gesto anterior (Luiza
Erundina, 1989-1992). A despeito das resistncias moleculares, o projeto foi implementado amplamente e teve continuidade na gesto Celso Pitta (1997-2000).
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
105
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
106
polticas, passou ento a se ver na posio de combat-las
publicamente, tendo por vezes que disputar com o novo
governo suas antigas lideranas de base, especialmente nas
favelas beneficiadas pelo Cingapura35.
Todo o campo dos movimentos populares de So Paulo acabara de fazer um esforo enorme de reestruturao,
interna e externamente, para atuar como governo, alinhado
aos marcos poltico-partidrios e s necessidades da gesto36.
Entretanto, o novo governo j no queria mais estes movimentos. Tambm j no era mais possvel, com a nova estrutura organizativa do campo movimentista, mobilizar as bases
populares para fazer resistncia: nas mudanas de contexto,
a capacidade reivindicativa de todo o campo j declinara
definitivamente. Em meados dos anos 1990, pela perda de
uma esfera pblica reivindicativa que lhes oferecia caixa de
ressonncia aos discursos, as narrativas socialistas e politizadas do MDF junto grande maioria dos favelados, e mesmo
perante o mundo pblico, j pareciam palavras ao vento.
Para continuar sobrevivendo como ator poltico durante as gestes Maluf e Pitta o MDF dedicou-se ao PT. Materialmente, o movimento ainda contou com recursos para
sua manuteno vindos da cooperao internacional religiosa, e parte da equipe tcnica passou tambm a atuar na
assessoria a mandatos de parlamentares petistas. O MDF,
que entrara na dcada de 1990 em seu auge, saiu dela em
seu momento mais difcil. A despeito da sua consolidao
35
Snia, uma das lideranas histricas do MDF, narra esse processo de disputas
pela base nos termos da cooptao: Nos ltimos anos (1993-2000), Maluf e Pitta
deram uma arrebentada. Cooptaram liderana, [...] coisa assim, que voc entregou a noiva pronta, quer dizer, uma favela que a gente acompanhava [...] na poca
a Luiza [Erundina] deixou inacabado, a ele [Maluf] terminou rpido. Cooptou
uma das lideranas, que as outras tambm j estavam com muitos anos de luta,
cansados, ento um exemplo: no fomos convidados [o MDF] nem pra inaugurao [do conjunto habitacional].
36
Porque queira ou no queira, o MDF, pra se fortalecer, depende do Poder Pblico. Por mais que voc crie coisas alternativas, uma relao assim, forte com a
Prefeitura [Snia].
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
como ator poltico, o movimento passou a conviver nestes
anos com uma questo at ento insuspeitada: sua representatividade junto aos setores favelados, antes um dado
natural, agora era progressivamente desafiada.
Anos 2000
Enquanto o MDF se transformava para acolher as novas
demandas do sistema poltico, as favelas de So Paulo tambm se transformaram muito profundamente: os meninos
e meninas nascidos nas periferias da cidade no final dos
anos 1970, portanto seres contemporneos ao MDF, na vida
adulta j no compartilhavam da crena no trabalho e no
progresso (pessoal, da famlia, do pas) que havia marcado
a vida dos seus pais e sido terreno frtil para ao militante
de esquerda nos anos 1970. O solo no qual estes indivduos cresceram e adentraram o mundo j foi tambm muito
menos afeito s esperanas, at porque terrivelmente marcado pela violncia (narrativas de vida de adolescentes e
jovens destas regies, hoje, necessariamente passam pela
contabilidade de seus mortos) e pelo desemprego (que,
como j foi bastante estudado, age como bloqueio relevante
para a ao coletiva e popular nos marcos da poltica).
O MDF deu continuidade sua atuao poltica e a seus
contatos com as favelas da Zona Leste, mas a repetio da
narrativa mobilizatria do movimento para os novos habitantes das periferias urbanas j no era mais inteligvel. At
por isso, o movimento teve muita dificuldade para renovar
seus quadros internos, e no incio dos anos 2000 seus principais militantes ainda eram praticamente os mesmos que
haviam iniciado as lutas na Vila Prudente, nos anos 1970.
Alm disso, outras organizaes populares, religiosas e
outros partidos polticos passaram a disputar um a um os
votos e os consentimentos dos moradores das periferias a
sociedade civil ganhou, desde os anos 1990, uma dimenso
concorrencial insuspeitada para os atores dos anos 1980.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
107
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
108
Mesmo que permanea otimista, a contagem das organizaes de base do MDF reduziu-se ao menos pela metade
durante a dcada passada: no incio dos anos 2000 o movimento passou a considerar que influa sobre cerca de 20
favelas da regio, contra as 40 de quinze anos antes.
A virada do sculo trouxe a eleio de uma nova prefeitura do PT para a cidade de So Paulo, agora com Marta
Suplicy. Doze anos depois da primeira experincia petista na
prefeitura, as relaes entre movimento, partido e Executivo
municipal voltavam a ser baseadas no compartilhamento de
um mesmo projeto poltico, mas j eram completamente distintas daquelas dos tempos de Erundina. Mais consolidados,
institucionalizados e profissionalizados os canais de comunicao entre governos e sociedade civil, agora havia procedimentos previstos para as mediaes entre o MDF e o Estado37,
que ao fim de contas ficaram basicamente restritas a um tipo
de mediao entre governo e setores favelados, na atuao do
movimento em alguns programas de urbanizao de favela.
Em 2001, por exemplo, a prefeitura municipal implementava um programa de canalizao de crregos, e uma das obras
se faria em So Mateus, passando pela favela Vergueirinho, h
dcadas vinculada ao MDF. A relevncia tcnica do programa
era inquestionvel, o risco e a precariedade em que viviam as
97 famlias faveladas alojadas sobre o crrego eram claros e
justificavam sua remoo. Para viabilizar a desocupao destas famlias, a prefeitura petista acionou a rede de contatos
populares do partido. Convocado para ajudar a prefeitura
na remoo38, o MDF entrou em cena destacando uma das
suas lideranas de base para a misso. Vizinha da rea a ser
37
O que no significa que no haja espaos para as relaes privadas entre esses
atores, renovando as prticas tradicionais da relao entre sociedade e Estado no
Brasil. Um estudo especfico das relaes entre os movimentos sociais e a gesto
Marta Suplicy foi feito por Teixeira e Tatagiba (2005).
38
A quando a Prefeitura foi l a primeira vez, eu tava l esperando a equipe da
Prefeitura, para cadastrar as pessoas. A eu tinha que ir de porta em porta, chamando as pessoas, porque eu conhecia, n? [Zefa].
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
desocupada, Zefa conhecia suficientemente bem os moradores da favela Vergueirinho e desempenhou o papel fundamental, para a prefeitura, de intermediria entre a poltica pblica
e as famlias a serem remanejadas. Como me disse Zefa:
Eu no dizia [para os moradores]: olha, eu vou cadastrar
vocs, porque vocs vo sair daqui. Imagina! No pode nem
sonhar em falar isso! At a prefeitura me falou assim: olha,
ns no vamos falar a verdade. Ns vamos [falar] assim: ns
vamos cadastrar vocs, vamos carimbar o barraco de vocs,
pegar todos os dados da famlia, pegar a renda, porque ns
estamos preocupados com essas famlias aqui, porque est vindo
o rio a, est vindo a estrada [a obra de canalizao] e vai pegar
quase que tudo aqui dessa favela. E vocs vo ficar [em situao
ruim]... a prefeitura no vai deixar prejudicar, vai ajudar vocs
da melhor maneira possvel. [...] Enquanto isso, vinham uns
[funcionrios da prefeitura] carimbando os barraquinhos e
pegando os dados da famlia, renda e a quantidade de famlia.
Foi uma coisa rpida da prefeitura. [Zefa]
O primeiro contato se fez assim, e deu certo; algum tempo
depois, entretanto, foi preciso efetivamente explicar aos
moradores que a sada deles dali era fato consumado. O
movimento novamente ajudou: preparou uma reunio
com as informaes necessrias e suficientes para no gerar
muita polmica, tudo marcadinho no convite, pra no
precisar explicar mais nada!
Na reunio com os moradores, ento:
a prefeitura foi e falou tudo j concreto pra eles: olha,
vocs vo ganhar! Vocs vo sair da, e vocs tm vrias
opes pra sair da. Eram 97 famlias. Olha, vocs tm opes
de ir pro Norte, quem quiser [voltar para a terra natal, no
caso de migrantes]; outras vo para os apartamentos [em
um conjunto habitacional em outra rea], porque no tem
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
109
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
apartamento pra todo mundo; [...] e outras vo ganhar uma
verba de R$ 6.000 a R$ 8.000 pra comprar uma casinha na
rea municipal [em alguma outra favela, localizada em reas
de propriedade da prefeitura].39 [Zefa]
A desocupao foi pacfica e gil, sem nenhum conflito.
O MDF trabalhou bem na misso de intermediao, foi elogiado pela prefeitura, e promoveu Zefa para a equipe de profissionais contratados pelo movimento. As polticas do PT funcionaram, as famlias foram removidas, e no foi preciso interromper as obras de canalizao para limpar a rea da favela.
No debate corrente sobre polticas pblicas e gesto urbana,
este foi um caso exemplar de interveno bem-sucedida.
Entre o popular e a poltica: novas fronteiras
110
Militantes do movimento me narraram diversas vezes o caso
acima durante a pesquisa de campo, ressaltando a vantagem
relativa que ele demonstraria ainda existir no MDF, diante
dos atores polticos tradicionais: o contato cotidiano com
as favelas, a acessibilidade s comunidades cada vez mais
fechadas, a concretude de sua nova forma de atuao. De
tanto falarem neste caso, obrigaram-me a notar o que estava
em jogo nele. De fato, a conformao recente da atuao
do MDF revela toda uma nova trama de relaes entre os
setores populares e a poltica.
Como tantos outros atores sociais que emergiram nos
anos 1980 e se inseriram na poltica nos 1990, o MDF de
hoje no pode mais ser figurado como um sujeito que organiza as demandas e interesses sociais dos setores populares
e as faz transitar ao espao pblico. Nessa medida, o MDF
no mais especificamente um movimento social, mas aci39
As duas primeiras opes eram, exatamente, as que a prefeitura municipal de
So Paulo oferecia aos favelados durante os anos 1970, nas gestes Olavo Setbal
e Jnio Quadros, que tinham como premissa o desfavelamento. Foi justamente em
reao a esta poltica que surgiu o MUF.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
ma de tudo um ator consolidado da esfera poltica, subalterno aos atores centrais de seu campo, como governos,
partidos, financiadores de projetos etc.
O vetor da atuao poltica de atores como o MDF, em
grande medida, se inverteu nas ltimas dcadas: eles deixaram de intermediar o acesso das demandas sociais populares
ao mundo pblico e passaram majoritariamente a mediar o
contrrio, o acesso dos atores relevantes na esfera poltica
aos setores populares (ento vistos como pblico-alvo). Para
um sistema poltico que se consolida, como o brasileiro,
preciso destacar que esta permanece sendo uma atuao
relevante e positiva, por ao menos duas razes. Em primeiro
lugar, porque a presena de atores como o MDF inseridos
institucionalmente, ainda que de modo subalterno, sinal
da consolidao do sistema de participao social no Estado
brasileiro, que efetivamente inseriu um conjunto extenso
de organizaes sociais na discusso pblica40. Em segundo
lugar, porque a existncia deste conjunto de atores na esfera poltica permitiu, no perodo democrtico, muito maior
capilaridade social s polticas pblicas, o que se comprova
estatisticamente pela maior amplitude de acesso aos servios sociais pblicos nas periferias de So Paulo41. Escolas,
creches, postos de sade, centros de lazer, telefones pblicos etc. so hoje muito mais presentes nos arredores das
favelas assessoradas pelo MDF do que quando o movimento
nasceu, o que representa tambm um incremento substancial no potencial de acesso a direitos sociais.
Entretanto, justamente nesta inverso de sinal no vetor
de atuao movimentista, e na lacuna que ela deixa na cena
40
A comparao entre as transies democrticas na Amrica Latina invariavelmente destaca a positividade do caso brasileiro, que efetivamente construiu inmeros mecanismos formais e informais, ainda em desenvolvimento, de relaes
entre os setores sociais organizados e o Estado.
41
Como demonstra a produo criteriosa do Centro de Estudos da Metrpole/Cebrap, compilada, por exemplo, em Marques e Torres (2005).
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
111
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
112
pblica, que aparece com maior nitidez a fronteira recente
que se repe entre os setores populares e a poltica. No
difcil notar, ao fazer pesquisa nas favelas e periferias de So
Paulo, que a presena pblica de atores constitudos como o
MDF, por mais positiva que seja, no consegue nem de longe
traduzir a amplitude dos conflitos, demandas e anseios deste contingente de cidados em demanda poltica. O papel
recente dos movimentos populares, de possibilitar a presena mais capilar dos atores polticos centrais entre os setores
populares, no supre a necessidade contnua, e sempre renovada, de apario pblica e existncia poltica dos novos habitantes da periferia urbana. Esta insuficincia to flagrante
hoje, que em diferentes contextos de pesquisa nestes territrios no so os movimentos sociais, mas atores bem menos
legtimos como o narcotrfico e as faces criminosas os que
tm mediado a apario das periferias no mundo pblico42.
Nesta nova figurao pblica das camadas populares, sua
apario legtima na esfera poltica improvvel, o que coloca em xeque o pressuposto que funda os regimes democrticos, qual seja, a garantia da pluralidade social representada
legitimamente no mundo pblico. A conseqncia direta
deste processo, recorrente em todo regime poltico no plural, a reproduo da leitura dos no representados como
desviantes, seguida da disposio dos autoritarismos social e
estatal para control-los. O bloqueio seletivo do acesso legitimidade pblica segue, portanto, sendo questo central da
construo democrtica at porque, nessa medida, continua
a desenhar a face autoritria do sistema poltico brasileiro.
Gabriel de Santis Feltran
doutorando em Cincias Sociais pela Unicamp
42
Em Feltran (2006b) tento elaborar algumas das conseqncias deste fenmeno
para pensar a poltica contempornea.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Gabriel de Santis Feltran
Referncias bibliogrcas
ANDRADE, C. M.; ROSSETTO, R. E BONDUKI, N. (orgs.). 1993. Arquitetura e
habitao social em So Paulo: 1988-1992. So Paulo: EESC/USP.
AVRITZER, L.; NAVARRO, Z. (orgs.). 2003. A inovao democrtica no Brasil.
So Paulo: Cortez.
BAIERLE, S. G. 1992. Um novo princpio tico poltico: prtica social e sujeito
nos movimentos populares urbanos em Porto Alegre nos anos 80. Dissertao de
mestrado, Campinas: IFCH-Unicamp.
BARCELLOS, C. 2004. Abusado: o dono do morro Dona Marta. 11 ed. Rio de
Janeiro: Record.
CARVALHO, M. do C. 1997. Eppur si muove... Os movimentos sociais e a construo
da democracia no Brasil. Dissertao de mestrado, Campinas: IFCH-Unicamp.
COSTA, S. 1997. Contextos de construo do espao pblico no Brasil.
Novos Estudos Cebrap, So Paulo, n 47.
DAGNINO, E. 1994a. Os movimentos sociais e a emergncia de uma nova
noo de cidadania. In: DAGNINO, E. (org.). Os anos 90: poltica e sociedade
no Brasil. So Paulo: Brasiliense.
________. 1994b. On becoming a citizen: the story of D. Marlene. In:
Benmayor, R; Skotnes, A. (orgs.). Intemational yearbook on oral history and
life stories. Oxford: Oxford University Press.
________. 2002. Sociedade civil, espaos pblicos e a construo democrtica no Brasil: limites e possibilidades. In: DAGNINO, E. (org.). Sociedade
civil e espaos pblicos no Brasil. So Paulo: Paz e Terra.
________; OLVERA, A.; PANFICHI, A. (orgs.). 2006. A disputa pela construo
democrtica na Amrica Latina. So Paulo: Paz e Terra.
DOIMO, A. M. 1995. A vez e a voz do popular: movimentos sociais e participao
poltica no Brasil ps-70. Rio de Janeiro: Relume Dumar/Anpocs.
EVERS, T. 1984. Identidade: a face oculta dos movimentos sociais. Novos
Estudos Cebrap, So Paulo, n 4, abril, pp. 11-23.
FELTRAN, G. de S. 2005. Desvelar a poltica na periferia: histrias de movimentos
sociais em So Paulo. So Paulo: Humanitas/FAPESP.
________. 2006a. Deslocamentos: trajetrias individuais entre sociedade
civil e Estado no Brasil. In: DAGNINO, E.; OLVERA, A. & PANFICHI, A. (orgs.). A
disputa pela construo democrtica na Amrica Latina. So Paulo: Paz e Terra.
________. 2006b. A fronteira do direito: violncia e poltica na periferia
de So Paulo. Artigo apresentado no 3 Congresso Latino-Americano de
Cincia Poltica: Democracia e Desigualdades. Campinas: Unicamp.
FERRZ. Capo pecado. 2005. Rio de Janeiro: Objetiva. 152p.
FRASER, N. 1995. Rethinking public sphere A contribution to the criLua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
113
Vinte anos depois: a construo democrtica brasileira vista da periferia de So Paulo
114
tique of actually existing democracy. In: ROBBINS, B. (org.). The phantom
public sphere. Minnesota: University of Minnesota Press.
GURZA LAVALLE, A.; HOUTZAGER, P.; CASTELLO, G. 2006. Representao
poltica e organizaes civis: novas instncias de mediao e os desafios da
legitimidade. Revista Brasileira de Cincias Sociais, vol. 21, n 60, pp. 43-66.
HABERMAS, J. 1992. Lespace public 30 ans aprs. Quaderni, n
18, automne, pp. 161-191. (Edio original em alemo: prefcio de
Strukturwandel der ffentlichkeit, 1990).
LINS, P. 1997. Cidade de Deus. So Paulo: Companhia das Letras.
MARQUES, E.; TORRES, H. (orgs.). 2005. So Paulo: segregao, pobreza urbana
e desigualdade social. So Paulo: Senac.
OLIVEIRA, F. DE; PAOLI, M. C. (orgs.). 2000. Os sentidos da democracia. 2 ed.
Petrpolis: Vozes.
PAOLI, M. C. 1995. Movimentos sociais no Brasil: em busca de um estatuto poltico. In: HELLMANN, M. (org.). Movimentos sociais e democracia no
Brasil. So Paulo: Marco Zero/Ildesfes.
________; TELLES, V. DA S. 2001. Direitos sociais: conflitos e negociaes
no Brasil contemporneo. In: ALVAREZ, S.; DAGNINO, E.; ESCOBAR, A.
(orgs.). Cultura e poltica nos movimentos sociais latino-americanos. Belo Horizonte: Editora UFMG.
RIBEIRO, A. C. T.; GRAZIA, G. de. 2003. Experincias de oramento participativo
no Brasil. So Paulo: Vozes.
SADER, E. 1988. Quando novos personagens entraram em cena: experincias, falas e
lutas dos trabalhadores da Grande So Paulo, 1970-80. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
SANTOS, B. de S. 1994. Pela mo de Alice: o social e o poltico na ps-modernidade. 6 ed. Porto: Afrontamento.
SOARES, L. E.; BILL, MV; ATHAYDE, C. 2005. Cabea de porco. Rio de Janeiro:
Objetiva.
TATAGIBA, L. 2003. Participao, cultura poltica e modelos de gesto: a democracia
gerencial e suas ambivalncias. Tese de doutorado, Campinas: IFCH-Unicamp.
TEIXEIRA, A. C. C.; TATAGIBA, L. 2005. Movimentos sociais: o desafio da participao. So Paulo: Instituto Plis/PUC-SP (Observatrio dos Direitos do Cidado: acompanhamento e anlise das polticas pblicas de So Paulo, n 25).
TELLES, V. da S. 1994. Sociedade civil e a construo de espaos pblicos. In: DAGNINO, E. (org.). Anos 90: poltica e sociedade no Brasil. So
Paulo: Brasiliense.
________; CABANES, R. (orgs.). 2006. Nas tramas da cidade: trajetrias urbanas e seus territrios. So Paulo: Humanitas.
ZALUAR, A. 2004. Integrao perversa: pobreza e trfico de drogas. 1 ed. Rio de
Janeiro: Editora FGV.
Lua Nova, So Paulo, 72: 83-114, 2007
Resumos / Abstracts
Liberation Forces, until 1996, year of the first International
Meeting for Humanity and Against Neoliberalism, organized
in Mexican jungle, the Zapatista Army of National Liberation
(ELZN) lived a slow and decisive transformation: from a classic
guerrilla to a pacific movement which builds one world that fits
many worlds, through the invention of practices of participation
and communication. This text analyses these new ways of doing
politics that are being cultivated between the ELZN and what it
calls civil society, the countless groups connected to it through
communication and solidarity ties.
Keywords:
Zapatism; Civil society; Mexico.
VINTE ANOS DEPOIS: A CONSTRUO DEMOCRTICA
BRASILEIRA VISTA DA PERIFERIA DE SO PAULO
GABRIEL DE SANTIS FELTRAN
201
Os movimentos sociais sempre buscaram estatuto poltico.
Este artigo conta a histria de um desses atores, o Movimento de Defesa do Favelado (MDF), que desde o final
dos anos 1970 at os dias de hoje atua na periferia leste
da cidade de So Paulo. Ao narrar essa histria de trinta
anos, vinte dos quais vividos sob a nova democracia, o
texto destaca as diferentes modalidades de relao entre
os setores populares e a esfera poltica no Brasil contemporneo. De um lado aparecem as tentativas de diluir a
fronteira que bania, durante o regime autoritrio, os segmentos populares da representatividade poltica; de outro
lado, encontram-se novas fronteiras que, ainda que sob
um regime pautado pela universalidade formal de direitos, se repem hoje entre os setores populares e o mundo
poltico.
Movimentos sociais; Periferia; So Paulo;
Democracia; Representao.
Palavras-chave:
Lua Nova, So Paulo, 72: 199-205, 2007
Resumos / Abstracts
TWENTY YEARS LATER: THE BRAZILIAN DEMOCRACY VIEWED
FROM SO PAULOS PERIPHERY
Social movements always sought political status. This article tells
the story of one of those actors, the Movement for the Defense of
Favelados (MDF), which since the late 1970s operates in the
eastern outskirts of the city of Sao Paulo. By telling this story of
thirty years, twenty of which lived under the new democracy, the
text highlights the different forms of relationship between politics
and popular sectors in the contemporary Brazil. On one side, there
are some trends in direction of diluting the border that cut, during
the authoritarian regime, the popular segments from the political
representation. On the other side, there are new frontiers which even
under a formal system based on the universality of rights, reappear
today between the popular sectors and the political world.
Social movements; Poverty; So Paulo; Democracy;
Representation.
Keywords:
202
MOVIMENTOS SOCIAIS COMO ACONTECIMENTOS: LINGUAGEM
E ESPAO PBLICO
RICARDO FABRINO MENDONA
De cunho conceitual, o presente artigo busca refletir sobre
os processos de constituio e atuao de movimentos
sociais com base na noo de acontecimento. A idia analisar a potncia desestabilizadora que pode ser desencadeada
por tais agncias coletivas, que instauram prticas participativas fundamentais democracia. Inicia-se essa discusso
com uma sucinta apresentao do conceito de acontecimento, orientando-nos principalmente pelas idias de Louis
Qur. Em seguida, busca-se estabelecer algumas relaes
entre tal conceito e os movimentos sociais, ressaltando a
relevncia das noes arendtianas de ao e refundao. Procura-se, ento, evidenciar o carter de acontecimento dos
Lua Nova, So Paulo, 72: 199-205, 2007
Você também pode gostar
- Avaliação de História I Unidade - 8 Série ADocumento2 páginasAvaliação de História I Unidade - 8 Série AEtevaldo LimaAinda não há avaliações
- Forte Cumaú Relatório FinalDocumento197 páginasForte Cumaú Relatório FinalRoger AzevedoAinda não há avaliações
- 05RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA - PágDocumento7 páginas05RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA - PágFabrício De Sá VianaAinda não há avaliações
- A Filosofia Da Adultera - Luiz Felipe PondeDocumento106 páginasA Filosofia Da Adultera - Luiz Felipe PondeNeideAinda não há avaliações
- 1118-Navegantes - Bandeirantes - Diplomatas - (08-06-15)Documento412 páginas1118-Navegantes - Bandeirantes - Diplomatas - (08-06-15)Mariana MonteiroAinda não há avaliações
- Teoria NeoclássicaDocumento27 páginasTeoria NeoclássicaFernando FariaAinda não há avaliações
- Processamento Bottom-Up Na LeituraDocumento10 páginasProcessamento Bottom-Up Na LeituraLaura FreitasAinda não há avaliações
- Andrew Lane (Snake Bite (O Jovem Sherlock Holmes Vol. 5)Documento134 páginasAndrew Lane (Snake Bite (O Jovem Sherlock Holmes Vol. 5)Márcio SilvaAinda não há avaliações
- Ordre Kabalistic Rose CroixDocumento4 páginasOrdre Kabalistic Rose CroixUltrix2100% (1)
- O Populismo Visto Da PeriferiaDocumento39 páginasO Populismo Visto Da PeriferiaYasmin kendkeAinda não há avaliações
- Manual PIGNDocumento32 páginasManual PIGNBruno MartonAinda não há avaliações
- EditalDocumento24 páginasEditalcriativoxAinda não há avaliações
- Plano Setorial de Educação e CulturaDocumento17 páginasPlano Setorial de Educação e Culturamárcia_benetãoAinda não há avaliações
- VELHO Capitalismo Autoritario e CampesinatoDocumento126 páginasVELHO Capitalismo Autoritario e CampesinatoESCRIBDA00100% (1)
- Edited - Atividade Avaliativa Período RegencialDocumento3 páginasEdited - Atividade Avaliativa Período RegencialAna Paula DaniloAinda não há avaliações
- Ilmar Mattos - o Tempo Saquarema (Fichamento)Documento3 páginasIlmar Mattos - o Tempo Saquarema (Fichamento)Iago DottiAinda não há avaliações
- Ação de Justificação para Reconhecimento de União EstávelDocumento2 páginasAção de Justificação para Reconhecimento de União EstávelJana SilvaAinda não há avaliações
- O Estado No Centro Da Mundialização A Sociedade Civil e o Tema Do Poder JAIME OSÓRIO RESENHA 2 PDFDocumento5 páginasO Estado No Centro Da Mundialização A Sociedade Civil e o Tema Do Poder JAIME OSÓRIO RESENHA 2 PDFGeandro Ferreira PinheiroAinda não há avaliações
- Frases de Filósofos PDFDocumento5 páginasFrases de Filósofos PDFFrancivaldoAinda não há avaliações
- Manual de Demonstrativos Fiscais - Volume Ii (Relatório Resumido Da Execução Orçamentária)Documento255 páginasManual de Demonstrativos Fiscais - Volume Ii (Relatório Resumido Da Execução Orçamentária)jaderdiasfilhoAinda não há avaliações
- Prefeitos 2013-2016Documento16 páginasPrefeitos 2013-2016spamAinda não há avaliações
- Pi - Resumos Grupo 2009-2010Documento165 páginasPi - Resumos Grupo 2009-2010paulakansasAinda não há avaliações
- TJ CE Telefones Excel PDFDocumento62 páginasTJ CE Telefones Excel PDFArlindo MedinaAinda não há avaliações
- Valorização Da Cultura IndígenaDocumento8 páginasValorização Da Cultura Indígenag9q7dhgcj7Ainda não há avaliações
- Como Se Apresentava A Arte No Período Entre GuerrasDocumento2 páginasComo Se Apresentava A Arte No Período Entre GuerrasyasminpradoAinda não há avaliações
- A Virtude Do NacionalismDocumento233 páginasA Virtude Do NacionalismNelson PassosAinda não há avaliações
- ROLLEMBERG, Denise. Esquerdas Revolucionárias e Luta Armada. in - O Brasil Republicano - o Tempo Da DitaduraDocumento3 páginasROLLEMBERG, Denise. Esquerdas Revolucionárias e Luta Armada. in - O Brasil Republicano - o Tempo Da DitaduraxdalmoxAinda não há avaliações
- José Paulo Netto - Capitalismo Monopolista e Serviço SocialDocumento5 páginasJosé Paulo Netto - Capitalismo Monopolista e Serviço SocialWilliam Magalhães0% (1)
- A Revolução Praieira - Parte 1: 8º Ano Aula 19 - 3º BimestreDocumento27 páginasA Revolução Praieira - Parte 1: 8º Ano Aula 19 - 3º BimestreJOSE AFONSO ROMAO CORREAAinda não há avaliações
- Sinajuve 2019Documento12 páginasSinajuve 2019Mariana SouzaAinda não há avaliações