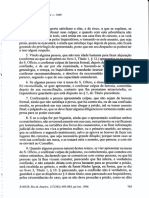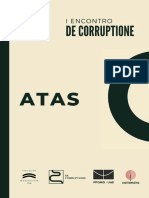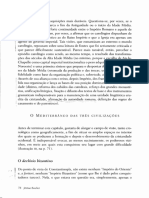Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Reformas Religiosas Na Europa Moderna 2013
Reformas Religiosas Na Europa Moderna 2013
Enviado por
DaniloAlmeidaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Reformas Religiosas Na Europa Moderna 2013
Reformas Religiosas Na Europa Moderna 2013
Enviado por
DaniloAlmeidaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rodrigo Bentes Monteiro
As Reformas Religiosas na
Europa Moderna
notas para um debate historiogrfico*
The Religious Reformation in Modern Europe
notes for a historical debate
RODRIGO BENTES MONTEIRO
Doutor em Histria Social Universidade de So Paulo
Departamento de Histria Universidade Federal Fluminense
http://www.historia.uff.br/ciadasindias/ rodbentes@terra.com.br
RESUMO O artigo, como um verbete destinado aos cursos em Histria,
pretende analisar a produo historiogrfica, sobretudo europia, acerca
das Reformas Religiosas no incio da Europa Moderna. Evidencia a crtica
de abordagens mais tradicionais adotadas por autores comprometidos
com sua f, e os estudos meramente institucionais, doutrinrios ou funcionalistas. O artigo destaca a ateno dada por historiadores do sculo
XX ao contexto da pr-reforma, intensa devoo religiosa ento vivida,
e conexo entre aspectos da vida religiosa, cultural, poltica e social da
Europa Moderna.
Palavras-chave Reformas Religiosas, Europa Moderna, debate historiogrfico
Artigo recebido em 10/01/2007. Aprovado em 15/04/2007.
(Esse artigo foi produzido originalmente como prova escrita realizada em concurso pblico na USP em 29/08/2000.
Desde 2002, com meu ingresso no Departamento de Histria da UFF, foi divulgado entre alunos da graduao, e
enriquecido com leituras referentes ao ps-doutorado sobre Jean Bodin e as guerras religiosas na USP, entre 2001
e 2002. Agradeo as sugestes bibliogrficas feitas por Laura de Mello e Souza e as leituras crticas de Ronaldo
Vainfas e Silvia Patuzzi, que levaram o texto forma final. A Silvia Patuzzi dedico este artigo).
130
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
ABSTRACT The article, as an introduction aimed to the course in History,
intends to analyze the European historical production, related to the Religious
Reformation in the Early Modern Europe. It focuses the more traditional
approaches adopted by authors compromised with their own faith and on
merely institutional, theological and functional studies. The article points to
the attention given by the XXth Century historians, to the pre-reformation
context, to the profound faith of the time, and to the connection of the religious, cultural, political and social aspects of life in Modern Europe.
Key words Religious Reformation, Modern Europe, historical debate
Os homens modernos
no foram projetados no mundo,
mas para dentro de si prprios.
Hannah Arendt
No sculo XVIII, com o surgimento da filosofia da histria em meio ao
ambiente iluminista potencialmente revolucionrio e anti-eclesistico, o
movimento conhecido como Reforma protestante era inserido no processo
de modernizao da sociedade ocidental, conforme as idias de Hegel. Era
a mundanizao positiva, diferente da conotao negativa atribuda pelo
filsofo alemo ao contexto anterior da Escolstica. Enquanto estudiosos
laicos entendiam a Reforma como fundao do caminho para a liberdade,
catlicos ultramontanos, defensores da infalibilidade papal, observavamna como um equvoco que desestabilizou princpios de autoridade, ordem
social e disciplina, caractersticos da cristandade medieval.1
Na primeira metade dos Oitocentos, Leopold von Ranke inaugurou uma
abordagem menos confessional e apologtica, concomitante ao estabelecimento da Histria como disciplina e aos propsitos nacionais e polticos
da Prssia aps o Congresso de Viena, em 1815. No prembulo de sua
histria sobre os papas, as naes nrdicas e mediterrnicas ocultavam a
tradicional dicotomia entre catlicos e protestantes. Ranke queria enfatizar
as relaes entre setentrionais e meridionais, na passagem do sculo XV
ao XVI. Mas, por trs de sua conhecida erudio no lidar com fatos militares, polticos e diplomticos, subsistiam juzos de valor. No obstante a
aplicao do mtodo de Barthold Niebuhr no estudo crtico das fontes, o
jovem e fervoroso luterano centrou-se no perodo em que papado e imprio
Cf. MARRAMAO, Giacomo. Cu e Terra. Genealogia da secularizao. So Paulo: Editora Unesp, 1997, p.26-30,
primeira edio italiana de 1994.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
131
Rodrigo Bentes Monteiro
perdiam poder. Com a Reforma luterana, nascia a Idade Moderna, quando
o povo tornava-se protagonista na histria. Sua concepo de Histria
Moderna no era assim forjada apenas por governantes e sacerdotes. Ela
harmonizava-se tambm s necessidades do Estado prussiano, cuja poltica eclesistica naquele momento dependia dos delicados matrimnios
mistos entre protestantes e novos sditos catlicos, cheios de soberba e
inspirados nas tradies renanas. Tambm em sua obra maior sobre a histria alem na poca da Reforma, Ranke mal disfarou sua admirao por
Lutero, embora afirmasse fazer uma histria desapaixonada e imparcial do
papado, pois a Roma catlica j no ameaava a nova e grande Prssia,
fortalecida desde o sculo XVIII, at a unificao alem em 1870-1871.
Reprovava-se assim a Ranke a sua malignidade protestante, bem como
ter considerado a histria da Igreja e da cristandade, mormente em seus
aspectos poltico e institucional.2
Em 1906 o telogo e filsofo Ernst Troeltsch colega de Max Weber
apresentava seu livro sobre o protestantismo e o mundo moderno em
um congresso de historiadores. Seu tema era a relao entre a herana
religiosa do sculo XIV e a modernidade. Sem dogmatismo, o autor exps
a influncia do protestantismo nas novas formas de ser e de pensar do final
do sculo XVIII. Troeltsch defendia que a religio protestante assemelhavase ao catolicismo medieval, em seu intento por restaurar a cultura religiosa
antiga, com a novidade de enfatizar a liberdade individual. Embora tenha
assinalado caractersticas prprias do luteranismo e do calvinismo, especialmente ante as autoridades polticas, o estudo de Troeltsch, na linha de
uma teologia liberal, caracterizou-se por ser uma reflexo geral.3
Fome de Deus
Com efeito, o tema das Reformas Religiosas pertinente ao incio da poca Moderna possui implicaes que ultrapassam as mudanas institucionais
eclesisticas no sculo XVI, relacionando-se tambm a aspectos culturais,
econmicos e de poder vividos na Europa. A historiografia nem sempre foi
atenta a esses desdobramentos e relaes, e pode-se afirmar que uma
transformao significativa na anlise das questes religiosas referentes
ao sculo XVI comeou a ocorrer a partir da dcada de trinta do sculo XX,
com os trabalhos de Delio Cantimori, Lucien Febvre e Hubert Jedin, at os
anos cinqenta. A explicao das novidades desta trade de estudiosos e
RANKE, Leopold von. Historia de los Papas en la poca Moderna. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2004,
p.13-67, primeira edio alem em 1834-1836. Cf. CANTIMORI, Delio. Los Historiadores y la Historia. Barcelona:
Pennsula, 1985, p.127-148, primeira edio italiana de 1971. Sobre o estilo deste historiador, entre o dramaturgo,
o cientista e o religioso, GAY, Peter. O Estilo na Histria. So Paulo: Companhia das Letras, p.63-93.
TROELTSCH, Ernst. El Protestantismo y el Mundo Moderno. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2005.
132
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
de seus respectivos desdobramentos, poder esclarecer melhor o antes
e o depois da produo historiogrfica sobre as Reformas.4
Delio Cantimori bastante conhecido por suas reflexes acerca dos
problemas de periodizao do Renascimento. Mas no somente. Em
Umanesimo e Religione nel Rinascimento, o historiador italiano que props
o termo Idade Humanstica para a poca Moderna tambm procura relaes entre o humanismo e a Reforma, concluindo que o protestantismo
em seu advento representou o prprio fracasso do ideal humanista, da
autoconfiana exacerbada no potencial do homem, otimismo excessivo
em sua transformao atravs do livre arbtrio. Dessa forma, o servo arbtrio de Lutero seria no apenas o antdoto contra o livre arbtrio de Erasmo
princpio essencial teologia catlica -, mas a confirmao da onipotncia
divina em oposio ao programa educacional encetado pelos homens do
Renascimento. Em Storici e Storia, grande obra do estudioso acerca da
discusso historiogrfica sobre Renascimento e Reforma, Cantimori coteja
as interpretaes realizadas sobre a Reforma protestante, desde o sculo
XIX at meados do XX. Transparece assim a inovao do autor tambm
interessado em heterodoxias e heresias -, ao defender uma pesquisa mais
argumentativa, que contemple a piedade e a sensibilidade religiosa, rompendo com controvrsias teolgicas e eclesisticas que caracterizavam
muitos dos estudos.5
Lucien Febvre, como Delio Cantimori, no se particularizava por realizar
uma histria confessional algo ainda relativamente novo entre estudiosos
da Reforma e como o italiano propunha tambm uma histria da espiritualidade mais abrangente que as questes institucionais e teolgicas
vividas no sculo XVI, na Europa ocidental. No clebre estudo sobre os
problemas de conjunto, em Au Coeur Religieux du XVIe Sicle, publicado
postumamente, este historiador interroga-se sobre as origens da Reforma
em Frana. Febvre refere-se ao problema dos historiadores franceses que,
absorvidos pelas questes da especificidade, da prioridade e da nacionalidade, buscavam uma origem para a Reforma francesa em Lefvre
dtaples um dos primeiros pr-huguenotes a realizar colquios com
Margarida de Valois, objeto de outro livro de Febvre -, em comparao
a Lutero. Ao questionar, neste caso, a validade da histria comparada,
Lucien Febvre indica que o suposto primeiro reformador francs no criticava os abusos da Igreja, e que o problema do surgimento da Reforma
deveria levar em conta a intensa religiosidade vivida na Europa inclusive
4
5
Devo esta idia sobre a trade de historiadores a Silvia Patuzzi.
CANTIMORI, Los Historiadores e la Historia, op. cit., p.343-363, e Humanismo y Religiones en el Renacimiento.
Barcelona: Pennsula, 1984, p.151-171, edio original italiana de 1975. O interesse do historiador italiano pelas
heterodoxias transparece em um estudo sobre hereges italianos no sculo XVI. CANTIMORI, Eretici Italiani del
Cinquecento. Ricerche storiche. Firenze: Sansoni, 1939. Cf. tambm PATUZZI, Silvia. Humanistas, prncipes e
reformadores no Renascimento. In: CAVALCANTE, Berenice (org.). Modernas Tradies. Percursos da cultura
ocidental sculos XV-XVII. Rio de Janeiro: Access, 2002, p.85-175.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
133
Rodrigo Bentes Monteiro
na Frana ao final do sculo XV e no incio do sculo XVI: fidelidade s
velhas crenas, devoo tradicional, a f concretizada nos testemunhos de
pedra do gtico tardio e no sucesso de obras surgidas no sculo XV, como
a Imitao de Cristo, de Toms de Kempis, que iria mais tarde conquistar a
admirao de Erasmo de Rotterdam. Se a realidade devocional era forte,
entre ela e o clero existia um abismo marcado pela insensibilidade. Deste
modo, o historiador francs justifica o sucesso da Reforma na Frana e
alhures mediante dois fatores: pelo surgimento da Bblia em lngua vulgar,
e pela questo da justificativa da salvao pela f. Em conclusivo, defende
que a Reforma deve ser relacionada a uma crise moral e religiosa de muita
gravidade que assolou a Europa naquele tempo. Para compreender este
fenmeno, seria preciso pesquisar todas as manifestaes diversas ento
vividas, na poltica, na economia, na sociedade, na cultura intelectual e
artstica. Portanto, para Febvre, os historiadores franceses atrapalhavamse, quando buscavam origens especficas em situaes que eram gerais.
A histria da Reforma, segundo o historiador dos Annales, no poderia
limitar-se em marcos institucionais, polticos e eclesisticos. No entender
de Cantimori, Febvre seria o historiador psiclogo atento, entretanto, s
especificidades do homem do sculo XVI.6
Pode-se afirmar que Jean Delumeau desenvolveu e ampliou questes
j estabelecidas por Lucien Febvre. Em Un Chemin dHistoire, Chrtient
et Christianisation, Delumeau estuda os cristos no tempo da Reforma e,
tambm como Febvre, indaga-se sobre as causas do movimento protestante, mencionando a princpio duas explicaes mais tradicionais: uma
primeira que remete aos abusos da Igreja, e outra de cunho economicista,
sobre a luta da burguesia contra o feudalismo. Delumeau argumenta que
os protestos contra os abusos da Igreja no eram novidade, e que esta
possibilidade explicativa no responde, por exemplo, ao fato de Erasmo,
apesar de seus protestos, ter continuado na Igreja catlica, e nem situao dos protestantes que no retornaram a ela quando o catolicismo
se reformou. A explicao marxista, por sua vez, no esclarece a razo
da Pennsula Itlica, regio prspera economicamente no incio do sculo
XVI, ligada ao comrcio mercantil, ter permanecido catlica. O historiador
francs indica as fragilidades existentes neste tipo de discusso, mais
concentrada na difuso da Reforma que em suas causas, negligenciando
tambm aspectos teolgicos do debate.7
FEBVRE, Lucien. Problmes densemble, in Au Coeur Religieux du XVIe Sicle. Paris: Le Livre de Poche Biblio
Essais, 1983, p.7-95, publicao original de 1957. Cf. tambm Mart Luter. Barcelona: Empries, 1984, primeira
edio francesa de 1929 e Le Probleme de lIncroyance au XVIe Sicle. La religion de Rabelais. Paris: Albin Michel,
2003, primeira edio em 1942. Cf. tambm CANTIMORI, Los Historiadores y la Historia, op. cit., p.149-186.
DELUMEAU, Jean. Un Chemin dHistoire, Chrtient et Christianisation. Paris: Fayard, 1981, principalmente p.13153. Cf. tambm A Civilizao do Renascimento. Lisboa: Estampa, 1994, v.1, p.121-147, primeira edio francesa
de 1964. So muitas as obras do historiador sobre o tema, impossveis de serem citadas neste artigo.
134
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
A seguir Delumeau como j o fizera Lucien Febvre detm-se na
anlise dos comportamentos religiosos na Europa do incio do sculo XVI.
Em resumo, ele verifica a existncia de um cristianismo popular mais ntimo
e profundo, cristianismo vivido de forma plena em seu aspecto formal somente pelas elites. Tratava-se ento de um mundo de ignorncia religiosa,
distante dos abusos da Igreja. O historiador refere-se, como exemplo, ao livro
de Keith Thomas, Religion and the Decline of Magic, que retrata a sociedade
inglesa do sculo XVI repleta de prticas mgicas e crenas, relacionadas
pelo autor aos mecanismos de solidariedade alde, em contraposio
afirmao da propriedade privada e do individualismo. Processo no qual
o(a) outro(a), o(a) estranho(a), o(a) diferente, tendia a ser acusado(a) de
feitiaria pelos vizinhos. Delumeau tambm repetindo Febvre refere-se
ao sucesso de Imitao de Cristo, obra que resume o ideal de devotamento,
pobreza e piedade na Europa de ento. Era um mundo tambm de medo
retomando um dos mais conhecidos temas do historiador abordado em
La Peur en Occident, to bem expresso pelo holands Johan Huizinga, j
em 1919, no seu Herfsttij der Middeleeuwen, literalmente Outono da Idade
Mdia. Peste, fome e guerra estavam relacionadas ao pnico, e superstio como soluo para os problemas. O combate superstio constitui
outro tema desenvolvido por Delumeau, luta importante efetuada por Lutero
e Calvino. Tentando analisar os escritos dos reformadores como material
etnolgico, o historiador francs concebe a Reforma como promoo da
vontade cristianizadora, contra o catolicismo, mas tambm contra a idolatria,
viles no distintos para eles.8
A realidade conflituosa e mesclada em termos religiosos, recuperada
por Delumeau, deve alertar os estudiosos do perodo sobre a imprudncia
que podem demonstrar ao tentar separar, sempre, o que religioso do que
mgico. So muitos os exemplos procedentes em relao a esta questo:
o estudo de Emmanuel Le Roy Ladurie, Montaillou, village occitan de 1294
1324, demonstra que, j no final da Idade Mdia, cristo e religioso no
eram sinnimos. Em Le Carnaval de Romans. De la chandeleur au mercredi des cendres 1579-1580, sobre os festejos realizados naquela cidade
francesa, que misturavam aspectos religiosos e profanos, Ladurie verifica
a mesma dificuldade de classificao, bem percebida por Natalie Davis na
coletnea de ensaios intitulada Society and Culture in Early Modern France,
sobre a Reforma e os grupos sociais populares franceses no sculo XVI. O
exemplo mais conhecido talvez seja o estudado por Carlo Ginzburg discpulo de Cantimori em sua ateno s heresias e micro-histria em Il
DELUMEAU, Jean. Un Chemin dHistoire, Chrtient et Christianisation. Referncias a THOMAS, Keith. Religio e
Declnio da Magia. So Paulo: Companhia das Letras, 1991, edio inglesa de 1971. DELUMEAU, Jean. Histria
do Medo no Ocidente 1300-1800. Uma cidade sitiada. So Paulo: Companhia das Letras, 1989, primeira edio
francesa de 1978. HUIZINGA, Johan. O Declnio da Idade Mdia. So Paulo: Edusp, 1984, traduo de verso
condensada em ingls.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
135
Rodrigo Bentes Monteiro
Formaggio e i Vermi. Il cosmo di un mugnaio del 500. Na cosmologia toda
especial de Menocchio, percebe-se no somente a circularidade cultural,
mas a dificuldade de tipificao do que seria a boa religio, aceita pelos
inquisidores. O moleiro era batizado e se confessava e, no entanto, foi
considerado blasfemador e herege pela Igreja. O livro de Ginzburg chama
ateno para a possibilidade de diferentes leituras sociais e culturais do
cristianismo. Em conclusivo, na obra h pouco referida, Jean Delumeau
concebe a marcha do cristianismo como progressiva e no triunfal dentro
da cristandade, sublinhando o equvoco perigoso para os historiadores que
lidam somente com os aspectos institucionais da filiao religiosa.9
A considerao de outra obra do mesmo historiador, Le Catholicisme
entre Luther et Voltaire, indica o caminho para a abordagem da Reforma
catlica, e para o modo como o referido autor concebe as reformas: como
atos no seqenciais entre si, tentando entender sua gnese para alm da
tradicional questo em torno dos abusos da Igreja. Neste livro, Delumeau
argumenta que a renovao da Igreja se deu em dois momentos, o da prreforma e o iniciado no Conclio de Trento (1545-1563), quando os prelados
ali reunidos atenderam alguns pleitos de Joo Huss, Bernardo de Siena e
Savonarola. O autor tambm chama ateno para o ambiente de solidez
teolgica da Espanha no sculo XVI, onde surgiu a vocao religiosa de
Incio de Loyola e o neotomismo da Universidade de Salamanca. Em relao
ao Conclio de Trento, Delumeau desenvolve seu estudo em torno de uma
questo: como um evento que contou com tantas dificuldades, que foi iniciado com tanto ceticismo e com to pouco expressivo nmero de clrigos,
como este acontecimento que enfrentou obstculos por parte de soberanos
europeus como Francisco I, e que precisava tanto do apoio dos chefes de
Estado catlicos, como pde este evento marcar de tal forma a histria da
Igreja. Delumeau responde a esta questo defendendo que a grandeza do
Conclio de Trento consistiu em atender s necessidades religiosas de seu
tempo, tal como a Reforma protestante. Estabelece um paralelo entre o dito
de Nantes (1598) e este conclio, pois os dois acontecimentos efetivamente
realizaram o que os anteriores decretos de tolerncia no caso do primeiro
e as anteriores reformas, no segundo, no concretizaram, permanecendo
letra morta. Segundo o autor, a cristandade ocidental, em meados do s-
DELUMEAU, Jean. Un Chemin dHistoire, Chrtient et Christianisation. LADURIE, Emmanuel Le Roy. Montaillou.
Ctaros e catlicos numa aldeia francesa 1294-1324. Lisboa: Edies 70, s.d., primeira edio francesa de 1975 e
DELUMEAU, Jean. O Carnaval de Romans. Da candelria quarta-feira de cinzas 1579-1580. So Paulo: Companhia das Letras, 2002, edio francesa de 1979. DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do Povo. Sociedade e cultura no
incio da Frana moderna. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990, edio norte-americana de 1975. GINZBURG, Carlo.
O Queijo e os Vermes. O cotidiano e as idias de um moleiro perseguido pela Inquisio. So Paulo: Companhia
das Letras, 1987, edio italiana de 1976; GINZBURG, Carlo. Os Andarilhos do Bem. Feitiarias e cultos agrrios
nos sculos XVI e XVII. So Paulo: Companhia das Letras, 1990, primeira edio de 1966 e GINZBURG, Carlo.
Histria Noturna. Decifrando o sab. So Paulo: Companhia das Letras, 1991, primeira edio de 1989. Na linha
da micro-histria tambm se Destaca LEVI, Giovanni. A Herana Imaterial. Trajetria de um exorcista no Piemonte
do sculo XVII. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2000, primeira edio em 1985.
136
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
culo XVI, vivia uma mutao profunda, tinha fome de Deus. Esta fome se
manifestava, por um lado, pela busca da palavra da vida, mas tambm pelo
pnico dos pecados. A saciedade desta fome pode ser percebida, aps
o Conclio, pelo comportamento mais moralizado de alguns papas, pela
renovao de Roma enquanto capital religiosa, pelos snodos, seminrios
e visitas pastorais intensificados, e pelas novas ordens religiosas criadas.
Algumas ordens, como a dos capuchinhos e das ursulinas, precederam o
prprio Conclio, impressionando a sensibilidade religiosa da poca. Outras
se destacaram pela pujana de suas realizaes, como foi o caso notrio
dos jesutas, soldados de Cristo que abrangeram o alm-mar, e dos carmelitas descalos liderados por Teresa dvila, renovando o catolicismo na
Espanha de Felipe II. Deste modo, nesta obra, o autor prope duas leituras
da Reforma catlica: uma sobre o endurecimento das estruturas, com um
clero mais firme e com nfase na catequese; e outra, a falar de santidade
e piedade, de exemplos hericos testemunhados nas vidas de papas e
religiosos do sculo XVI.10
Torna-se oportuno, assim, em se tratando de Reforma catlica, recuperar
um nome apenas mencionado ao incio como componente de uma trade
fundamental para o entendimento das inovaes historiogrficas sobre a
Reforma. Coube a Hubert Jedin, jesuta alemo que conseguiu o acesso
aos documentos do Conclio de Trento, a criao do conceito de Reforma
catlica, diferente de Contra-Reforma. Em sua histria sobre o Conclio de
Trento, Jedin renova os estudos da estrutura organizacional da Igreja no
sculo XVI, contemplando tambm o perodo da pr-reforma, o que possibilita pensar as mudanas vividas no papado durante os Quinhentos. O
autor alemo enfatiza as linhas de fora do Conclio, caracterizadas pelo
reforo das escrituras e da tradio, seguindo passo a passo a marcha
do evento, analisando a diplomacia entre Roma, Trento e Salamanca, e a
influncia das idias erasmianas. Jedin mencionado por Jean Delumeau
como o melhor historiador da Reforma catlica.11
Contudo, a Reforma catlica, como j foi indicado, no pode ser restrita
ou tipificada apenas pelas decises conciliares. John Bossy, em Christianity
in the West 1400-1700, fornece-nos o interessante exemplo de uma reforma silenciosa, caracterizada pela investida dos clrigos em disciplinar as
prticas do casamento em oposio s fianailles, que consumavam a
unio antes do lao institucional definitivo -; do batizado logo aps o nascimento; da confisso peridica. Nesses casos, tratava-se de promover a
passagem de uma cristandade medieval para um moderno catolicismo,
10 DELUMEAU. Le Catholicisme entre Luther et Voltaire. Paris: PUF, 1994, primeira edio em 1971.
11 JEDIN, Hubert. Histria del Concilio de Trento. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, 1972, traduo
castelhana do original alemo Geschichte des Konzils von Trient, de 1957, e o artigo Catholic Reformation or
Counter-Reformation? In: LUEBKE, David M. (org.). The Counter-Reformation. Malden/ Oxford: Blackwell Publishing, 1999, p.19-46.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
137
Rodrigo Bentes Monteiro
mediante rompimento dos vnculos de uma solidariedade grupal para uma
delegao de responsabilidades ao indivduo como catlico.12 A Reforma
catlica em Portugal tem sido trabalhada por Federico Palomo com nfase
neste catolicismo moderno. Retomaremos essa questo to importante
sobre a modernidade das Reformas Religiosas ao final do artigo.13
Deve-se ainda mencionar, para que se tenha noo de um quadro mais
rico e complexo acerca do universo religioso no sculo XVI no necessariamente polarizado entre protestantismo e catolicismo -, a existncia de
outras correntes de pensamento no to engajadas em disputas. O historiador italiano Alberto Tenenti desenvolveu um j clssico estudo sobre o
libertinismo, publicado nos Annales, no qual se faz evidente mais uma vez
a dificuldade de classificao sobre o que seria hertico ou ortodoxo em
termos religiosos. No obstante, o autor indica trs tipos de libertinismo entre
a metade do sculo XVI e o incio do sculo XVII. Um libertinismo espiritual,
mais relacionado aos msticos medievais; o demonstrado por Jean Bodin,
em seu Heptaplomeres, que Tenenti relaciona a um tempo futuro, o das
Luzes; e aquele praticado por Pierre Charron, este sim, segundo o autor,
mais identificado ao seu tempo. Posteriormente, o libertinismo foi estudado
por Sergio Bertelli, em Rebeldes, Libertinos y Ortodoxos en El Barroco. Este
historiador italiano organizaria ainda o colquio Il Libertinismo in Europa,
que resultou em obra tambm publicada.14
O quadro complexo, referente ao universo religioso e cultural na Europa
do incio da poca Moderna, tambm deveria englobar outros movimentos,
dentro do prprio contexto de pr-reforma no sculo XV, como o evangelismo
e, posteriormente, no sculo XVII, o jansenismo.15 Tambm seria importante
aprofundar o entendimento do papel fundamental desempenhado pela
eloqncia e pela retrica na Reforma catlica, em especial na obra dos
jesutas, tema desenvolvido por Marc Fumaroli, em Lge dloquence.16
12 BOSSY, John. A Cristandade no Ocidente 1400-1700. Lisboa: Edies 70, 1990, primeira edio inglesa em 1985
e o artigo BOSSY, John. The Counter-Reformation and the people of catholic Europe. In: LUEBKE. (org.). The
Counter-Reformation, p.85-104.
13 PALOMO, Federico. Fazer dos Campos Escolas Excelentes. Os jesutas de vora e as misses do interior em
Portugal 1551-1630. Lisboa: Fundao Calouste Gulbenkian, 2003, e PALOMO, Federico. A Contra-Reforma em
Portugal 1540-1700. Lisboa: Livros Horizonte, 2006.
14 TENENTI, Alberto. Libertinisme et hrsie milieu du 16e sicle, dbut du 17e sicle. Annales ESC Hrsies et
Societs, ano 18, n 1, p.1-19, jan-fev. de 1963. Cf. tambm MAGNARD, Pierre. Le Colloquium Heptaplomeres et
la religin de la raison. In ZARKA, Yves Charles (org.). Jean Bodin Nature, Histoire, Droit et Politique. Paris: Presses
Universitaires de France, 1996, p.3-22 e MONTEIRO, Rodrigo Bentes. A repblica de Jean Bodin: uma interpretao
do universo poltico francs durante as guerras de religio. Tempo. Revista do Departamento de Histria da UFF.
Rio de Janeiro: 7 Letras, v.18, n 15, p.161-177, jul. 2003. BERTELLI, Sergio. Rebeldes, Libertinos y Ortodoxos
en el Barroco. Barcelona: Pennsula, 1984, primeira edio italiana em 1973 e BERTELLI (org.). Il Libertinismo in
Europa. Milano / Napole: Riccardo Ricciardi Editore, 1980.
15 Para uma tima sntese sobre o jansenismo SOUZA, Evergton Sales. Jansnisme et Reforme de Lglise dans L
Empire Portugais 1640 1790. Paris: Centre Culturel Calouste Gulbenkian, 2004, p.33-91.
16 FUMAROLI, Marc. Lge de Lloquence. Rthorique et res literaria de la Renaissance au seuil de lpoque classique.
Paris: Albin Michel, 1994.
138
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
Secularizao desencantada
Mas para se buscar coerncia em relao ao sugerido, sobre a indistino na Europa de incio da poca Moderna entre mltiplos aspectos
componentes daquele mundo e o tema das Reformas Religiosas, alguns
estudos complementam o argumento proposto.
Na segunda metade do sculo XX, enquanto estudiosos marxistas
identificavam na figura de Thomas Mntzer um lder revolucionrio em meio
s guerras camponesas no sculo XVI,17 a historiografia revisionista esforava-se por atacar modelos tericos de interpretao. Em ensaio bastante
divulgado, Hugh Trevor-Roper dialoga com a conhecida tese de Max Weber
sobre a tica protestante e o esprito do capitalismo. Aps investigar trajetrias e comportamentos de empresrios calvinistas neerlandeses, soberanos
catlicos e protestantes, em meio Guerra dos Trinta Anos (1618-1648)
que assolou a Europa, o historiador ingls conclui sobre a existncia de um
vnculo indireto entre calvinismo e capitalismo na Europa ocidental e no
direto, como advogavam interpretaes marxistas e weberianas, ainda que
de modos muito distintos. Em sntese, Trevor-Roper constata uma converso
generalizada de empresrios capitalistas erasmianos (simpatizantes de
Erasmo), perseguidos pela Igreja de Roma e desfavorecidos pelas cortes
catlicas, para o calvinismo. Esta converso teria sido acompanhada de uma
migrao dos mesmos de pases catlicos para repblicas protestantes, por
conta do avano da burocracia estatal das cortes europias, que sufocava o
capitalismo independente dos simpatizantes de Erasmo. Portanto, segundo
o autor, no seria propriamente o catolicismo a impedir diretamente o capitalismo nas cidades do sul do Sacro Imprio, das Pennsulas Ibrica e Itlica,
pois nessas regies j existiria um capitalismo medieval feito por catlicos
termo excntrico empregado por Roper. Nessa perspectiva seria imprpria
a idia weberiana acerca da tica calvinista como principal motor, de forma
direta, do desenvolvimento capitalista. Talvez a tendncia conservadora do
autor na poltica inglesa ajude a entender a reduo excessiva que ele opera
em relao ao peso das causas e ideologias nas transformaes sociais.
Pinta, assim, um quadro de meras disputas por oportunidades e convenincias ao hiperdimensionar o avano das cortes absolutistas como sistemas
de poder. Mas evidente em sua anlise o valor da pesquisa histrica em
contraposio a modelos sociolgicos generalizantes. No obstante tambm
transparece de modo diferente de outras anlises economicistas, a relao
entre a vida econmica e social e a religio.18
17 O exemplo mais conhecido o livro de BLOCH, Ernst. Thomas Mntzer, telogo da revoluo. Rio de Janeiro:
Tempo Brasileiro, 1973, primeira edio de 1962.
18 TREVOR-ROPER, Hugh. Religio Reforma e Transformao Social. Lisboa: Presena, 1972, p.13-42, primeira
edio em 1969. WEBER, Max. A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo. So Paulo: Pioneira, 1983, edio
original alem de 1905.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
139
Rodrigo Bentes Monteiro
A meno crtica sociologia de Weber abre espao para considerar
a incidncia de suas idias nos estudos histricos sobre a Reforma e o
alvorecer da Idade Moderna, sobretudo no que se refere categoria de
secularizao. Segundo o filsofo Giacomo Marramo, o termo secularizar
surgiu ao final do sculo XVI nas disputas cannicas francesas, relacionado passagem de um religioso regular ao estado secular. Foi empregado
tambm nas longas negociaes em Mnster, 1646, para a Paz de Vestflia
em 1648, sobre a transferncia de propriedades religiosas para mos seculares. O neologismo indicava a expropriao de bens eclesisticos a favor
de prncipes ou igrejas reformadas. Desde as lutas pela Reforma, o termo
relacionava-se afirmao de uma jurisdio secular ou estatal sobre
setores da vida social at ento sob domnio da Igreja.19
Como sabemos pelo trabalho de Reinhart Koselleck, em meados do
sculo XVIII era forjado o conceito de progresso na forma que nos familiar,
com uma prospectiva futurizante. Nesse tempo a secularizao aparecia
ligada ao conceito unitrio de tempo histrico. Surgia assim a idia do
progresso como temporalidade cumulativa e irreversvel, a representar o
moderno processo de secularizao.20 O tempo como mudana e transformao constante tornava-se assim a forma por excelncia da modernidade.
No sculo XIX, a palavra secularizao conheceu uma extenso semntica,
primeiro no campo poltico, com a expropriao dos domnios religiosos
pelo decreto napolenico, de 1803, posteriormente na sociologia.
Com efeito, o desenvolvimento da moderna sociedade europia ocidental foi pensado pela primeira vez, de forma completa, por Max Weber,
no incio do sculo XX, como processo de secularizao. Por um lado,
a expresso remetia a uma concepo geral do processo cultural no Ocidente; mas por outro, a concepo deste mesmo processo rompeu com as
filosofias da Histria anteriores, na verso idealista de Hegel, ou na materialista de Marx. Para Marramao, o papel da secularizao em Weber seria
incompreensvel sem a tese da tica do protestantismo calvinista como base
do esprito do capitalismo, aspecto do crescente racionalismo ocidental
moderno. Contudo, a amplitude do panorama no caracteriza uma filosofia da Histria na obra weberiana. As categorias de Weber foram extradas
de uma seleo emprica e comparativa que identificou traos peculiares
no interior de expresses genricas como capitalismo ou racionalismo
ocidental. Para explicar esse processo, Weber fez referncia a condies
econmicas, cientficas e jurdicas, mas tambm capacidade e disposio dos agentes sociais para adotarem condutas racionais de vida. Nesta
19 Para essas reflexes MARRAMAO. Poder e Secularizao. As categorias do tempo. So Paulo: Editora UNESP,
1995, primeira edio italiana de 1983 e MARRAMAO. Cu e Terra.
20 KOSELLECK, Reinhart. Crtica e Crise. Uma contribuio patognese do mundo burgus. Rio de Janeiro: Eduerj,
1999, primeira edio alem de 1959 e KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado. Contribuio semntica dos
tempos histricos. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora PUC-Rio, 2006, primeira edio alem de 1979.
140
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
via, evidenciou o fator tico do agir que, identificado na ascese caracterstica
da Reforma, conectava-se problemtica da secularizao.21
Para Weber, o aspecto decisivo da secularizao ligava-se prevalncia
de um modo de agir racional, que encontrou sua expresso na tica da
renncia e da ascese no protestantismo calvinista puritano. Mediante a doutrina da graa e sua ratificao manifesta nas obras e no sucesso, a atitude
protestante daria lugar a um rigor religioso, mas tambm a uma aderncia ao
mundo que constituindo o esprito do capitalismo induziria nas relaes
sociais um forte efeito de dessacralizao. Em Die Protestantische Ethik un
der Geits des Kapitalismus, a secularizao enquadrava-se nesse processo
de desencantamento do mundo, traduzindo-se numa recusa dos meios
mgicos e sacramentais de busca da salvao. O tpico foi esclarecido em
Wirtschaft und Gesellschaft, obra pstuma na qual o socilogo separou as
figuras do profeta e do sacerdote pela vocao pessoal. Essa separao
foi decisiva para captar a dimenso dessacralizante do profetismo, como
manancial da dinmica secularizante. Se o sacerdote era legitimado pelo
cargo, o profeta atuava em virtude dos seus dons pessoais. Pela amplitude de perspectiva e riqueza de contedo, a sociologia religiosa de Weber
representou um divisor de guas nos estudos sobre a secularizao.22
Mas a grandeza da descoberta de Weber sobre as origens do capitalismo encontra-se em demonstrar que uma intensa atividade mundana era
possvel sem se desfrutar do mundo excessivamente, apenas na valorizao
do trabalho, uma atividade cuja motivao, ao contrrio, era a preocupao
e interesse de cada um por si prprio. Segundo Marramao, a alienao do
mundo, portanto, e no a alienao de si, como pensava Marx, seria a caracterstica distintiva da Idade Moderna. Entretanto, a tese weberiana exerceu
influncia sob o signo do processo de desencantamento do mundo. O
poder sugestivo desta frmula marcou a discusso sobre a secularizao
da sociedade moderna.23
Nesse sentido, para Marramao, a tese da dessacralizao foi precipitadamente atribuda ao socilogo alemo. Em Weber, a anlise da secularizao excluiu qualquer sentimento ou juzo de valor ameaador da eficcia do
processo. Ele perseguiu o nexo entre secularizao e racionalizao, como
um destino histrico irreversvel. Mas seu desencantamento no comportaria um mundo desideologizado e dessacralizado. Faz-se evidente assim
a inconsistncia do esquema sacro-profano para exprimir a complexidade
da categoria de secularizao.
21 MARRAMAO, Poder e Secularizao e MARRAMAO, Cu e Terra.
22 WEBER. A tica Protestante e o Esprito do Capitalismo; e WEBER. Economia y Sociedad. Esbozo de sociologa
comprensiva. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 2002, p.328-492, primeira edio em 1922.
23 MARRAMAO. Poder e Secularizao; e MARRAMAO. Cu e Terra.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
141
Rodrigo Bentes Monteiro
Marramao observa o problema desta ampliao de sentidos ocorrida
com a palavra, pois secularizao acabou figurando como uma filosofia
da histria camuflada, um termo indeterminado e controverso, interpretado
como descristianizao ou dessacralizao. No mbito poltico, utilizado
para tratar da perda de modelos tradicionais de valor e de autoridade,
fenmeno que, a partir da Reforma protestante, consistiu na ruptura do
monoplio da interpretao. J no debate filosfico figura como sinnimo da
eroso dos fundamentos teolgicos e da abertura dimenso da escolha,
da responsabilidade e do agir do homem no mundo. Para o filsofo italiano
necessrio distinguir entre esses dois paradigmas: o da secularizao,
do moderno como mundanizao de um ncleo original meta-humano; e
o da laicizao, ou libertao, ou seja, do moderno como desimpedimento
do indivduo em sua progressiva auto-afirmao.
curioso perceber que os fenmenos da expropriao de bens e da
alienao do mundo, na construo de uma identidade mais individualizada,
coincidiram no tempo. A Idade Moderna comeou por alienar do mundo
certos extratos da populao. Tendemos a negligenciar a importncia desta
alienao, porque sublinhamos seu carter secular, e identificamos a secularizao tambm reconquista do mundo. No entanto, historicamente a
secularizao apenas significou a separao entre Igreja e Estado, religio
e poltica. De um ponto de vista poltico, parece um retorno mxima crist
dar a Csar o que de Csar e a Deus o que de Deus e no o desaparecimento da f na transcendncia, ou um interesse enftico pelas coisas
do mundo. Portanto, a suposta perda da f na Idade Moderna no pode
ser relacionada s Reformas Religiosas. Lutero substituiu a religiosidade
exterior pela interior, a f na autoridade pela autoridade da f.
Religio poltica
Entretanto, so muitos os exemplos de interao entre religio e poltica, no incio da poca Moderna, em Cortes reformadas ou catlicas, que
relativizam a separao entre Igreja e Estado no campo institucional ou
nas idias relativas ao governo e moral. Para Marc Bloch, no clebre Les
Rois Thaumaturges, publicado em 1924, o absolutismo era uma espcie
de religio. Sob a influncia da Sociologia de Durkheim, Bloch estuda os
rituais de cura de escrfulas, a uno rgia e o leque de legendas que envolvia as monarquias na Inglaterra e na Frana, desde tempos medievais.
O historiador francs deixa evidente a simbiose existente entre a realeza e o
sagrado, que perdurou na Corte inglesa at a ascenso da dinastia Hanover,
e na Frana at a Revoluo, com uma revivncia efmera na coroao de
Carlos X, em 1825. Por sua vez, Ernst Kantorowicz, inspirado na teologia
poltica de Carl Schmitt, estuda em dois captulos inciais de The Kings Two
Bodies a elaborao dos juristas da era Tudor em torno da fico dos dois
142
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
corpos do rei ingls: quanto ao primeiro, sujeito a paixes e morte como
qualquer outro homem, mas quanto ao segundo, imortal e sagrado, idia
tambm presente nas peas de Shakespeare. O tema seria retomado por
Ralph Giesey, discpulo de Kantorowicz, ao estudar os funerais dos reis
franceses nos sculos XV e XVI, em Le Roi ne Meurt Jamais, e por Agostino
Bagliani, ao sublinhar as diferenas em relao ao funeral papal.24
No mbito das idias polticas, Quentin Skinner concede ateno em
The Fundations of Modern Political Thought s idias de Erasmo e outros
humanistas, bem como a luteranos e calvinistas e suas concepes no
sculo XVI. Embora a Sociologia de Weber seja referencial na sua interpretao do moderno, o historiador de Cambridge contempla um universo
vasto de textos, muitos deles medocres, de forma a estabelecer o contexto
intertextual e posicionar melhor obras consideradas seminais do pensamento poltico moderno. Destaca-se o estudo sobre a mudana da poltica
protestante: da considerao do prncipe como predestinado por Deus, ao
dever de resisitir e lutar pela deposio de um tirano, mormente em Cortes
catlicas, como Esccia e Frana. O universo neotomista tambm contemplado no ambiente da Reforma catlica e do carter contratual vigente
nas monarquias ibricas.25
Em perspectiva diferente de Skinner, pela maior especificao das situaes polticas, encontram-se os estudos dos irmos Firpo. Luigi Firpo
autor de uma introduo primorosa a uma edio italiana de O lamento pela
paz, texto de Erasmo feito para o encontro em Cambrai, 1516, reunindo o
imperador, os reis de Frana e da Inglaterra. O historiador italiano ressalta a
influncia do contexto do ducado da Borgonha e suas possesses entre
elas Rotterdam no pensamento de Erasmo pela paz e por uma monarquia
universal. Aps narrar os episdios que culminaram na derrota borgonhesa
em Nancy, Firpo interpreta o lamento de Erasmo como melancolia pelo
ocaso de uma civilizao perdida a da Borgonha -, que buscava, pela
diplomacia, algum melhor tratamento entre soberanos mais poderosos. Por
sua vez, Massimo Firpo escreve sobre os homens do clero no artigo intitulado O cardeal, na obra organizada por Eugnio Garin acerca do homem
renascentista. Ante o quadro comumente aceito para pintar o vrtice da
Igreja em Roma, no incio do sculo XVI, de violncia, devassido, avidez
e corrupo, o autor observa que, naquele tempo, nada disso provocava
24 BLOCH, Marc. Os Reis Taumaturgos. O carter sobrenatural do poder rgio Frana e Inglaterra. So Paulo: Companhia das Letras, 1993, sobretudo p.215-249. KANTOROWICZ, Ernst H. Os Dois Corpos do Rei. Um estudo de
teologia poltica medieval. So Paulo: Companhia das Letras, 1998, p.21-47, primeira edio de Princeton, em
1957. GIESEY, Ralph. Le Roi ne Meurt Jamais. Les obsques royales dans la France de la Renaissance. Paris:
Flammarion, 1987. BAGLIANI, Agostino Paravicini. Le Corps du Pape. Paris: Seuil, 1997, edio italiana de 1994.
Sobre esta discusso historiogrfica MONTEIRO. Crtica monumental. Tempo, v. 10, n. 19, p.201-205, 2005.
25 SKINNER, Quentin. As Fundaes do Pensamento Poltico Moderno. So Paulo: Companhia das Letras, 1996,
primeira edio inglesa de 1978. Em perspectiva mais filosfica, uma abordagem da missionao na Amrica
foi empreendida pelo italiano IMBRUGLIA, Girolamo. Linvenzione del Paraguay. Studio sullidea di comunit tra
Seicento e Settecento. Napoli: Bibliopolis, 1983.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
143
Rodrigo Bentes Monteiro
escndalo, pois a conscincia comum no separava clrigos e leigos. Uma
imagem austera e contrita da vida religiosa s seria afirmada no contexto
posterior da Reforma catlica. Firpo evita assim as avaliaes moralistas
sobre a mundanidade da hierarquia eclesistica entre os sculos XV e XVI,
e o anacronismo das interpretaes.26
Particularizando o mbito catlico, os estudos inquisitoriais tm sido
altamente renovados em Roma, para o caso itlico, com a recente abertura
do Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, do extinto Santo
Ofcio, projeto que compreende em sua comisso Massimo Firpo, Carlo
Ginzburg e Adriano Prosperi, entre outros. Neste setor tambm destacamse os estudos ibricos, pela riqueza dos arquivos existentes. Em sntese,
a farta bibliografia sobre inquisio espanhola pode ser tipificada em duas
vertentes principais: os estudos de historiadores espanhis sobre tribunais,
capitaneados por Jaime Contreras, e uma linha socio-cultural exemplificada
pelos livros de Bartolom Benassar. Trata-se de uma historiografia mais concentrada nos resumos dos processos. No meio portuguus, destacam-se
os trabalhos de Francisco Bethencourt, que produziu uma viso de conjunto
sobre a dinmica inquisitorial em Portugal, Espanha e Itlia. A superao
de uma abordagem mais institucional tem sido empreendida por Jos
Pedro Paiva, seja pela contemplao da fetiaria lusa, seja pelo instigante
captulo que assina na Histria Religiosa de Portugal, no qual versa sobre a
interpenetrao entre Igreja e Estado no Portugal do Antigo Regime.27
Entretanto, pode-se explicitar com mais vagar um caso de vnculos
estreitos entre as Reformas Religiosas e as questes polticas, desfazendo
fronteiras entre religio, magia, filosofia, e o prprio exerccio do poder. Ao
enveredar pelo ambiente intelectual da monarquia francesa no tempo das
Guerras de Religio (1559-1598), Denis Crouzet identifica, aps a ecloso
dos conflitos, duas respostas da realeza no excludentes entre si s
violncias interconfessionais. A mais evidente, de matriz humanista, tentava fundar a paz pela tolerncia da f reformada. Provavelmente de fonte
erasmiana, foi dominante de 1560 a 1568, liderada pelo chanceler Michel
de LHspital, que se esforou com alguns intelectuais os politiques, entre
eles Jean Bodin para tornar poltica uma viso da ordem rgia. Alm dos
26 FIRPO, Luigi (org.). Erasmo de Rotterdam. Il Lamentto della Pace. Milano: Tea, 1997, p.5-29. FIRPO, Massimo, O
cardeal. In: GARIN, Eugnio (org.). O Homem Renascentista. Lisboa: Presena, 1991, primeira edio italiana de
1988, p.59-97.
27 CONTRERAS, Jaime. Historia de la Inquisicin Espaola (1478-1834). Madrid: Arco Libros, 1997. BENASSAR,
Bartolom. Inquisicin Espaola. Poder poltico y control social. Barcelona: Grijalbo, 1984. BETHENCOURT, Francisco. Histria das Inquisies. Portugal, Espanha e Itlia sculos XV-XIX. So Paulo: Companhia das Letras, 2000,
primeira edio de 1995. PAIVA, Jos Pedro. Bruxaria e Superstio num Pas sem Caa s Bruxas (1600-1774).
Lisboa: Notcias, 1997 e PAIVA, Jos Pedro. A Igreja e o poder. In: AZEVEDO, Carlos Moreira (dir.). MARQUES, Joo
Francisco & GOUVEIA, Antnio Cames (org.). Histria Religiosa de Portugal. Humanismo e Reformas. Lisboa:
Crculo de Leitores, 2000, v.2, p.135-185. Uma abordagem que mescla aspectos devocionais, corporaes de
ofcio e ao inquisitorial faz-se presente no livro de SANTOS, Georgina Silva dos. Ofcio e Sangue. A Irmandade
de So Jorge e a Inquisio na Lisboa Moderna. Lisboa: Colibri, 2005.
144
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
dios, existia a soluo da tolerncia como preservao do Estado, pois
sem um poder dominante, os homens guerreariam ao infinito. O rei devia
manter a paz, justificativa da organizao social e poltica capaz de findar
os conflitos.28
Mas havia outra corrente filosfica que convm enfatizar. No sculo
XVI, dilogos de Plato eram lidos nas academias italianas, sobretudo em
Florena, onde conferncias sobre a filosofia do amor eram freqentes.
Obras de Plato e dos antigos platnicos, alm das atribudas a Orfeu,
Zoroastro, Hermes e aos pitagricos, eram editadas em grego e latim. Os
escritos platnicos renascentistas tambm foram difundidos em lnguas
vernculas, sobretudo francesa e italiana. Na Frana, doutos como Lefvre
dEtaples e poetas religiosos como Margarida de Valois valiam-se das idias
de Marslio Ficino, no seu apelo contemplao e experincia interior.
O amor platnico tornava-se ento uma moda nas academias literrias.
A influncia do platonismo tambm ocorria na matemtica apreciada por
Plato e seus seguidores, a expressar a superioridade do conhecimento
quantitativo sobre o qualitativo, da matemtica sobre a fsica, do platonismo
sobre o aristotelismo.
Nesse mbito, segundo Crouzet, o poder rgio francs da Renascena se caracterizava pela capacidade do rei governar como um iniciado
nos segredos do universo. No sistema neoplatnico de Ronsard, poeta
da corte, o universo era regido por uma lei de alternncia. Mesmo que o
dia seguisse a noite, que as estaes se sucedessem, o bom tempo viria
aps a tempestade. Em 1566, um terico definia o prncipe como aquele
que devia, por suas virtudes, ser sbio para guiar o povo aos bons modos,
na crena e no amor de Deus. As festas da Corte no tempo de Catarina de
Mdici e de seus filhos podiam chocar pela suntuosidade. Mas a diverso
civilizada afirmava a virtude pacificadora do prncipe que vivia em tranqilidade, oferecendo prazeres e diferenciando-se do tirano, que proporcionava
opresso, angstias, medos. As festas eram ento espelhos da justia e
piedade rgias, incluindo os presentes na consagrao das virtudes, reflexos
da beleza universal cuja sabedoria s o prncipe possua. Nesse sentido,
festas, quadros, tmulos e poesias organizados na corte Valois atuavam
como talisms, inspirados em teorias neoplatnicas e hermticas.
A educao principesca, atravs de Plutarco, visava fazer de Carlos IX
um rei filsofo semelhana dos descritos na Repblica de Plato. Como
a fora unificadora do mundo era um fogo, a chama da realeza por meio da
educao e da cincia devia ser mantida acesa, contra a degenerescncia.
28 Para essas informaes, CROUZET, Denis. La Nuit de la Saint-Barthlemy. Un rve perdu de la Renaissance. Paris:
Fayard, 1994. Cf. tambm MONTEIRO & RAMUNDO, Walter Marcelo. O estado de Bodin no estado do homem
renascentista. Revista de Histria. Departamento de Histria da Universidade de So Paulo, So Paulo: Humanitas,
n 152, p.189-214, 2005.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
145
Rodrigo Bentes Monteiro
Rei filsofo e mago que se ocupava das cincias da natureza e agia no
plano natural. Contra a violncia, uma realeza da harmonia dos contrrios se
impunha. Os problemas da Frana eram naturalizados assim pela lgica da
instabilidade das coisas humanas, da bonana ao sofrimento, e vice-versa.
A harmonia universal era esse movimento pendular incessante, cabendo
aos governantes promover a concrdia.
Nesse mundo religioso dilacerado, o amor neoplatnico era a ltima
defesa contra a ruptura, tentativa de adeso da monarquia ao movimento
universal, a esta sabedoria ou prudncia que afastava os efeitos astrais,
superando os desafios polticos e religiosos, pela harmonia de contrrios que
assegurava a perpetuao da vida. O homem era, portanto, ambivalente,
definindo-se numa dualidade conservadora das coisas. Os que detinham
o poder poltico deviam atuar segundo essa compensao para atingir o
equilbrio. Catarina de Mdici, nos libelos huguenotes, aps o massacre
de 1572, tornou-se uma feiticeira, responsvel pelos males da Frana. De
fato, ela pertencia a uma cultura mgica. Na Renascena, poder significava
tambm atrao de foras, comunho com o fluxo vital, parte de um sistema
esotrico de conhecimento que condicionava a poltica. Alm dos eventos
das guerras de religio, existia uma cultura que aglutinava poder monrquico, neoplatonismo e hermetismo, ou seja, realeza, filosofia e magia. A religio dos ltimos Valois era ento diferente das confrontantes, catolicismo
e protestantismo, ao fazer da arte poltica uma arte mstica. Denis Crouzet
defende a busca do poder na Frana, da segunda metade do sculo XVI,
nas imagens do mundo que seus contemporneos compunham, em funo
dos seus sistemas filosfico-metafsicos.
Ao conceber o poder como discurso, o historiador francs explica o
massacre de 24 de agosto de 1572 como um sonho perdido da Renascena, e alivia o drama da violncia religiosa na Frana do sculo XVI, que
recebeu outra abordagem, por exemplo, de Natalie Davis. No ensaio, intitulado Ritos de violncia, a historiadora de tendncia etnogrfica recupera
cenas cotidianas que opunham catlicos e protestantes, demonstrando
que os massacres no podem ser explicados apenas pelas ordens vindas
de cima, nem pela alta dos preos, nem como loucura coletiva. Segundo
Davis, a religio era vivida de forma violenta por vrios segmentos sociais.
Deste modo a autora recupera o tema da devoo religiosa, e aproxima
sua anlise das anteriores inovaes de Febvre e Delumeau, ao rejeitar
explicaes puramente economicistas ou institucionais.29
No obstante a leveza dos conflitos inerentes s guerras religiosas no
ensaio de Crouzet, ele desenvolve verses acerca do evento e da famlia
real, catlicas e protestantes, que lhe permitem trabalhar a construo de
29 DAVIS. Ritos de violncia, in Culturas do Povo, p.129-156.
146
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
esteretipos polticos de personagens como Catarina de Mdici e Carlos
IX: a rainha feiticeira, o rei caador. Entretanto, o ponto central para a
argumentao proposta neste artigo surge ao se buscar a ponte com a
idia lanada por Delio Cantimori, sobre a Reforma como fracasso do
humanismo.30 Denis Crouzet aborda o massacre de 24 de agosto de 1572
como um sonho perdido da Renascena, um ideal neoplatnico de amor
e tolerncia religiosa expresso nas formaes intelectuais e de governo
incidentes em membros da famlia real dos Valois Angoulme. Sonho destrudo pela estratgia do malfadado assassnio do almirante Gaspar de
Coligny na poca influente sobre o rei Carlos -, pelo acuamento poltico
da famlia rgia ante os radicais protestantes, e pela falncia da tolerncia
religiosa promovida pela monarquia. Esse conjunto resultaria no plano do
massacre, polmico no referente extenso da ordem do rei, se dirigida
aos chefes protestantes, ou a todos os huguenotes em Paris. De qualquer
modo, a fria coletiva foi desencadeada em todo o reino, mediante oposies religiosas que eram ao mesmo tempo polticas.31
Reforma moderna
Atento s relaes entre linguagem e histria, Koselleck observa que
ao menos no espao alemo -, somente nos Setecentos comeou-se a
tratar dos tempos modernos, o termo implantando-se lexicalmente no
sculo XIX. Assim, o conceito de modernidade imps-se sculos aps o
incio do perodo que pretendia abarcar o sculo XVI. Como sabemos, a
expresso relaciona-se criao do conceito de Idade Mdia. O recurso
dos humanistas ao modelo da Antiguidade limitava o nterim brbaro em
um perodo, e conduzia Petrarca, no sculo XIV, ao primeiro uso histrico do
medium tempus. Embora o termo tenha ingressado nos crculos eruditos, a
Idade Mdia como perodo despontou apenas no sculo XVIII, solidificandose no XIX. Como o seu par moderno.32
30 CANTIMORI. Humanismo y Religiones en el Renacimiento.
31 CROUZET, Denis. La Nuit de la Saint-Barthlemy..
32 A expresso tempos modernos significa o novo, o atual em oposio ao passado. Mas tambm uma tenso qualitativa, melhor em relao ao anterior. Nesse caso indica novas experincias, adquirindo assim uma caracterstica
de poca. Tambm se refere retroativamente a um perodo que se concebia como novo frente Idade Mdia.
Koselleck observa que entre os sculos XIV e XVII, os anais e crnicas continuaram sendo escritos de forma a
fixarem acontecimentos sucessivos. Como a escrita medieval, as histrias eram redigidas desde os respectivos
comeos do mundo, de uma cidade etc. ao longo do tempo. Histrias baseadas em testemunhos e exemplos,
de autoridade indiscutida. Os novos acontecimentos eram includos nessas histrias, sem que se lhes reconhecesse o carter de fundao de um novo tempo. Nessa historiografia aditiva, as periodizaes no remetiam
novidade do tempo no qual elas mesmas se encontravam. A passagem da meno a um tempo prprio, presente,
para a conotao de tempos modernos, seria indicativa para saber quando se descobriu a histria do tempo
prprio como nova. Este processo teria surgido no sculo XVII, consumando-se lentamente. Para determinar o
prprio tempo como moderno em oposio ao passado, e por extenso histria antiga, era preciso uma postura
diferente ante o passado, mas tambm em relao ao futuro. Somente depois que a expectativa crist no fim do
mundo perdeu seu carter de contnuo presente, pde-se descobrir um tempo ilimitado e aberto ao novo. Essa
virada em direo ao futuro consumou-se, sobretudo, aps as guerras religiosas, que esgotaram as expectativas
crists. Para essas reflexes KOSELLECK, Futuro Passado, p.267-303.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
147
Rodrigo Bentes Monteiro
Com efeito, Idade Mdia e Idade Moderna encontram-se entrelaadas
a Renascimento e Reforma. Mas, enquanto a idia do Renascimento em
oposio aos tempos medievais necessitou de tempo at consolidar-se
como um perodo nos Oitocentos, a palavra Reforma no mbito protestante ganhou rapidamente um sentido, evoluindo depois para a concepo
de um perodo especfico. Inicialmente apresentava um significado no
cronolgico, referindo-se vida religiosa, ao ordenamento da Igreja ou ao
direito tradicional. Posteriormente, a historiografia protestante singularizou
a expresso como um conceito de poca a Reforma de Lutero e seus
companheiros, vinculada restaurao da pureza da mensagem da sagrada
escritura, inaugurando o ltimo perodo cristo.
Entretanto, a remisso ao ensaio de Delio Cantimori encaminha melhor
a reflexo final do artigo, sobre as Reformas Religiosas como tpico caracterstico da poca Moderna. Lembrando ainda as idias do historiador
italiano, percebe-se a aproximao feita por ele entre os dois movimentos
culturais, Humanismo e Reforma: pelo esprito crtico presente em ambos, e
pelo conhecimento do idioma a fim de se conhecer a verdade no lidar com os
textos antigos os provenientes de autores clssicos, ou a Bblia traduzida e
interpretada. Cantimori tambm enfatiza o autoconhecimento como aspecto
fundamental aos humanistas autores de tratados de educao, bem como
aos reformadores protestantes e seus adeptos. Em sua digresso, identifica
diferentes geraes de humanistas, desde o otimismo de Ficino e Mirandola
na orao que dignificava o homem, at o realismo moralista de Erasmo
ou o pessimismo racional de Maquiavel, a observarem a mesma natureza
humana de modos diferentes. No obstante, humanistas e reformadores
concediam a ela grande ateno. A passagem do tempo do Humanismo
ao tempo da Reforma, da grandeza do homem a sua pequenez perante
Deus, teria seu marco simblico no saque de Roma em 1527, quando tropas
de Carlos V mostraram Pennsula Itlica a impotncia daquela civilizao
brilhante. No dispersar dos humanistas, solapava-se o entusiasmo restaurador de uma idade do ouro, que cedia lugar s controvrsias doutrinais,
e ao esprito teolgico dos reformadores. Desse modo, no original ensaio
do historiador italiano, a Reforma protestante manifestou-se historicamente
como inimiga do Humanismo. No por acaso, alguns humanistas italianos
e franceses posicionaram-se a favor da Reforma catlica, mais simptica
idia de livre-arbtrio.33
Contudo, ser preciso recuperar um elemento comum aos dois movimentos Reformas Religiosas e Humanismo -, e situ-lo no contexto tratado.
Ele se encontra na negativa da oposio entre os conceitos laico e religioso.
Vimos como Giacomo Marramao sublinhou o despertar da conscincia
33 CANTIMORI. Humanismo y Religiones en el Renacimiento.
148
As Reformas Religiosas na Europa Moderna
individual, presente na Reforma, como grmen da modernidade ocidental,
no mbito filosfico que destaca a laicizao como libertao do homem em
relao s instncias universais. Por sua vez, Hannah Arendt disserta sobre
um limiar da Idade Moderna, que consistiria em trs grandes eventos, entre
eles a Reforma protestante. Por meio da estatizao de bens eclesisticos,
o movimento reformador desencadearia o duplo processo de expropriao
e de acumulao de riqueza social. Mas Arendt tambm identifica um trao
da modernidade no fenmeno religioso da alienao do mundo que, sob
o nome de ascetismo mundano, Weber identificou como origem da nova
mentalidade capitalista. Para Arendt, longe de contradizerem-se, as duas
tendncias a expropriao e a alienao do mundo coincidem. A secularizao no implica o desaparecimento da f ou um novo interesse pelas
coisas deste mundo. Consequentemente, o perfil do homem moderno no
seria dado pela mundanidade, mas pela sua interioridade.34
No obstante as descontinuidades entre linguagem e histria para a
conceituao de uma poca Moderna desde o sculo XVI j apontadas
por Koselleck -, verifica-se o surgimento da questo da individualidade em
meio ao contexto das Reformas Religiosas. Uma conscincia mais individual encontra-se contemplada no incentivo ao conhecimento de si mesmo
apregoado por Lutero e Calvino. Mas tambm na ao catlica de maior
vigilncia sobre os fiis, exemplificada pelos trabalhos de Hubert Jedin e
John Bossy. Processo concomitante construo de identidades prprias
mediante a constatao das diferenas alheias, algo to caracterstico do
homem moderno ou renascentista, na acepo de Garin -, evidente na
dimenso antropolgica dos trabalhos de Carlo Ginzburg, entre outros.35
Portanto, parece apropriada a acepo das Reformas Religiosas como
elementos de uma modernidade germinal, no obstante as permanncias
vigentes nos sculos XVI, XVII e XVIII.
O debate apresentado, ao eleger como objeto principal as Reformas
Religiosas na Europa ocidental durante o sculo XVI, mostrou a considerao
do mundo popular, devocional e mgico, alm das questes puramente
institucionais e teolgicas, ou exclusivamente econmicas, em relao a
outros aspectos do mundo moderno. Tal quadro era composto por uma
realidade plural e multifacetada, destacada no mbito religioso. Ao priorizar
trabalhos historiogrficos de meados do sculo XX, o artigo tambm cotejou
a incidncia de certos modelos de interpretao nos estudos histricos, e a
discusso sobre a modernidade pertinente ao tema. No presente, novos
objetos de pesquisa, recortes conceituais e abordagens possibilitam pensar
34 MARRAMAO. Poder e Secularizao;. e MARRAMAO. Cu e Terra; ARENDT, Hannah. A Condio Humana. Rio de
Janeiro: Forense Universitria, 2003, editado primeiramente em 1958.
35 KOSELLECK. Futuro Passado; JEDIN. Histria del Concilio de Trento; BOSSY. A Cristandade no Ocidente 14001700; GARIN, Eugnio (org.). O Homem Renascentista, p.9-16 e GARIN, Eugnio. Idade Mdia e Renascimento.
Lisboa: Estampa, 1989, p.83-96, primeira edio de 1988. GINZBURG, O Queijo e os Vermes.
VARIA HISTORIA, Belo Horizonte, vol. 23, n 37: p.130-150, Jan/Jun 2007
149
Rodrigo Bentes Monteiro
as Reformas Religiosas com um distanciamento que Cantimori, Febvre e
Jedin, por exemplo, no puderam vivenciar. As hagiografias, o culto aos
santos, o messianismo e os sermes, as festas e a vida paroquial, as visitas
inquisitoriais como percepo da comunidade, a mestiagem cultural e as
histrias de grupos eclesisticos representam algumas dessas perspectivas
temticas, dos temas e abordagens encontrados em vrios trabalhos acerca do universo colonizador nas Amricas espanhola e portuguesa, alguns
deles inspirados em autores citados no decorrer deste texto. Mas esta j
seria uma outra histria, certamente objeto para outro artigo.
150
Você também pode gostar
- Historia Do Design N2Documento9 páginasHistoria Do Design N2Isabella VieiraAinda não há avaliações
- Regimento de 1613 PDFDocumento76 páginasRegimento de 1613 PDFalecio75Ainda não há avaliações
- Regimento de 1613 PDFDocumento76 páginasRegimento de 1613 PDFalecio75Ainda não há avaliações
- Regimento de 1552Documento41 páginasRegimento de 1552alecio75Ainda não há avaliações
- Introdução Aos Sistemas Computacionais PDFDocumento71 páginasIntrodução Aos Sistemas Computacionais PDFguidionAinda não há avaliações
- Ai - A Relação Homem NaturezaDocumento7 páginasAi - A Relação Homem NaturezaLeonor Neves Alves100% (3)
- A Defesa Dos RéusDocumento533 páginasA Defesa Dos Réusalecio75Ainda não há avaliações
- A heresia luterana e a Inquisição portuguesaDocumento11 páginasA heresia luterana e a Inquisição portuguesaalecio75Ainda não há avaliações
- Correspondência - de - Capistrano - de - Abreu (Volume 1)Documento544 páginasCorrespondência - de - Capistrano - de - Abreu (Volume 1)alecio75Ainda não há avaliações
- A Defesa Dos Réus: Processos Judiciais e Práticas de Justiça Da Primeira Visitação Do Santo Ofício Ao Brasil (1591-1595)Documento454 páginasA Defesa Dos Réus: Processos Judiciais e Práticas de Justiça Da Primeira Visitação Do Santo Ofício Ao Brasil (1591-1595)alecio75Ainda não há avaliações
- Regimento de 1640 - 2 Parte PDFDocumento117 páginasRegimento de 1640 - 2 Parte PDFalecio75Ainda não há avaliações
- A Corrupção Dos Juízes. Alécio Nunes FernandesDocumento17 páginasA Corrupção Dos Juízes. Alécio Nunes Fernandesalecio75Ainda não há avaliações
- Regimento de 1774Documento88 páginasRegimento de 1774alecio75Ainda não há avaliações
- Regimento de 1640 - 1 ParteDocumento70 páginasRegimento de 1640 - 1 Partealecio75Ainda não há avaliações
- A Acao Da Inquisicao No Brasil. Uma TentDocumento21 páginasA Acao Da Inquisicao No Brasil. Uma Tentalecio75Ainda não há avaliações
- Texto 6, 30 de Agosto. BASCHET, Jérôme. O Mediterrâneo Das Três CivilizaçõesDocumento20 páginasTexto 6, 30 de Agosto. BASCHET, Jérôme. O Mediterrâneo Das Três Civilizaçõesalecio75Ainda não há avaliações
- Bruno Feitler Teoria e PráticaDocumento20 páginasBruno Feitler Teoria e Práticaalecio75Ainda não há avaliações
- DR - n2019 - 14 - SI Lei Base Do Sistema Educativo - 2018Documento24 páginasDR - n2019 - 14 - SI Lei Base Do Sistema Educativo - 2018Homildo FortesAinda não há avaliações
- TRIGGER Agencia Marketing Digital APRESENTACAO PDFDocumento41 páginasTRIGGER Agencia Marketing Digital APRESENTACAO PDFJosé OdincsAinda não há avaliações
- Gestão Das Operações ProdutivasDocumento5 páginasGestão Das Operações ProdutivasMauricio CeleriAinda não há avaliações
- ComenioDocumento2 páginasComeniocarol oliveiraAinda não há avaliações
- MONOGRAFIADocumento49 páginasMONOGRAFIAGlaucijane SouzaAinda não há avaliações
- Edital de Processo Seletivo Simplificado Processo Seletivo #002/2021Documento16 páginasEdital de Processo Seletivo Simplificado Processo Seletivo #002/2021Weberton Henrique Vieira da SilvaAinda não há avaliações
- PARECER SOCIAL - Celia RamosDocumento1 páginaPARECER SOCIAL - Celia RamosYOHANA PEREIRA RAMOSAinda não há avaliações
- Educação No EgitoDocumento14 páginasEducação No EgitoAndréia Benites100% (2)
- Postagem 02 - Ppap-GestaoDocumento8 páginasPostagem 02 - Ppap-GestaoMARIA LÚCIAAinda não há avaliações
- Aula 11a Unitização de CargasDocumento12 páginasAula 11a Unitização de CargasSimone SantosAinda não há avaliações
- Lei de Drogas - Foca No Resumo PDFDocumento27 páginasLei de Drogas - Foca No Resumo PDFANTONIO SANDESAinda não há avaliações
- Aula 17 - Comercializacao - Sementes e MudasDocumento12 páginasAula 17 - Comercializacao - Sementes e MudasLucas Pereira SampaioAinda não há avaliações
- EIA COLOR AtualizadoDocumento406 páginasEIA COLOR AtualizadoVALDECIR PEREIRA DE LIMA100% (1)
- Administradores #18Documento64 páginasAdministradores #18Alexandre MagnoAinda não há avaliações
- Anais Do I URBFAVELASDocumento118 páginasAnais Do I URBFAVELASmarianacicutoAinda não há avaliações
- FutetênisDocumento10 páginasFutetênisJohnny HerbertAinda não há avaliações
- Mediacao Construcao Pontes Ana-Paula-LimaDocumento30 páginasMediacao Construcao Pontes Ana-Paula-LimaSílvia Palma100% (1)
- Módulo 3 - Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer)Documento102 páginasMódulo 3 - Encarregado de Proteção de Dados (Data Protection Officer)Rute FaroleiraAinda não há avaliações
- Fábrica de Sabonetes ArtesanaisDocumento15 páginasFábrica de Sabonetes ArtesanaisAstride MagalhãesAinda não há avaliações
- IIT - 2019 - 2020 - Cap2 - 2.5. O Papel Do Guia-Intérprete PDFDocumento6 páginasIIT - 2019 - 2020 - Cap2 - 2.5. O Papel Do Guia-Intérprete PDFКристина БулатовичAinda não há avaliações
- ISO14000 e GADocumento10 páginasISO14000 e GAErisson F VieiraAinda não há avaliações
- NM 2022 de 26.10.2018 - Conteúdo Integral PDFDocumento47 páginasNM 2022 de 26.10.2018 - Conteúdo Integral PDFDiemis RochumbackAinda não há avaliações
- LV 25 Anos NGHD MIOLODocumento112 páginasLV 25 Anos NGHD MIOLOunformattedAinda não há avaliações
- Cronograma 15 Semanas PDFDocumento14 páginasCronograma 15 Semanas PDFGaspard de la NuitAinda não há avaliações
- Etapas de EntrevistaDocumento3 páginasEtapas de Entrevistamansoli5612Ainda não há avaliações
- Manual de Linguagem NeutraDocumento20 páginasManual de Linguagem NeutraPaulaAinda não há avaliações
- ADI 5874 - Decisão Da Ministra Cármen LúciaDocumento18 páginasADI 5874 - Decisão Da Ministra Cármen LúciaMetropolesAinda não há avaliações