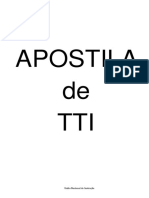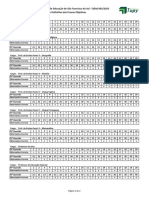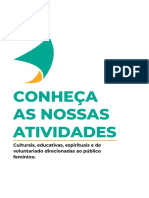Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Concepção e Função Da Educação Infntil
A Concepção e Função Da Educação Infntil
Enviado por
Maria MirandaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Concepção e Função Da Educação Infntil
A Concepção e Função Da Educação Infntil
Enviado por
Maria MirandaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A CONCEPO E A FUNO DA EDUCAO INFANTIL NAS
ORIENTAES CURRICULARES DE CUBA E DO BRASIL
SILVA, Edlson Azevedo da FCT/ UNESP
dilazevedo@terra.com.br
rea Temtica: Currculo e Saberes
Agncia Financiadora: No contou com financiamento
Resumo
A freqente utilizao das brincadeiras pelas Instituies de Educao Infantil do Brasil como
meio didtico para ensino de contedos especficos gerou o tema desta pesquisa.
Analisaremos a brincadeira e os pressupostos tericos relacionados ao tema que esto
presentes no Referencial Curricular Nacional para a Educao Infantil (RCNEI) do Brasil e
compararemos com o que est proposto nos documentos oficiais de outros paises como Cuba
e Itlia (Reggio Emlia). Estudaremos quais so as teorias que aliceram o uso da brincadeira
na Educao Infantil a partir das categorias: concepo de criana e de educao para a
infncia, o papel do professor, o currculo, o brincar, as atividades pedaggicas indicadas
para a construo do currculo. Analisaremos a concepo de brincadeira para compreender
o valor a ela atribudo nos documentos oficiais, a partir das atividades propostas nos
documentos. A metodologia tem uma abordagem qualitativa (FAZENDA, 1989), baseada nos
objetivos. A anlise documental ser o fio condutor desta pesquisa, e constitui uma tcnica
importante na pesquisa qualitativa, complementando informaes obtidas por outras tcnicas
(LUDKE e ANDR, 1986). Sero utilizadas tambm: pesquisa bibliogrfica e anlise dos
programas curriculares. A comparao das informaes est sendo feita atravs de descrio,
anlise, interpretao. Resultados Parciais: At o presente momento foi possvel analisar a os
fundamentos tericos de educao infantil em relao proposta curricular do Brasil e Cuba.
Os dados demonstram que a teoria que sustenta a concepo de Educao Infantil em Cuba
apia-se na teoria histrico-cultural de L. S. Vygotski. No Brasil, no encontramos explicitada
no RCNEI a teoria que sustenta a proposta, mas revela indicativos das teorias de Vygotski,
Piaget, Wallon entre outros. Em relao concepo de educao para a infncia, o RCNEI
defende a importncia de articular os cuidados a educao da criana pequena e valoriza o
papel do afeto na relao pedaggica.
Palavras-chave: Brincar; Educao Infantil; Anlise Documental; Currculo.
O tema desta pesquisa tem sua origem na verificao emprica de uma tendncia da
utilizao das brincadeiras pelas Instituies de Educao Infantil do Brasil como meio
didtico para ensino de contedos especficos, como passatempo e ou perda de tempo. O
presente artigo trata de uma pesquisa de mestrado, em andamento, cujo objetivo principal
compreender o grau de importncia das brincadeiras nas instituies de Educao Infantil no
Brasil, Cuba e Itlia (Rggio Emilia). A relevncia acadmica e cientfica do que proponho
77
nesta pesquisa esta em saber dimensionar a importncia da brincadeira para crianas entre 0 e
5 anos, etapa em que comumente o brincar concebido e praticado como laissez-faire.
Analisaremos a brincadeira e os pressupostos tericos relacionados ao tema que esto
presentes no Referencial Curricular Nacional (RCNEI) para a Educao Infantil do Brasil e
compararemos com o que est proposto nos documentos oficiais de outros paises selecionados
como Cuba e Itlia (Reggio Emlia). Estudaremos quais so as teorias que aliceram o uso da
brincadeira na Educao Infantil a partir das categorias previamente selecionadas: concepo
de criana, concepo de educao para a infncia, concepo do papel do professor,
concepo de currculo, concepo do brincar, concepo das atividades pedaggicas
indicadas para a construo do currculo. Analisaremos a concepo de brincadeira para
compreender o valor a ela atribudo nos documentos oficiais dos diferentes pases analisados,
a partir das atividades propostas nesses documentos.
Atravs da anlise documental, pretendemos compreender quais so as teorias que
aliceram brincadeira na Educao Infantil, a partir das categorias: concepo de criana,
educao infantil, papel do professor, currculo e o brincar presentes nas atividades propostas.
A metodologia desta investigao est sendo desenvolvida sobre o enfoque de uma
abordagem qualitativa (FAZENDA, 1989), baseada nos objetivos j mencionados. A anlise
documental ser o fio condutor desta pesquisa, e constitui uma tcnica importante na pesquisa
qualitativa, seja complementando informaes obtidas por outras tcnicas, seja desvelando
aspectos novos de um tema ou problema e tambm busca identificar informaes factuais nos
documentos a partir de questes ou hipteses de interesse (LUDKE e ANDR, 1986). Sero
utilizadas tambm: pesquisa bibliogrfica com base no objeto de estudo e nos objetivos,
anlise dos programas curriculares dos pases selecionados utilizando as categorias
supracitadas. A comparao das informaes est sendo feita atravs de descrio, anlise,
interpretao.
Vemos a necessidade de aprofundar os estudos sobre o grau de importncia atribudo
ao brincar nos programas curriculares, bem como o papel destinado para o brincar e o jogar
em relao ao desenvolvimento integral da criana.
O brincar origina-se da palavra em latim brinco e vinculun e passa a idia do
brincar no sentido de criar laos. O novo dicionrio Aurlio de lngua Portuguesa (2004) traz
a sua definio como, divertir-se infantilmente; entreter-se em jogos de criana ou ainda
78
recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar, e sobre o brincar que continuarei meus
comentrios.
Brougre, (1997); Kishimoto, (1997), Wajskop, (1995), apud Robles, (2007) no
definem o termo brincar, mas caracterizam a brincadeira como uma ao prpria da criana,
voluntria, espontnea, delimitada no tempo e no espao, prazerosa, com um fim em si
mesma e tendo uma relao mais ntima com a criana.
Silva (1989), afirma que podemos identificar o brincar em dois momentos: nas
brincadeiras tradicionais, momento em que o indivduo se insere na memria coletiva e na
histria de vida prpria do indivduo, que recorre s suas experincias no momento de brincar.
Quando falamos em experincias citamos Winnicott (1975, p. 59-93) que coloca o brincar
como uma rea intermediria de experimentao para a qual contribuem a realidade interna e
externa, onde a criana passa a ser capaz de participar de seu contexto e perceber-se como um
ser no mundo atravs da socializao e das interaes promovidas atravs das experincias.
O brincar nesse sentido fonte de crescimento, sade e conduz aos relacionamentos
grupais, ajudando na socializao infantil.
O brincar aberto ou a verdadeira situao de brincar, para Moyles (2002), promove
possibilidades de aprendizagem na criana satisfazendo e tornando mais clara essa
aprendizagem. O professor por sua vez deve proporcionar situaes de brincar livre e dirigido,
que tentem a atender as necessidades de aprendizagem das crianas, sendo iniciador e
mediador desta aprendizagem. (p. 36 - 37).
Com o brincar livre e exploratrio, subseqente e ampliado, as crianas alm de
aprenderem alguma coisa sobre situaes, pessoas, atitudes, respostas, materiais,
propriedades, texturas, entre outros, elas sero capazes de aumentar, enriquecer e manifestar
sua aprendizagem. (MOYLES, 2002)
O Referencial Curricular Nacional para Educao Infantil do Brasil MEC/SEF, no
seu volume 01 prope:
(...) para que as crianas possam exercer sua capacidade de criar imprescindvel
que haja riqueza e diversidade nas experincias que lhes so oferecidas nas
instituies, sejam elas mais voltadas s brincadeiras ou s aprendizagens que
ocorrem por meio de uma interveno direta nas Instituies de Educao Infantil.
(BRASIL, 1988, p. 27).
Em 07 de abril de 1999, foi publicada a resoluo CNE/CEB N1, que instituiu as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educao Infantil. Esta resoluo uma lei
79
mandatria para todas as instituies de cuidados e educao de crianas, que determina os
princpios, os fundamentos e procedimentos que devem orientar as Instituies de Educao
Infantil na organizao, articulao, desenvolvimento e avaliao de suas propostas
pedaggicas.
A instituio de Educao Infantil, de acordo com a Resoluo CNE/CEB/1999,
deve ser um espao e tempo em que haja articulao de polticas sociais, que lideradas pela
educao integrem o desenvolvimento com a vida individual, social e cultural a um ambiente,
onde as formas de expresso, dentre elas: a linguagem verbal e corporal, ocupem lugar
privilegiado, num contexto de jogos e brincadeiras.
As famlias e as equipes das instituies de Educao Infantil precisam conviver
intensa e construtivamente, a fim de proporcionar uma progressiva e prazerosa articulao das
atividades de comunicao e ludicidade, com o ambiente escolarizado.
Ao desenvolver o trabalho com crianas da Educao Infantil, o profissional tem um
papel muito importante de mediador da cultura ldica, instigando a criana para que esta
desenvolva habilidades corporais para um melhor aproveitamento do espao e tempo para o
brincar.
Segundo Ayoub (2001, p. 57), a Educao Fsica pode configurar-se como um
espao em que a criana brinque com a linguagem corporal, com o seu corpo e com os
movimentos, alfabetizando-se nesta linguagem. Alm disso, a linguagem corporal resulta
atravs dos jogos e brincadeiras, em aes educativas na infncia que se constri atravs das
relaes criana/adulto e criana/criana.
Stefanini (2002, p. 02) afirma que:
a prtica pedaggica da educao infantil deve fugir da passividade, da conteno
motora sob a errnea idia de que o movimento impede a concentrao e causa
euforia nas crianas, prejudicando suas aprendizagens. (...) a educao infantil busca
trazer a harmonias entre diferentes contedos da aprendizagem, como forma de
completar a formao integral da criana. A criana disciplinada no aquela
criana calada e sim aquela que se encontra envolvida pelas atividades propostas.
A criana aprende e se desenvolve, tambm, brincando. Todas as vezes que os
trabalhos desenvolvidos para ela forem realizados de forma ldica, a criana se interessar e
participar com prazer e intensidade dessas atividades. Com base na interao que ocorre
durante as brincadeiras propostas, a criana organizar as suas percepes em forma de
80
estruturas cognitivas, pois as crianas estruturam seus pensamentos e emoes atravs das
brincadeiras. (TANI, 1988)
Rojas (2002), diz que o ato de brincar e as atividades ldicas so ferramentas
indispensveis para o desenvolvimento da criana, por serem atividades completas, ajudam
em seu desenvolvimento como um todo, pois ao brincar elas criam e recriam a realidade que
as cerca. Os fatos abordados nos remetem proposta do desenvolvimento integral das
crianas, e s suas necessidades enquanto alunos da Educao Infantil. Tambm, traz tona
o conhecimento adquirido pelos seus professores e auxiliares sobre o processo de
desenvolvimento da criana dentro das Instituies de Educao Infantil.
Na educao infantil devemos transformar as situaes ldicas em livres e
prazerosas, conseqentemente ricas em conhecimentos, e atravs do professor que a criana
dever ser conduzida a qualidade da educao infantil.
Sobre o brincar, o Referencial Curricular Nacional para Educao Infantil do Brasil
MEC/SEF, no seu volume 01 prope:
Para que as crianas possam exercer sua capacidade de criar imprescindvel
que haja riqueza e diversidade nas experincias que lhes so oferecidas nas
instituies, sejam elas mais voltadas s brincadeiras ou s aprendizagens que
ocorrem por meio de uma interveno direta. (BRASIL, 1988, p. 27).
Todos os movimentos experimentados pela criana esto diretamente ligados ao
pensamento, sendo que ambos com o tempo se desenvolvero dependendo dos estmulos
recebidos dos profissionais que lidam com a criana. Por isso, podemos afirmar que enquanto
a criana brinca, ela aprende e se desenvolve.
Segundo o Referencial Curricular Nacional para a Educao Infantil MEC/SEF o
movimento descrito como:
(...) Uma importante dimenso do desenvolvimento e da cultura humana. (...) Ao
movimentar-se, as crianas expressam sentimentos, emoes e pensamentos,
ampliando as necessidades do uso significativo de gestos e posturas corporais. O
movimento humano constitui-se em uma linguagem que permite s crianas agirem
sobre o meio fsico e atuarem sobre o ambiente humano, mobilizando as pessoas por
meio de seu teor expressivo. (BRASIL,1998, vol 03, p. 15)
De acordo com Le Bouch (2001) o desenvolvimento acontece a partir do equilbrio
de vrios estgios da evoluo psicomotora, como a imagem do corpo vivido, que quando a
81
criana adquire o conhecimento do seu prprio EU, e do corpo percebido a tomada de
conscincia do que se vive com o prprio corpo.
A ludicidade essencial em todas as faixas de idade. Para Huizinga (2001, p. 29),
O jogo, dado o seu componente ldico, mais que um fenmeno fisiolgico ou um
reflexo psicolgico. Transpe os limites da atividade puramente fsica ou biolgica.
O jogo uma atividade voluntria, basta esta caracterstica de liberdade para afastlo definitivamente do curso da evoluo natural, as crianas brincam porque gostam
de brincar, este o fato que reside sua liberdade.
O jogo definido para Huizinga (2001), como uma atividade voluntria exercida
dentro de certos e determinados limites de tempo e espao, segundo regras livremente
consentidas, mas absolutamente obrigatrias, dotada, de um fim em si mesmo, acompanhado
de um sentimento de tenso e alegria e de uma conscincia de ser diferente da vida cotidiana,
lanando sobre ns um feitio. Torna fascinante e cativante quando est cheio de duas
qualidades mais nobres que somos capazes de ver nas coisas: o ritmo e a harmonia. Basta
estas caractersticas de liberdade para afast-lo definitivamente do curso da evoluo natural,
as crianas brincam porque gostam de brincar, este o fato que reside sua liberdade.
Para Huizinga (2001, p. 30) a natureza do jogo se associa a do sagrado:
Decidindo considerar toda a esfera da chamada cultura primitiva como um domnio
ldico, abrimos caminho para uma compreenso mais direta e mais geral de sua
natureza, de maneira mais eficaz do que se recorrssemos a uma meticulosa anlise
psicolgica ou sociolgica.
Kishimoto (1998, p. 68), cita Froebel (1912c) sobre a importncia do brincar na
infncia que diz:
a fase mais importante da infncia - do desenvolvimento humano neste perodo
por ser a auto-ativa representao do interno a representao de necessidades e
impulsos internos. ... A brincadeira a atividade espiritual mais pura do homem
neste estgio e, ao mesmo tempo, tpica de vida humana enquanto um todo- da vida
natural interna no homem e de todas as coisas. Ela d alegria, liberdade,
contentamento, descanso externo e interno, paz com o mundo... A criana que brinca
sempre, com determinao e auto-ativa, perseverando, esquecendo sua fadiga fsica,
pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de auto-sacrifcio para a
promoo de seu bem e de outros.... Como sempre indicamos o brincar em qualquer
tempo no trivial, srio e de profunda significao.
O brincar apresenta como caractersticas: ser uma atividade representativa, realizada
com prazer, autodeterminao, valorizao do processo, seriedade, expresso de necessidade
82
e tendncias internas, tornando-se importante para o desenvolvimento da criana,
principalmente nos primeiros anos (KISHIMOTO, 1998).
Ele possibilita a criana vivenciar experincias significativas como, resolver
conflitos, lidar com regras e valores, respeitar o outro, superar dificuldades com ajuda do
professor, cooperar, vivenciar papis, aprender e apropriar-se de elementos da sua realidade e
cultura (IMAI, 2005, p. 231).
Segundo Lima (2005, p. 176), quando a criana brinca, desenvolve tambm os
conhecimentos, habilidades, atitudes e competncias, destacando entre elas o pensamento, a
imaginao e a memria, a vontade, a concentrao e a ateno, a linguagem e a
comunicao, os valores, a orientao espao-temporal, a auto-estima e a motricidade.
Muitas vezes o brincar visto pelos profissionais das instituies de Educao
Infantil, como algo inato, permitindo que ele acontea como se fosse algo da natureza
biolgica da espcie, assumindo uma concepo espontanesta de Educao que afasta o
professor cada vez mais do papel de interao e parceiro da criana em seu processo de
desenvolvimento. (OLIVEIRA, 1996 p. 137)
Ayuob (2001, p. 57) afirma que o favorecimento da brincadeira no contexto da
Educao Infantil no pode levar a uma atitude de laissez-faire- abandono pedaggico,
abrindo mo do processo educativo com a criana. Pelo contrrio, no contexto da
brincadeira que devemos assumir o nosso papel, o de atuar junto criana como mediador,
intencional do processo de elaborao dos conceitos sistematizados na relao de ensino.
(FONTANA, 1996, p. 64).
O desenvolvimento da criana deixar de ser trabalhado em alguma de suas esferas,
se o profissional que atua com a criana no for o mediador e utilizar a pedagogia do brincar e
do jogo de forma inadequada nas situaes cotidianas e no tiver condies de fazer as
relaes bem feitas.
De acordo com Dahlberg, Moss & Pence (2003), a pedagogia ps-moderna se baseia
nos relacionamentos, encontros e dilogos com outros co-construtores, tanto os adultos como
crianas. Portanto, esta pedagogia de relacionamento definida como uma participao
ativa e envolvida das crianas na co-construo do conhecimento e das identidades prprias e
dos outros.
Segundo Malaguzzi (1993, apud DAHLBERG, MOSS & PENCE, 2003, p. 82) a
pedagogia de relacionamentos revela que:
83
As crianas aprendem interagindo com seu ambiente e transformando ativamente
seus relacionamentos com o mundo dos adultos, das coisas, dos eventos e, de
maneiras originais, com seus pares. A interao entre elas uma experincia
fundamental nos primeiros anos de vida. A interao uma necessidade, um desejo,
uma necessidade vital que cada criana carrega dentro de si... A auto aprendizagem
e a co-aprendizagem (construo de conhecimento pelo self e co-construo de
conhecimentos com os outros) das crianas, apoiadas por experincias interativas
construdas com a ajuda de adultos, determina a seleo e a organizao de
processos e estratgias que so parte de coerentes com- os objetivos gerais da
educao da primeira infncia...Os conflitos construtivos [resultantes do intercmbio
de aes, expectativas e idias diferentes] transformam a experincia cognitiva do
indivduo e promovem aprendizagem e desenvolvimento. Se aceitamos que todos
problema produz conflitos cognitivos, ento acreditamos que conflitos cognitivos
iniciam um processo de co-construo e cooperao.
Como afirma Wallon (1966, apud MATTOS, 1999, p. 25) o espao motor e o
espao mental se supe de tal maneira que a perturbao de arrumar os objetos no espao se
associa a de ordenar as palavras na frase. Fica clara a necessidade de uma ao motora ligada
ao raciocnio da criana, j que o movimento uma das formas de expresso mais utilizadas
pela criana na fase da Educao Infantil, como elo entre ela e o mundo atravs das atividades
ldicas, jogos e brincadeiras.
At o presente momento dentro da pesquisa foi possvel analisar parte da concepo
de educao infantil relacionados ao Brasil e a Cuba. Para fins de organizao me deterei a
uma das categorias de anlise propostas para a pesquisa, respectivamente a concepo e a
funo da Educao Infantil.
A anlise preliminar da concepo de educao infantil em Cuba, est sendo
realizada a partir do documento elaborado junto ao Ministrio da Educao deste pas,
intitulado Un nuevo concepto de EDUCACION INFANTIL, cuja autora Josefina Lpez
Hurtado, publicado no ano de 2001 pela Editorial Pueblo y Educacin.
Os dados demonstram que a teoria que sustenta a concepo de Educao Infantil em
Cuba contraria as teorias biogenticas do desenvolvimento infantil e oferece uma nova
concepo apoiando-se na teoria histrico-cultural de Vigotsky. Segundo o documento a
primeira infncia constitui uma etapa fundamental no processo de desenvolvimento e
formao da personalidade.
De acordo com Hurtado (2001, p. 1) esta afirmao compartilhada por psiclogos e
pedagogos essencialmente pela grande plasticidade do crebro infantil nas etapas iniciais do
desenvolvimento. A criana no vista como uma tbula rasa na qual se pode inscrever
84
qualquer impresso. Pelo contrario, a criana, segundo o documento, dever ser alvo de vrias
possibilidades para estabelecer conexes que podem servir de base para o registro e a fixao
das mais variadas estimulaes.
A autora diz que nossas atividades humanas, para satisfazer as necessidades
biolgicas, socioculturais, produtivas, espirituais, dentro do nosso organismo se articulam em
diferentes sistemas fisiolgicos, psicolgicos e sociais de alta complexidade, implicando no
modo de ser e estar do indivduo no mundo e suas relaes com a realidade, com as pessoas,
com o espao e os objetos. Esses esquemas se constroem e se desenvolvem especialmente nos
seis primeiros anos de vida da criana.
Pode-se afirmar que a criana comea a aprender desde o momento de sua
concepo, trabalhando com as informaes recebidas do exterior.
Muitos estudos tm evidenciado que nesta etapa que se sustentam as bases e os
fundamentos essenciais para todo o desenvolvimento posterior, assim como a
existncia de grandes reservas e possibilidades que nelas se do o desenvolvimento e
a formao das mais diversas capacidades e qualidades pessoais. (HURTADO, p.
01, 2001)
O documento analisado demonstra que estudos ligados aos avanos na neurocincia
destacam que a base e o suporte da personalidade do adulto se formam na infncia e aponta
algumas razes para ocorrer o desenvolvimento desde a educao infantil. A autora destaca
que nos primeiros anos de vida, desde o nascimento at os seis e sete anos de idade as
crianas formam seu alicerce para um crescimento saudvel e harmonioso. um perodo
marcado por um crescimento rpido e por muitas mudanas que influenciam e determinam em
grande parte como ser o futuro adulto e as futuras geraes na sociedade.
As investigaes demonstram que dficits intelectuais ou fsicos se convertem em
acumulativos. Crianas com dficits que sofreram privaes anteriores, tero menos
possibilidades de evoluir e at alcanar nveis superiores ainda que em alguns casos
possibilitem alguns estmulos. A imediata identificao de problemas relacionados a estas
deficincias fsicas e mentais, desnutrio, a falta de condies de desenvolvimento social, de
conhecimento e afetivo podero atender melhor as crianas nos primeiros anos de vida,
proporcionando a elas melhores oportunidades na vida, diminuindo o mximo os custos
necessrios para a adoo de remdios futuramente.
85
Em Cuba, a educao infantil complemento do lar; as instituies promovem a
assistncia e a educao adequadas para a promoo do desenvolvimento total da criana, se
tornando no somente o ponto de formao da criana, mas de toda sua famlia.
A educao infantil proporciona uma valiosa experincia e preparao para a
transio da escolarizao do nvel infantil ao primrio, no Brasil chamado de ensino
fundamental.
A autora chama a ateno para a importncia da educao infantil, alertando que
nesta fase no h segunda chance para oportunidades de conhecimentos,
Com todos os conhecimentos baseados nas investigaes sobre a importncia desses
primeiros anos da vida fundamental fazer tudo que for possvel pelo bem de cada
criana, para sua sade e nutrio, seu crescimento, aprendizagem e
desenvolvimento, e sua felicidade. (HURTADO, p. 02. 2001).
No Brasil o Referencial Curricular Nacional para a Educao Infantil, (RCNEI) versa
sobre a necessidade de a educao infantil promover a integrao entre os aspectos fsicos,
emocionais, afetivos, cognitivos e sociais da criana de 0 a 6 anos, considerando esta como
um ser completo e indivisvel, alm de levar a criana a ter acesso aos bens socioculturais, nos
cuidados essenciais, para o desenvolvimento de sua identidade e no direito de brincar como
forma particular de expresso, pensamento, interao e comunicao.
A polmica do cuidar e educar, sobre o papel do afeto na relao pedaggica e sobre
educar para o desenvolvimento ou para o conhecimento tem constitudo o panorama de fundo
sobre o qual se constroem as propostas em educao infantil no Brasil.
De acordo com o RCNEI (p. 23), vrios debates em nveis nacionais e internacionais
apontam para a necessidade de que as instituies de educao infantil incorporem de maneira
integrada as funes de educar e cuidar, no mais diferenciando nem hierarquizando os
profissionais e instituies que atuam com as crianas pequenas e/ou aqueles que trabalham
com as maiores.
Para o RCNEI, cuidar de uma criana na educao infantil em um contexto educativo
demanda a integrao de vrios campos de conhecimentos e a cooperao de profissionais de
diferentes reas. A base do cuidado humano compreender como ajudar o outro a se
desenvolver como ser humano. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades.
O cuidado um ato em relao ao outro e a si prprio que possui uma dimenso
expressiva e implica em procedimentos especficos. Desenvolvimento integral
86
depende tanto dos cuidados relacionais, que envolvem a dimenso afetiva e dos
cuidados com os aspectos biolgicos do corpo, como a qualidade da alimentao e
dos cuidados com a sade, quanto da forma como esses cuidados so oferecidos e
das oportunidades de acesso a conhecimentos variados. Para cuidar preciso antes
de tudo estar comprometido com o outro, com sua singularidade, ser solidrio com
suas necessidades, confiando em suas capacidades. Disso depende a construo de
um vnculo entre quem cuida e quem cuidado. (vol 1, p. 24 e 25)
Segundo o referencial, os professores da educao infantil, devem trabalhar para o
educar para a autonomia da criana em suas aes e diz que,
Alm da dimenso afetiva e relacional do cuidado, preciso que o professor possa
ajudar a criana a identificar suas necessidades e prioriz-las, assim como atend-las
de forma adequada. Assim, cuidar da criana , sobretudo dar ateno a ela como
pessoa que est num contnuo crescimento e desenvolvimento, compreendendo sua
singularidade, identificando e respondendo s suas necessidades. Isto inclui
interessar-se sobre o que a criana sente, pensa, o que ela sabe sobre si e sobre o
mundo, visando ampliao deste conhecimento e de suas habilidades, que aos
poucos a tornaro mais independente e mais autnoma. (vol 1, p. 24 e 25)
De acordo com o RCNEI, educar :
propiciar situaes de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis
de relao interpessoal, de ser e estar com os outros em uma atitude bsica de
aceitao, respeito e confiana, e o acesso, pelas crianas, aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural. Neste processo, a educao poder auxiliar o
desenvolvimento das capacidades de apropriao e conhecimento das
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estticas e ticas, na perspectiva de
contribuir para a formao de crianas felizes e saudveis. (vol. 1, P.23)
As novas funes da educao infantil devem estar associadas a padres de qualidade,
vindo de concepes de desenvolvimento que consideram as crianas nos seus contextos
sociais, ambientais, culturais e, mais concretamente, nas interaes e prticas sociais que lhes
fornecem elementos relacionadas s mais diversas linguagens e ao contato com os mais
variados conhecimentos para a construo de uma identidade autnoma.
A instituio de educao infantil do Brasil tem que tornar acessvel a todas as
crianas que a freqentam elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e
insero social, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianas, por meio de
aprendizagens diversificadas, realizadas em situaes de interao. Uma das atividades que o
referencial sugere o brincar.
87
Para brincar preciso que as crianas tenham certa independncia para escolher seus
companheiros e os papis que iro assumir no interior de um determinado tema e
enredo, cujos desenvolvimentos dependem unicamente da vontade de quem brinca.
Pela oportunidade de vivenciar brincadeiras imaginativas e criadas por elas mesmas,
as crianas podem acionar seus pensamentos para a resoluo de problemas que lhe
so Importantes e significativos. Propiciando a brincadeira, portanto, cria-se um
espao no qual as crianas podem experimentar o mundo e internalizar uma
compreenso particular sobre as pessoas, os sentimentos e os diversos
conhecimentos. (Vol.1, p. 28)
Sugesto do RCNEI de que na educao infantil os professores ofeream condies
para aprendizagem atravs das brincadeiras vindas de situaes pedaggicas intencionais ou
aprendizagens orientadas pelos adultos, essas aprendizagens, de natureza diversa, ocorrem de
maneira integrada no processo de desenvolvimento infantil. Essa afirmao contraria as
linhas de estudos que reconhecem o brincar no como produto final, mas como processo para
o desenvolvimento integral da criana, que poder ter como interlocutor o profissional que
lida direto com a criana.
Alguns tipos de brincadeiras de acordo com o referencial propiciam a ampliao dos
conhecimentos infantis por meio da atividade ldica. Isso s ser possvel se o adulto, na
figura do professor da instituio infantil, ajudar a estruturar esse campo das brincadeiras na
vida das crianas. ele quem organiza sua base estrutural, por meio da oferta de
determinados objetos, fantasias, brinquedos ou jogos, da delimitao e arranjo dos espaos e
do tempo para brincar.
Segundo o RCNEI por meio das brincadeiras os professores podem observar e
constituir uma viso dos processos de desenvolvimento das crianas em conjunto e de cada
uma em particular, registrando suas capacidades de uso das linguagens, assim como de suas
capacidades sociais e dos recursos afetivos e emocionais que dispem.
Com base na concepo e na funo de educao infantil apresentada por estes dois
pases, posso dizer que em Cuba a teoria que sustenta essa concepo, apia-se na teoria
histrico-cultural de Vigotsky. O conceito de educao infantil em Cuba compreende o
estagio que vai de 0 a 3 anos e o pr-escolar que vai de 4 a 6 anos.
Esta etapa segundo Hurtado (2001, p. 3) alm de ser fundamental no processo de
desenvolvimento e formao da personalidade um perodo com amplas possibilidades para
estudos. Sobre a base do conhecimento cientifico e fundamentado, pode-se organizar e
estruturar as foras educacionais dirigidas a alcanar o mximo de desenvolvimento possvel
em cada criana.
88
O referencial do Brasil foi concebido de maneira a servir como um guia de reflexo de
cunho educacional sobre objetivos, contedos e orientaes didticas para os profissionais
que atuam diretamente com crianas de zero a seis anos, respeitando seus estilos pedaggicos
e a diversidade cultural brasileira. Ele representa um avano na educao infantil ao buscar
solues educativas para a superao da tradio assistencialista das creches, e da antecipao
da escolaridade das pr-escolas.
No Brasil, os documentos apontam para a necessidade de articular o cuidado
educao, nesta primeira fase da educao infantil, demonstram a importncia da famlia no
processo educacional, mas a concepo no tem uma nica vertente, apoiando-se na Teoria
Histrico Cultural de Vigotsky e seus sucessores, assim como nas teorias Piagetiana e
Walloniana.
No fica muito clara a tendncia de uma ou de outra teoria no documento do Brasil.
No RCNEI as teorias presentes esto postas de forma obscura. Essas teorias s so possveis
ser identificadas pelo leitor que possua conhecimentos pertinentes as teorias citadas, do
contrrio no consegue identific-las.
O brincar esta presente nos dois documentos, assim como a importncia das relaes
e interaes dos adultos com as crianas no processo de desenvolvimento infantil, embora
ainda no tenham sido objeto de anlise.
REFERNCIAS BIBLIOGRAFIAS
AYOUB, E. Reflexes sobre a Educao Fsica na Educao Infantil. Revista Paulista de
Educao Fsica, So Paulo, supl. 4, p. 56-61, 2001.
BRASIL. Ministrio da Educao e do Desporto. Secretaria de Educao Fundamental.
Departamento de Poltica da Educao Fundamental. Coordenao Geral da Educao
Infantil. Referencial Curricular Nacional para a Educao Infantil, vol. 1 e 3. Braslia:
MEC/SEF/DPE/COEDI, 1998.
DAHLBERG, G.; MOSS P.; PENCE A. Qualidade na Educao da Primeira Infncia.
Trad. Magda Frana Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2003.
FAZENDA, I. (Org). Metodologia da pesquisa educacional. So Paulo: Cortez, 1989.
FERREIRA, A.B.H. 2004. Novo Dicionrio Aurlio da Lngua Portuguesa. 3 ed. Curitiba:
Positivo, 2004.
FONTANA, R.A.C. Como nos tornamos professoras? Belo Horizonte: Autntica, 2000.
89
HUIZINGA, J. Homo Ludens: o jogo como elemento de cultura. 5 ed. So Paulo: Editora
Perspectiva, 2001.
HURTADO, J. L. Un nuevo concepto de educacin infantil. Editorial Pueblo y Educacin.
Ministerio de Educacin. Repblica de Cuba, 2001.
IMAI, V. H. O Carter Preventivo das Prticas Psicomotoras na Educao Infantil In:
Guimares, C. M. (org.). Perspectivas para Educao Infantil. 1 ed. Araraquara:
Junqueira&Marin, 2005. p. 219-233.
KISHIMOTO, T. M. (Org). O Brincar e suas Teorias. So Paulo: Pioneira, 1998.
LE BOULCH, J. (2001) O Desenvolvimento Psicomotor: do nascimento at 6 anos. Trad:
Ana Guardiola Brizolara. Porto Alegre: Artes Mdicas, 7 edio. 2 reimpresso, 2001.
LIMA, J. M. A Brincadeira na teoria Histrico-Cultural: de prescindvel a exigncia na
Educao Infantil IN Guimares, C. M. (org.). Perspectivas para Educao Infantil, 1 ed.
Araraquara: Junqueira&Marin. 2005. p. 157-179.
LDKE, M.; ANDR M. E. D. A. Pesquisa em educao: abordagens qualitativas. So
Paulo: EPU, 1986.
MATTOS, M. G.; NEIRA, M.G. Educao Fsica Infantil: Construindo o Movimento na
Escola. Guarulhos. So Paulo: Phorte. 3 Ed, 1999.
OLIVEIRA, Z.M.R. A brincadeira e o desenvolvimento infantil: implicaes para a educao
em creches e pr-escolas. Motrivivncia, v.8, n.9, p.136-45, 1996.
PIAGET, J. Problemas de psicologia gentica. Lisboa, 1983.
ROBLES, H. S. M. A Brincadeira Na Educao Infantil: Conceito, Perspectiva Histrica
e Possibilidades que Ela Oferece. Publicado em 16/05/2007 Disponvel em:
http://www.psicopedagogia.com.br/artigos/artigo.asp?entrID=943. Acesso em:12 Ago 2007.
ROJAS, J. Jogar e Brincar: A ludicidade no contexto interdisciplinar do Educador
Infantil. Campo Grande, Mato Grosso do Sul: OMEP. CD ROM, 2002.
SILVA, Maria Alice Setubal Souza e et al. Memrias e brincadeiras da cidade de So
Paulo nas primeiras Dcadas do sculo XX. So Paulo: Cortez:CENPEC, 1989.
STEFANINI, C. Um olhar na Educao Infantil: A Educao Fsica Existe? Campo
Grande, Mato Grosso do Sul: OMEP. CD ROM, 2002.
TANI, G. Educao fsica escolar - fundamentos de uma abordagem desenvolvimentista.
So Paulo: EPU, 1988.
WINNICOTT, Donald. W. O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
Você também pode gostar
- Cronograma Do Plano de Ação SaebDocumento2 páginasCronograma Do Plano de Ação SaebLudimila Silva PachecoAinda não há avaliações
- Avaliação DialógicaDocumento98 páginasAvaliação Dialógicamelsmoeira100% (10)
- Convênio - EstágioDocumento4 páginasConvênio - EstágioJoão PauloAinda não há avaliações
- Resoluà à o 001-2022Documento21 páginasResoluà à o 001-2022Osvanda Nunes SilvaAinda não há avaliações
- Simulado FTD 2015Documento24 páginasSimulado FTD 2015Misael AbreuAinda não há avaliações
- MotivaçãoDocumento12 páginasMotivaçãoMichele Andresa Carvalho100% (1)
- Apostila Do Curso de Tti AtualizadaDocumento238 páginasApostila Do Curso de Tti AtualizadakarinaAinda não há avaliações
- Projeto Dificuldade de AprendizagemDocumento20 páginasProjeto Dificuldade de Aprendizagemlinda iss100% (1)
- Manual de Curso de Licenciatura TIC e Pedagogia CIS121Documento81 páginasManual de Curso de Licenciatura TIC e Pedagogia CIS121Quilio Langa0% (1)
- Práticas Alfabetizadoras ApostilaDocumento136 páginasPráticas Alfabetizadoras ApostilaJessica nunes gonçalvesAinda não há avaliações
- Portfolio 3 Ciclo Gestão e Organização Do Trabalho PedagógicoDocumento3 páginasPortfolio 3 Ciclo Gestão e Organização Do Trabalho PedagógicoGiuliana GarciaAinda não há avaliações
- Fundação Universidade Estadual Do Ceará - FUNECE Comissão Coordenadora de Concurso Docente - CCCD/UECE (Edital #12/2022-FUNECE, DOE de 04/07/2022)Documento5 páginasFundação Universidade Estadual Do Ceará - FUNECE Comissão Coordenadora de Concurso Docente - CCCD/UECE (Edital #12/2022-FUNECE, DOE de 04/07/2022)Maria HelenaAinda não há avaliações
- Gaiolas Ou AsasDocumento2 páginasGaiolas Ou AsasMaiza Maria De LavorAinda não há avaliações
- CEFET - Curso Metrologia - NilopolisDocumento7 páginasCEFET - Curso Metrologia - NilopolisHelio MiceliAinda não há avaliações
- PLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO DAS ADRs PERÍODICA INICIAL E MENSALDocumento2 páginasPLANO DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA ACOMPANHAMENTO DO RESULTADO DAS ADRs PERÍODICA INICIAL E MENSALJonas EberAinda não há avaliações
- Edital Nº. 27.2024.seed - Gab.rrDocumento15 páginasEdital Nº. 27.2024.seed - Gab.rrDerickacauper CauperAinda não há avaliações
- Livro Biblioteconomia SocialDocumento321 páginasLivro Biblioteconomia SocialRaquel de OliveiraAinda não há avaliações
- IV CBP - Caderno de Programas PDFDocumento364 páginasIV CBP - Caderno de Programas PDFLuana D'OliveiraAinda não há avaliações
- Curriculo BrilhanteDocumento12 páginasCurriculo BrilhanteSusana CondeAinda não há avaliações
- Apostila Curso Basico Dirigente Institucional CursanteDocumento76 páginasApostila Curso Basico Dirigente Institucional Cursantewbarbaresco100% (1)
- Conservação de AlimentosDocumento122 páginasConservação de AlimentosAdilson Mendes de LimaAinda não há avaliações
- Gabarito Tupy Concurso 2023 FinalDocumento2 páginasGabarito Tupy Concurso 2023 Finalprofe.renata.portuguesAinda não há avaliações
- A Formação Contínua Do Professor Do Ensino Primário Como Factor Determinante para Qualidade Do Processo Do Ensino Aprendizagem.Documento4 páginasA Formação Contínua Do Professor Do Ensino Primário Como Factor Determinante para Qualidade Do Processo Do Ensino Aprendizagem.Digital CriativoAinda não há avaliações
- Planificacao e Seus ConstituintesDocumento9 páginasPlanificacao e Seus ConstituintesJulio FaifeAinda não há avaliações
- Territórios de Resistência e Criatividade. Educação PopularDocumento14 páginasTerritórios de Resistência e Criatividade. Educação PopularRafael Oliveira de MoraesAinda não há avaliações
- Ocupacao Social Resumo Executivo Volume-2Documento15 páginasOcupacao Social Resumo Executivo Volume-2Carla Rocha SousaAinda não há avaliações
- Biologia 7a 8a e 9a ClassesDocumento56 páginasBiologia 7a 8a e 9a ClassesMoniz Raimundo Jr.Ainda não há avaliações
- CV Humberto Avila 2012Documento217 páginasCV Humberto Avila 2012Max Worm100% (1)
- A Materialidade EscolarDocumento17 páginasA Materialidade EscolarDaniel CostaAinda não há avaliações
- Atividades Mar AltoDocumento11 páginasAtividades Mar AltoLuciana AlvesAinda não há avaliações