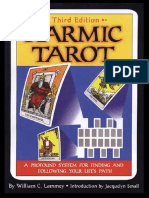Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Lingua Escrita
A Lingua Escrita
Enviado por
RafaelMarquesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Lingua Escrita
A Lingua Escrita
Enviado por
RafaelMarquesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Lngua Escrita
A SOCIEDADE E A LNGUA ESCRITA
A alfabetizao
A espcie humana tem a capacidade de representar simbolicamente
a realidade e de comunicar-se atravs de um sistema de signos elaborado
socialmente que chamamos de lngua e que tem sua realizao concreta
nos diferentes atos comunicativos dos indivduos. Durante milhares de
anos, os homens e as mulheres se comunicaram oralmente atravs desses
sistemas de signos, mas, ao longo da histria, vrios grupos sociais ampliaram suas possibilidades de comunicao com a inveno de sistemas de
signos grficos. As caractersticas desses novos cdigos, tais como a estabilidade, a comunicao em um tempo e um espao no-imediatos ou a
necessidade de uma aprendizagem especfica para domin-los, permitiram alcanar objetivos bastante diversos, desde o poder derivado da posse da palavra sagrada ou a segurana na transmisso de leis e ordens a
terras distantes at a difuso em massa de conhecimentos. Foram justamente as variaes produzidas com tais finalidades que condicionaram o
acesso dos diferentes grupos sociais lngua escrita nas vrias culturas e
ao longo da histria.
Assim considerada, a lecto-escrita tem uma existncia relativamente recente, entre os cinco mil e os trs mil ltimos anos, segundo os critrios de definio que se adotem. Mas tambm se pode considerar a lngua escrita da perspectiva mais geral de sua caracterizao bsica como
12
T. Colomer & A. Camps
um instrumento de relao indireta entre o ser humano e o mundo. Dessa perspectiva, como afirmam Cole e Griffin (1978), e muitos outros autores que estudam a lngua escrita do ponto de vista da antropologia
cultural, as razes da lecto-escrita fazem parte da prpria apario do
homo sapiens. Nesse sentido, o que definiria os primrdios da lecto-escrita que o ser humano utiliza deliberadamente sinais externos (uma marca
em uma pedra para assinalar um acontecimento, pinturas para indicar o
incio da caa, etc.) para regular sua relao com o mundo de forma indireta. Ou seja, que so os sinais grficos os encarregados de representar
essa relao de forma simblica e de regul-la socialmente atravs de
sua elaborao e transmisso cultural. A funo do cdigo de representao define aquilo que constitui a prpria essncia da lngua escrita: um
sistema de mediao entre o ser humano e a realidade atravs de sinais
determinados.
A elaborao histrica dos signos grficos em cdigos sistematizados teve diversas realizaes nas diferentes culturas. A elaborao mais
simples configurou a chamada escrita pictrica, na qual se representavam
diretamente os objetos e as aes. Mas foi somente na escrita ideogrfica
ou logogrfica que os sinais grficos estabeleceram relaes com o cdigo
lingstico ao representar palavras ou morfemas da lngua, como ocorre
na escrita cuneiforme dos sumrios, na chinesa ou na hieroglfica egpcia.
O inconveniente de ter de criar e memorizar uma quantidade to grande
de signos para poder representar todas as palavras da lngua levou as
escritas logogrficas a desenvolverem sistemas mistos logogrficos e
fonogrficos, com a utilizao de signos para representar componentes
fonticos e semnticos das palavras. Esse o caso, por exemplo, da atual
escrita chinesa, na qual se podem acrescentar caracteres de forma indefinida, formando novas unies entre os componentes.
Assim, o princpio bsico para que um sistema de escrita fosse produtivo foi sua constituio como um conjunto limitado de signos. Algumas culturas tentaram resolver o problema a partir da representao das
slabas da lngua, e os fencios idealizaram um sistema alfabtico de representao dos signos consonantais que constitui a base do alfabeto adotado pelos gregos. Estes incluram os signos voclicos e a idia de que
toda slaba divisvel nesses signos, e seu alfabeto levou a nosso sistema
grfico atual atravs da escrita latina.
Alguns autores (Mattingly, 1989) relacionaram as caractersticas lingsticas das diferentes lnguas com a apario de um ou outro tipo de
escrita, j que as caractersticas da estrutura morfofonolgica de uma lngua podem favorecer ou obstaculizar a conscincia dos falantes sobre os
segmentos lingsticos em que se divide a seqncia fnica. Assim, na
lngua chinesa, os morfemas coincidem normalmente com as slabas e,
portanto, a anlise dos componentes facilita o caminho para a unidade
Ensinar a ler, ensinar a compreender
13
silbica como base da representao grfica, enquanto que as lnguas afroasiticas, nas quais surgiram as primeiras tentativas de criao de alfabetos, podiam ser facilmente fragmentadas em segmentos fnicos graas
falta de coincidncia entre os limites da slaba e os dos morfemas.
De qualquer modo, seja qual for o grau de conscincia lingstica
que tenham exigido os diferentes sistemas grficos, a histria da escrita
apresenta um ponto de inflexo decisivo com a inveno do alfabeto, j
que a linguagem deixa de ser representada com elementos comunicveis
de maneira direta e passa a basear-se em uma abstrao que requer um
processo de anlise e sntese da seqncia fnica da lngua oral.
Efetivamente, os sinais grficos no correspondem aos sons da lngua percebidos pelos falantes (inclusive sua representao em um alfabeto fnico supe uma conveno, j que, por exemplo, no se pode pronunciar uma consoante isolada, sem vogal), mas representam os sons que
possuem um valor funcional. Alm disso, embora as grafias se relacionem com os sons da lngua oral, tambm existem outros tipos de relaes
envolvidas na escolha de um sinal grfico. No caso da lngua catal, por
exemplo, pode-se encontrar o sinal de pertinncia a uma mesma famlia
(na alternncia c/, ou s/ss para um mesmo som), a marca de morfemas
determinados (a/es para singular/plural) ou o uso de contexto grfico
(g/j). A inveno do alfabeto decisiva porque um sistema que permite
a representao da linguagem com maior economia de meios, mas sua
abstrao tem como conseqncia o fato de que os falantes no podem
adquiri-lo facilmente fixando-se na decomposio das palavras, mas
devem basear-se em mtodos e instruo e no confronto com a prpria
linguagem escrita para alcanar o nvel de conscincia fonolgica que se
requer para seu domnio.
A inveno da escrita alfabtica e o desenvolvimento de sistemas de
escrita muito produtivos se revelaram como um meio de representao
simblica to potente que, se cada sistema de mediao incorpora novas
possibilidades s formas de pensar e entender a relao entre o ser humano e o mundo, o que vai permitir a alfabetizao ser, nas palavras de
Cole e Griffin (1978), desenvolver novas formas de processos psicolgicos superiores.
Podemos encontrar uma semelhana para ilustrar tal idia no exemplo da inveno da notao musical. A notao, o sistema de signos usado
para transferir os sons para o papel, foi inventada e usada exclusivamente
pela cultura moderna ocidental. Todas as demais culturas sempre transmitiram sua msica por via oral, e os msicos tinham de dedicar a maior
parte de suas energias a memorizar as peas de seu repertrio apenas
com a ajuda do prprio ouvido. A conseqncia, nesses casos, que o
patrimnio musical irremediavelmente reduzido, j que to penoso
recordar que sobra pouco espao para a criao, e preciso partir sempre
14
T. Colomer & A. Camps
de um ensaio combinatrio circunscrito aos poucos elementos de que se
dispe a partir da memria individual. Alm disso, a linguagem musical
necessariamente muito simples, dada a limitao da memria humana:
por exemplo, ningum poderia lembrar a Nona Sinfonia de Beethoven
em todos os seus detalhes, ou exigiria um esforo to grande que no
valeria a pena compor uma obra assim.
Mas o uso da notao dinamizou e acelerou radicalmente a evoluo
da msica nas sociedades que passaram a adot-la. No apenas tornou
possvel armazenar um nmero muito maior de experincias musicais
por exercer uma funo de memria coletiva, como tambm livrou os
msicos da parte mais mecnica de sua tarefa com a conseqente
potencializao da criao de estruturas muito mais complexas que, por
sua vez, reverteram no repertrio j existente. Contudo, nenhum sistema
de notao musical capaz de reproduzir a gama sonora da voz humana
nem a dos instrumentos musicais, e a maioria dos msicos optou por
acoplar suas faculdades quilo que transmissvel por escrito. Dessa
maneira, a existncia da notao influiu tambm no tipo de evoluo que
a msica seguiu, no sentido de que marginalizou formas mais coerentes
com a tradio oral, fazendo coincidir, finalmente, notao musical e msica produzida.
Do mesmo modo, ento, a lngua escrita permite a existncia de uma
memria coletiva e uma comunicao muito maior entre os homens e as
mulheres por no mais se limitar presena fsica dos interlocutores. Isso
possibilita nveis de anlise e de abstrao da linguagem que determinam
um grande crescimento do saber e que representam a base do desenvolvimento cientfico e cultural de nossas sociedades atuais.
A grande incidncia da lngua escrita na organizao e evoluo das
sociedades pode ser analisada tambm do ponto de vista de sua correspondncia com a maneira como a sociedade entendeu e valorizou o fato
de saber ler e escrever ao longo do tempo, j que essa concepo e essa
valorizao so inseparveis das circunstncias concretas do contexto histrico em que se produzem. Assim, os estudos realizados nesse campo
revelam como as mudanas na definio do conceito de alfabetizao refletem as variaes produzidas naquilo que a coletividade percebe como
necessidades de sua organizao social.
Os historiadores (Cipolla, 1969) mostraram que, com a industrializao j bem avanada, a alfabetizao no se relacionava nem com a
idia de escolarizao como meio de aquisio dessa capacidade, nem
com o progresso econmico como conseqncia esperada de seu domnio, idias bem enraizadas em nossa sociedade atual. Antes da industrializao, ao contrrio, saber ler e escrever costumava ser associado ao
cio e ao mbito social, com um valor eminentemente moral, em que ser
letrado era sinnimo de ser virtuoso e em que o domnio desse saber
Ensinar a ler, ensinar a compreender
15
cumpria uma funo de coeso social. Cook-Gumperz (1986) comenta a
respeito:
Um dos maiores impactos dos recentes estudos histricos nessa rea foi o de
informar sobre as muitas maneiras como se deu a alfabetizao na sociedade
ocidental no decorrer dos ltimos cinco sculos [...] Pode-se dizer que a mudana a partir do sculo XVIII no foi a do analfabetismo total para a alfabetizao,
mas de uma multiplicidade de alfabetizaes difceis de avaliar, de uma idia
pluralista da alfabetizao como um conjunto de diferentes aptides relacionadas com a leitura e a escrita, com muitos objetivos diferentes e para muitos
setores diferentes de uma sociedade, noo de uma nica e padronizada alfabetizao escolar vigente em nosso sculo.
O processo no sentido dessa concepo padronizada da funo da
alfabetizao produziu-se ao longo do sculo XIX, a partir das mudanas
sociais provocadas pela industrializao, e foi nesse perodo que se assentaram as bases das concepes atuais sobre a alfabetizao mencionadas
antes.
Em primeiro lugar, e diferentemente do que ocorria at ento, quando se podia ser um cidado prspero e respeitado sem saber ler nem escrever, a alfabetizao comeou a ser associada ao xito econmico e ao
esforo individual em prol da ascenso social, de tal forma que, no reverso dessa correlao, o analfabetismo passou a ser vinculado ao fracasso
social, fracasso que era atribudo prpria responsabilidade individual
pela falta de educao.
Em segundo lugar, iniciou-se a demanda social que culminou com a
consecuo da escolarizao obrigatria, escolarizao que inclui o acesso
de toda populao alfabetizao no interior desse novo mbito solidamente formalizado. Contudo, tal processo englobou diversas maneiras de
conceber a alfabetizao. Por um lado, produziu-se uma linha reivindicativa que se apoiava na idia da alfabetizao como um elemento
igualizador entre os homens na consecuo de uma nova ordem social e
poltica. Essa linha generalizou a concepo da alfabetizao como uma
parte do desenvolvimento individual e pessoal at culminar em sua considerao atual como um direito de todos os seres humanos. Por outro
lado, encontra-se a considerao, expressada nas discusses parlamentares sobre as leis de escolarizao e nas polmicas pblicas da poca (CookGumperz, 1986), sobre o acesso lngua escrita como uma necessidade
inerente aos requisitos educativos do desenvolvimento industrial, assim
como uma via de integrao da populao em sociedades em que a diviso entre alfabetizados e analfabetos comeava a definir a fronteira da
marginalizao social.
Ao longo do sculo XX, a lngua escrita constitui-se como uma
tecnologia fundamental de nossas sociedades a partir da qual se construiro outras tecnologias de armazenamento e transmisso, de tal maneira
16
T. Colomer & A. Camps
que a alfabetizao deixa de ter o sentido de conquista no desenvolvimento individual e social que a caracterizou no sculo XIX para se tornar
um pr-requisito para qualquer progresso das sociedades modernas. A
mediao entre o ser humano e o mundo adquiriu tal complexidade que a
sociedade tem de fazer um grande investimento em capital humano para
que os cidados sejam capazes de controlar um tal volume de informaes simblicas.
Nesse contexto, a concepo da alfabetizao foi se ampliando desde
sua considerao como a mera capacidade de firmar ou de ler uma mensagem simples, at sua definio como possibilidade de leitura de novo
material e recopilao de novas informaes a partir de um material
(Resnick e Resnick, 1977). As sucessivas ampliaes que se produziram
(com a divulgao do termo alfabetizao funcional durante os anos 40, por
exemplo) tiveram grande repercusso nas avaliaes sobre o grau de alfabetizao dos diferentes pases, na determinao dos objetivos de poltica
cultural e educativa por parte dos Estados, sobretudo nos pases em via
de desenvolvimento, e no projeto e na aplicao de programas de alfabetizao. Nesse sentido, um informe da UNESCO (1976) sobre a alfabetizao afirma:
Mais do que uma finalidade em si mesma, a alfabetizao deve ser considerada
como uma maneira de preparar o homem para um papel social, cvico e econmico que vai alm dos limites de uma tarefa rudimentar de alfabetizao, que
consista simplesmente em ensinar a ler e a escrever. O prprio processo de aprendizagem da lecto-escrita deve converter-se em uma oportunidade para adquirir
informaes que possam ser utilizadas imediatamente para melhorar os nveis
de vida; a leitura e a escrita no conduziro apenas a um saber geral elementar,
mas a uma maior participao na vida civil e a uma melhor compreenso do
mundo nossa volta, abrindo o caminho, finalmente, ao conhecimento humano bsico.
Assim, a complexidade progressiva de nossa sociedade trouxe consigo a extenso e a diversidade de usos da lngua escrita que j configuram
nossa prpria concepo de uma sociedade com tantos sculos de uso da
escrita. Scribner (1984) e Tolchinsky (1990) sintetizam tais usos em trs
linhas determinadas:
1.
2.
O uso prtico ou funcional da lngua escrita em termos de adaptao a uma sociedade moderna e urbana que recorre constantemente a ela na vida cotidiana.
O uso da lngua escrita como potencializao do conhecimento,
como progresso individual ou coletivo, no qual o domnio da
linguagem escrita entendido (e administrado ou reivindicado)
como poder: poder da informao, progresso cientfico, poder
da ascenso social que possibilita, etc.
Ensinar a ler, ensinar a compreender
3.
17
O uso da lngua escrita como acesso ao prazer esttico atravs
dos usos formais e poticos do escrito.
Tais usos esto presentes nas sociedades ocidentais contemporneas
em um grau tal que permitem caracteriz-las como sociedades altamente
alfabetizadas. O fato de incluir todos esses usos ou apenas uma parte deles, e conforme a parte de que se trata, tambm configura nossa prpria
concepo atual do que saber ler e escrever.
As dificuldades para uma definio estvel do conceito de alfabetizao no provm unicamente da elevao progressiva de seu nvel de
contedo ou dos usos da linguagem que considere, como acabamos de
descrever. Outro tipo de dificuldades tem sua origem na redefinio dos
objetivos do sistema educativo nas sociedades modernas. Um exemplo
bastante claro dessa mudana consiste em que o sistema educativo j no
se prope a oferecer o conhecimento (e a alfabetizao) como um capital
fixo que um indivduo adquire durante alguns anos de sua vida e que
administra no resto dela. Hoje, ao contrrio, cada indivduo se v obrigado a revisar e a adquirir conhecimentos de forma constante e a valid-los
atravs do sistema educativo mediante novos ttulos e certificaes.
Desse modo, a antiga idia emancipadora da alfabetizao como esperana de igualdade entre os homens foi modificada, primeiramente,
por sua incluso na idia mais geral de educao e, mais tarde, pela nova
percepo social da educao, que passou a ser considerada a ttulo de
igualdade de oportunidades no mercado de trabalho.
Por outro lado, se a partir da escolarizao obrigatria seria realmente rduo separar a valorizao social da alfabetizao da valorizao atribuda ao sistema educativo em seu conjunto, a mesma fuso produziu-se
nas crticas provocadas pelo desencanto das esperanas sociais depositadas no acesso educao. Assim, se atualmente a constatao de um amplo fracasso escolar levou a um estado de crtica generalizada s instituies educativas, esse fracasso foi considerado, muito significativamente,
em termos de fracasso lingstico durante os anos 70 e como fracasso no
domnio da lngua escrita em finais da dcada de 80.
Nesse sentido, o desenvolvimento de uma tecnologia educativa muito mais afinada nas ltimas dcadas foi denunciado repetidamente por
alguns autores (Bernstein, 1973) como uma faca de dois gumes, que permite tanto uma maior adaptao s caractersticas individuais dos cidados, como um maior controle de sua avaliao objetiva. Assim, a possibilidade de aumentar o controle converteria a instituio educativa em um
instrumento mais eficaz da estratificao da ordem social. Essa constatao
contribuiu para suscitar o debate, surgido nos anos 70, sobre as funes
sociais da escola e sobre os limites de sua repercusso na mobilidade social
dos indivduos.
18
T. Colomer & A. Camps
A relao entre os diferentes cdigos de representao.
O cdigo oral e o cdigo escrito
Fala-se muito do auge da imagem em nossa cultura, e, sem dvida,
um fato que se comprova com um simples olhar nossa volta. Contudo,
isso no parece ter significado a substituio e o abandono da comunicao escrita, mas antes parece t-la associado a um fenmeno mais geral de
ampliao dos cdigos de que as sociedades modernas dispem hoje. A
diversificao dos cdigos disponveis implicou grandes mudanas na
evoluo da comunicao no sentido de novas formas, que passaram a
ser chamadas de comunicao de massas.
A observao das formas de comunicao social revela que, longe da
eliminao de cdigos, o que se produz realmente uma diversificao
em seu uso, muitas vezes mediante formas intimamente inter-relacionadas. Um meio audiovisual como a televiso, por exemplo, utiliza muitas
vezes a lngua escrita ao mostrar grficos, listas de programao, etc., para
aproveitar determinadas vantagens da escrita, como a apresentao
objetualizada da mensagem ou a imediatidade de sua captao.
Ao mesmo tempo, as relaes entre o contedo de uma mensagem, o
cdigo (oral, escrito, visual) no qual se produz e o meio de comunicao
que o veicula (o escrito em uma carta, por exemplo, e, se complicamos
mais, a carta reproduzida em um livro, e o livro introduzido em um computador, etc.) so muito mais variadas, e suas repercusses na maneira
como se recebe a mensagem constituem um campo de estudo que est
apenas no incio, dada a recente apario dessas possibilidades comunicativas nas sociedades ocidentais. No momento, as constataes empricas
por exemplo, as que revelam que a lembrana de uma notcia mais duradoura quando se l no jornal do que quando se ouve no rdio e, em ambos
os casos, mais do que se viu-ouviu na televiso s permitem lanar hipteses sobre como so dominados individualmente e como so utilizados socialmente os diferentes sistemas culturais de representao que a
sociedade possui nesses momentos.
Se, alm disso, como afirmou Vygotsky (1979), os sistemas culturais
de representao marcam a construo do conhecimento na mente humana de cada indivduo, com mais razo ser preciso estudar quais so as
conseqncias do domnio de cada um dos sistemas simblicos na forma
de organizar nosso conhecimento sobre a realidade. Das pesquisas atuais
nesse campo a partir dos diferentes cdigos (oralidade, lecto-escrita,
informtica, cdigos visuais de imagem fixa ou animada), parece
depreender-se a idia de que quanto mais mediao instrumental se requer, mais trabalhoso o processamento da mensagem e mais organizada
permanece em nossa memria (Pablo del Ro, 1989).
As formas atuais de comunicao apresentam outro aspecto no qual
os cdigos existentes coincidem, e que se refere mudana produzida
Ensinar a ler, ensinar a compreender
19
nas situaes de comunicao em que eram utilizados tradicionalmente. Durante milhares de anos, a comunicao mais freqente entre as
pessoas foi uma comunicao direta, no interior de um contexto compartilhado em que o emissor e o receptor encontravam-se presentes e no
qual, portanto, podia poupar-se uma grande quantidade de informaes bvias para o interlocutor e no qual podiam realizar-se aes como
compartilhar a construo conjunta de uma mensagem ou pedir esclarecimentos. Ao contrrio, em nossa cultura atual, observamos como se privilegia cada vez mais a comunicao diferida entre os indivduos. Constantemente recebemos (ou emitimos) mensagens que foram construdas
(ou que sero recebidas) em um tempo ou lugar distantes, sem a possibilidade de negociar sua compreenso em uma interao face a face entre as pessoas que se comunicam. Seja atravs dos meios de comunicao
ou dos mltiplos aparelhos que utilizamos ao longo de um dia (aparelhos de comunicao como telefax, correio eletrnico, etc., mas tambm
signos, instrues ou programas de aparelhos eletrodomsticos, por
exemplo), a grande quantidade de informaes e demandas que gera
uma sociedade to ampla e complexa como a nossa veiculada de forma crescente atravs de mensagens independentes da situao comunicativa de emisso e recepo. Conseqentemente, impossvel para
qualquer indivduo alcanar autonomia social e desenvolver-se com facilidade no mundo atual sem estar acostumado a entender e construir
mensagens diferidas.
O aumento da comunicao diferida, assim como a generalizao da
alfabetizao e os avanos tcnicos que permitem a gravao e a transmisso da voz, levou a que a relao entre o cdigo oral e o cdigo escrito apresente caractersticas bastante distintas das que a definiram historicamente.
Do ponto de vista de sua descrio cientfica, pode-se constatar que,
durante sculos, a descrio gramatical baseou-se na lngua escrita, e foi
somente com a apario do estruturalismo que a ateno deslocou-se para
o cdigo oral, e os lingistas comearam a analisar alguns de seus aspectos bsicos, especialmente no nvel fontico da lngua. A partir da, a relao entre os cdigos passou a ser vista de forma distinta segundo a evoluo das diferentes correntes lingsticas, desde a sujeio absoluta do escrito ao oral (no estruturalismo americano) at sua independncia total
(na glossemtica). A nosso ver, o modelo mais consistente corresponde
relao de equivalncia defendida pelo Crculo de Praga. Nesse modelo,
considera-se que fala e escrita so duas realizaes distintas de um mesmo sistema lingstico, o que implica que compartilham a mesma estrutura, mas diferenciam-se em seu uso, j que exercem funes distintas na
vida social da comunidade. Scinto (1986) esquematiza da seguinte maneira as vrias formas de entender as relaes entre o oral e o escrito:
20
T. Colomer & A. Camps
Modelo dependente
(tradicional)
Modelo equivalente
(Crculo de Praga)
Lngua
oral
Modelo independente
(Glossemtica)
Lngua
oral
Lngua
escrita
oral
escrita
outras
manifestaes
escrita
Contudo, somente nas ltimas duas dcadas, o interesse pelo uso
da linguagem na prpria situao comunicativa propiciou a inter-relao de vrias disciplinas cientficas (a lingstica textual, a psicologia
cognitiva, a teoria da comunicao, a sociolingstica, a pragmtica, etc.)
na tentativa de ajustar suas anlises para poder descrever o fenmeno
comunicativo em toda sua complexidade. Nesse mbito, as comunicaes, oral e escrita, so concebidas como duas realizaes discursivas da
lngua, e qualquer pessoa deve adquirir sua competncia de uso a partir
da competncia lingstica comum a elas. O estabelecimento desse campo de interesse terico tem grandes repercusses educativas, no s porque oferece uma nova descrio dos cdigos orais e escritos, mas tambm porque a definio dos objetivos escolares de educao lingstica
passou a ser caracterizada como a aquisio de uma competncia oral e
escrita adequada em termos de uso.
Mas, para adquirir a competncia especfica de cada tipo de discurso, preciso observar suas diferenas, tanto no nvel do contexto comunicativo em que se produzem como no das caractersticas da mensagem
produzida. Muitas pesquisas empreendidas por diferentes reas coincidiram com as proposies do Crculo de Praga, ao afirmar que o escrito
muito mais que fala escrita. Quando se muda o canal (e a mensagem,
em vez de ser veiculada pela voz, transmitida por sinais grficos, ou
vice-versa), a prpria mensagem muda, porque sua adequao ao contexto comunicativo e s funes que normalmente se atribuem a um ou
outro canal ser diferente.
muito comum as descries comparativas de ambos os cdigos
apoiarem-se em seus usos mais diferenciados: a conversa informal e a
prosa expositiva, com a inteno de facilitar sua definio por contraste.
A partir desse tipo de anlises comparativas, estabeleceu-se claramente
uma srie de diferenas produzidas por dois tipos de causas. Em primeiro
lugar, as que se referem ao contexto comunicativo, j que, no caso da con-
Ensinar a ler, ensinar a compreender
21
versa, os interlocutores negociam um significado circunscrito por um contexto compartilhado, enquanto que, na prosa expositiva escrita, emissor e
receptor devem apoiar-se exclusivamente na mensagem verbal, sem outro contexto ou possibilidade de esclarecimento. Em segundo lugar, as
que resultam do processo de elaborao/recepo da mensagem e que esto
relacionadas particularmente com o tempo de que dispem emissor e receptor. Na conversa, as mensagens se produzem com rapidez pela necessidade de manter a ateno e devem ser breves para que possam ser retidas,
enquanto na prosa expositiva escrita dispe-se de um tempo muito mais
dilatado para organizar/interpretar a mensagem. As conseqncias dessas condies de comunicao afetam os dois tipos de discurso em todos
os seus nveis, seja na seleo lxica, seja na estrutura sinttica, etc., e atualmente dispe-se de descries bastante detalhadas das caractersticas
diferenciais de ambos os cdigos.
De qualquer forma, e sem que isso invalide a definio por contraste
dos cdigos, preciso assinalar que, em nossa cultura, produziu-se uma
diversificao paulatina dos tipos de discursos, de tal maneira que sua
caracterizao revela uma clara continuidade de formas entre os dois plos comparados anteriormente. Portanto, podem-se diferenciar desse modo
mais caractersticas comuns entre determinadas formas orais e escritas
(uma nota pessoal e uma interveno oral de aviso, um artigo de revista e
uma conferncia, etc.) que entre outras formas pertencentes ao mesmo
cdigo. O surgimento dos meios de comunicao audiovisuais contribuiu,
sem dvida, para essa multiplicao igualadora dos usos sociais de ambos os cdigos ao permitir a comunicao diferida de mensagens orais,
do mesmo modo que o acesso alfabetizao de uma grande maioria da
populao permitiu a utilizao do escrito em situaes comunicativas
que historicamente eram prprias do uso oral da lngua.
O resultado que hoje possvel falar de um continuum entre os cdigos. Ambos encontram-se disposio do emissor para que os escolha
como uma opo a mais alm das muitas que deve fazer ao emitir uma
mensagem e em funo de necessidades muito variadas, que vo no sentido de uma comunicao cada vez menos pessoal e cada vez mais elaborada do ponto de vista conceitual. Assim, o discurso oral costuma demonstrar maior envolvimento afetivo e, com essa inteno, podemos optar, por exemplo, por agradecer pessoalmente a algum em vez de enviarlhe uma nota de agradecimento, ao passo que a necessidade de elaborar
mais detalhadamente a relao entre as idias de uma argumentao pode
levar-nos utilizao do escrito. Alm disso, oral e escrito so utilizados
juntos em muitas situaes comunicativas que se convertem em mistas:
discute-se uma idia esquematizando-a em um papel, declama-se um
dilogo teatral previamente escrito, lem-se instrues ao mesmo tempo
em que se comentam, etc.
22
T. Colomer & A. Camps
O INDIVDUO E A LNGUA ESCRITA
Como se afirmou anteriormente, a possibilidade de utilizar a lngua
escrita tem conseqncias profundas nos processos mentais dos indivduos das sociedades alfabetizadas, conseqncias em sua forma de simbolizar a realidade, de estruturar seu conhecimento do mundo e de conceber novas formas de adquiri-lo.
Por suas caractersticas de comunicao diferida e de processo de
produo/recepo, a lngua escrita implica uma relao entre o pensamento e a linguagem diferente da que se produz no uso oral da conversa,
mediante o qual todos os indivduos adquiriram a linguagem. Wells (1987)
expressa isso nos seguintes termos:
Embora seja provvel que a conversa requeira pouco mais que a escolha de
idias familiares traduzidas simbolicamente rotina de uma expresso habitual, a prosa sustentada escrita e igualmente a poesia implica processos de
composio nos quais a experincia transformada na tentativa de organiz-la
e de lhe dar forma para que satisfaa as exigncias especficas da ocasio.
A lngua escrita nos permite fixar o pensamento verbal e convert-lo
assim em um objeto suscetvel de ser analisado, confrontado com nossas
idias ou com as de outros textos e oferecido a uma explorao demorada.
O texto escrito favorece enormemente a apropriao do conhecimento
humano, j que nos permite converter as interpretaes da realidade feitas pelos outros e inclusive por ns mesmos em algo material e articulado que se pode contrastar, conceituar e integrar ao nosso conhecimento.
Na inter-relao entre pensamento e linguagem, as caractersticas do cdigo escrito convertem-no no meio mais adequado para tarefas auto-reflexivas e de estruturao das prprias idias, j que a mediao da escrita
nos obriga a um processamento da informao de alto nvel e o meio em
que operamos de forma mais consistente com as palavras para ordenar e
descobrir seu significado. Enquanto o processo se desenvolve, criam-se
mais facilmente novas idias, incorporam-se novos significados ou estabelecem-se novas conexes entre os conhecimentos que se possui. O nvel
de abstrao que requer a comunicao escrita permite, nas palavras de
Pablo del Ro (1989),
a apario de determinadas competncias mentais que caracterizam a inteligncia do sujeito ocidental escolarizado de nossos dias: capacidade de classificar as
coisas, estratgias muito gerais ou abstratas de resoluo de problemas, etc.
A descontextualizao da linguagem escrita incide tambm na capacidade dos indivduos para desvincular o pensamento e a linguagem de
sua origem concreta como experincia pessoal e permite ter acesso a nveis superiores de abstrao e generalizao. Ao utilizar uma linguagem
Ensinar a ler, ensinar a compreender
23
no-sujeita situao contextual, qualquer emissor deve aprender a abstrair-se da situao imediata para poder realizar operaes, como adequar os contedos da mensagem informao que supe j conhecida
pelo possvel receptor, ou como planejar as marcas formais que permitam
a recepo de seu texto como uma mensagem coerente e compreensvel.
Do mesmo modo, qualquer receptor deve aprender a construir e a controlar mentalmente uma mensagem exclusivamente verbal. Em nossas sociedades ocidentais, a escola o lugar no qual os indivduos aprendem os
usos da linguagem que potencializam esse desenvolvimento cognitivo,
de tal forma que Scribner e Cole (1981) questionaram se a causa do desenvolvimento reside realmente na alfabetizao, ou na alfabetizao
indissociavelmente vinculada ao processo global de escolarizao.
Por outro lado, para tentar que uma comunicao escrita funcione, o
emissor precisa ter uma viso global e antecipada do que quer dizer e de
como deseja dizer, e dever julgar o texto segundo esses parmetros
medida que o constri. Mais tarde, o receptor ter de reconstruir a mensagem e julgar a coerncia alcanada. Esse aspecto consciente e deliberado
uma caracterstica fundamental da lngua escrita, tanto em seu processo
de emisso como de recepo. A necessidade de avaliar, do ponto de vista
lingstico, a adequao durante a emisso e a representao durante a
recepo de uma mensagem meramente verbal leva a que a aquisio do
cdigo escrito amplie enormemente a conscincia sobre o sistema
lingstico e sobre suas unidades em todos os sujeitos que tm acesso a
seu domnio, o que, portanto, requer e ao mesmo tempo desenvolve um
importante uso metalingstico da linguagem.
Sem dvida, a lngua um meio de representao simblica suficientemente potente para permitir a reorganizao do pensamento e, em ltima instncia, no seria preciso distinguir entre lngua oral e lngua escrita
para referir-se inter-relao existente entre pensamento e linguagem.
Contudo, certo que as caractersticas do escrito que foram assinaladas
aqui incidem no desenvolvimento das capacidades de abstrao e facilitam uma aquisio maior do potencial simblico da linguagem, da capacidade de operar (evocar, classificar, relacionar, etc.) sobre a realidade usando unicamente as palavras e, portanto, de gerar novos conhecimentos
mediante uma experincia que no precisa ser vivida como prpria e individual, mas que recebida j organizada com a mediao da linguagem. Alm disso, as formas da linguagem desenvolvidas podem ser
transferidas ao discurso oral, de tal maneira que se pode falar como um
livro e, de fato, o que ocorre em inmeras ocasies, dada a grande interrelao de usos orais e escritos que se produzem socialmente. A lngua
escrita seria, em suma, o meio mais eficiente para que um indivduo chegue a dominar as mximas potencialidades de abstrao da linguagem,
independentemente de os discursos construdos por ele serem, ao final,
orais ou escritos.
24
T. Colomer & A. Camps
A APRENDIZAGEM DA LNGUA ESCRITA
Apesar da forte presena da lngua escrita em nossa sociedade, sua
aprendizagem exige um suporte de instruo que facilite a conscincia
lingstica e a capacidade de descontextualizao de que os falantes necessitam para ter acesso a esse novo cdigo. Tal aprendizagem est prevista socialmente no contexto formal da escola. Muitas vezes assinalou-se
a importncia essencial da lngua no ensino, no sentido de que todo currculo escolar baseia-se no fato de aprender a operar com sistemas de representao da realidade e tambm porque todas as aprendizagens das diferentes matrias so veiculadas atravs da linguagem.
Certamente, se observamos a forte presena lingstica que se produz na escola, poder-se- objetar que a lngua oral, e no a escrita, que
parece ostentar um predomnio absoluto e, alm disso, muito centrado no
papel principal do professor. Algumas pesquisas nesse sentido, por exemplo, as de Flanders (1970), chegam concluso de que os professores tendem a falar durante a maior parte do tempo em suas aulas (70% nas observaes de Flanders, nas aulas de estilo tradicional) e que suas explicaes orais so direcionadas a, constantemente, fazer a mediao entre os
alunos e a lngua escrita dos livros-texto e do material escrito utilizado.
Contudo, apesar dessas observaes serem corretas, as aprendizagens escolares requerem o domnio progressivo dos usos prprios da lngua escrita que foram assinalados. Os meninos e as meninas escolarizados
deparam-se com uma exigncia de simbolizao mais elevada quanto mais
avanam nos nveis escolares, j que as informaes sobre a realidade esto cada vez mais distantes de uma atividade real e situadas no prprio
contexto da classe ou de sua experincia vivida. Evoquemos simplesmente a diferena entre uma observao de folhas vegetais, por exemplo, na
escola infantil, na qual seria impensvel no partir da presena corprea
das folhas para analisar e comentar suas formas ou cores e o estudo de
sua classificao botnica em nveis superiores do sistema educativo. A
representao verbal da realidade ter de recorrer necessariamente abstrao caracterstica da lngua escrita como instrumento adequado para
falar da realidade fora do contexto imediato ou concreto. Por isso, em
nossa sociedade, a realizao dos objetivos educativos passa
indefectivelmente por um grau importante do domnio do cdigo lingstico escrito e de desenvolvimento dos processos mentais que se encontram em sua base.
A partir dessa viso da lngua escrita, bvio que a aprendizagem da
lecto-escrita no pode ser entendida como a mera aquisio de um cdigo
grfico que se relaciona com um cdigo acstico, mas trata-se do desenvolvimento da capacidade de elaborar e utilizar a lngua escrita nas situaes e para as funes que cumpre socialmente. Isso comporta a negao
Ensinar a ler, ensinar a compreender
25
da dicotomia escolar entre aprender a ler e ler para aprender, dicotomia que
centra as aprendizagens previstas para os primeiros nveis na aquisio
do cdigo para passar sua utilizao como veculo de aprendizagens e
conhecimentos nos nveis seguintes. Ao contrrio, a escola deve partir da
idia de um sujeito que amplia suas possibilidades de expresso lingstica com a incorporao de um novo cdigo de uso social, que aprende a
elaborar e a encontrar o sentido de um texto dado e como constatou que
funcionava socialmente esse tipo de comunicao. E esse um processo
mental nico, impossvel de dissociar em duas etapas aquisio e utilizao , j que a aprendizagem do novo cdigo inseparvel da aprendizagem das finalidades para as quais foi inventado e da utilizao que a
sociedade faz dele.
Wells (1987) prope um modelo de concepo da lngua escrita que
deveria ser adotado pela escola para o planejamento de seu ensino. Essa
proposta parece-nos particularmente til para enquadrar o tratamento
escolar da leitura que preconizamos aqui. Wells indaga sobre aquilo que,
nos meios educativos, identifica-se espontaneamente como prprio do saber ler e escrever. A partir das respostas recebidas, esquematiza as vrias
concepes coexistentes sobre a alfabetizao e as integra na construo
de um modelo sobre o domnio da escrita dividido em quatro nveis
estratificados:
1.
2.
3.
O primeiro nvel o que se denomina executivo. Nessa concepo, o que se entende por domnio da lngua escrita consiste simplesmente em ser capaz de traduzir a mensagem do cdigo escrito ao falado e vice-versa, como uma admisso tcita de que as
mensagens escritas e as faladas diferenciam-se unicamente pelo
canal adotado. Do ponto de vista educativo, tal concepo executiva insiste na posse estrita do cdigo como tal.
O segundo nvel o funcional. Dessa perspectiva, a lngua escrita
consiste em um ato de comunicao interpessoal, e seu domnio
reside na capacidade de enfrentar exigncias cotidianas de nossa
sociedade, tais como seguir instrues ou ler o jornal. Alm do
cdigo estrito, nesse nvel inclui-se saber como a lngua escrita
varia segundo o contexto e requer instruo sobre as caractersticas de determinados tipos textuais.
O terceiro nvel o instrumental, e sua especificidade reside na
possibilidade de buscar e registrar informaes escritas. Nesse
nvel, tanto o cdigo quanto a forma textual tendem a ser usados
como se fossem transparentes, de tal forma que, quando os alunos deparam-se com problemas textuais, a escola tende a atribu-los aos contedos veiculados e no a um domnio insuficiente da lngua escrita.
26
T. Colomer & A. Camps
4.
O quarto nvel o epistmico. Se os nveis dois e trs consideravam a lngua escrita em suas funes comunicativas, nesse nvel
considera-se o domnio do escrito como um meio de transformao e de atuao sobre o conhecimento e a experincia. Na traduo educativa desse nvel, considera-se o domnio do escrito como
uma maneira de usar a linguagem e como uma maneira de pensar, e a tarefa educativa concretiza-se em objetivos de criatividade
e de interpretao e avaliao crtica.
Cada uma dessas maneiras de entender o domnio do escrito traz uma
perspectiva necessria para o modelo completo do que supe ter acesso
lngua escrita, e cada nvel inclui-se no seguinte (como se representa no
quadro a seguir), at a integrao dos quatro no nvel epistmico, que responderia definio mais completa sobre o domnio da lngua escrita.
epistmico
instrumental
funcional
executivo
A inadequao de um modelo reduzido ao primeiro nvel parece aceita
atualmente de forma unnime no campo educativo, embora na prtica
essa concepo do escrito continue vigente, sobretudo nos primeiros nveis do ensino. Mas h muitas propostas educativas que se centram nos
nveis dois e trs, em particular quando so dirigidas escolarizao de
grupos sociais especialmente desfavorecidos, com o propsito bem-intencionado de adequar sua educao s necessidades sociais de seu meio.
Wells, muito ao contrrio, defende a necessidade de ajudar todos os alunos e alunas a desenvolverem um modelo completo da concepo do que
se pode esperar da lngua escrita:
Se a meta da educao , de maneira geral, capacitar os indivduos para que cheguem a ser pensadores e comunicadores criativos e crticos, s se pode aceitar
como adequado um modelo de literalidade que reconhea a importncia do nvel
epistmico, seja qual for o mbito cultural do qual procedam os estudantes.
Ensinar a ler, ensinar a compreender
27
Assim, esse modelo deveria inspirar a programao e as atividades
escolares para a aquisio da lngua escrita, no de uma forma progressiva, passando sucessivamente de um nvel a outro, mas tentando proporcionar aos meninos e s meninas, desde o incio, um grande nmero de
oportunidades para que criem expectativas sobre a utilizao da lngua
escrita nos quatro nveis indicados. Os estudos sobre a aquisio da linguagem oral j demonstraram claramente que os bebs ampliam sua linguagem atentando ao mesmo tempo forma, ao significado e funo.
At o momento, tudo parece indicar que o acesso e o domnio da lngua
escrita devem basear-se em um processo anlogo.
A necessidade de que a lngua escrita seja adquirida em situaes
educativas que tenham sentido por si mesmas um princpio muito generalizado nos meios educativos, mas, freqentemente, os professores no
dispem de instrumentos para traduzi-lo prtica, sobretudo quando se
avana nos ciclos escolares. Essa dificuldade bem explicvel, j que reflete um desafio central na educao de hoje: a necessidade de reconciliar
contedos que devem ser cada vez mais descontextualizados no que se
refere experincia concreta dos meninos e meninas, com a desmotivao
que tal processo pode provocar, pois quanto mais se distanciam os contedos dos interesses imediatos dos alunos, mais diminui seu envolvimento afetivo e menos se mobiliza sua capacidade de processamento da
informao.
A ampliao do domnio lingstico para fases mais formalizadas e
mais abstratas da linguagem constitui uma parte muito importante da
aprendizagem escolar. Na escola, os alunos recebem muitas informaes
sobre o modo como sua sociedade interpreta a realidade fsica e social por
meio dos contedos de todas as disciplinas curriculares, mas essas interpretaes so indissociveis da maneira de falar sobre tais realidades.
por isso que se costuma dizer que todo professor professor de lngua, j
que o ensino de sua matria implica tambm ensinar a terminologia e o
uso lingstico adequados para operar sobre os temas que enfoca. Stubbs
(1976) cita um exemplo observado por Keddie (1971) para ilustrar a questo. Em uma aula de cincias naturais, o professor apresentou uma gravao de um feto no interior do tero. Um menino perguntou: Como faz
para ir ao banheiro?. A mesma pergunta, em um registro mais formalizado, seria: Como se eliminam os resduos do feto?. Essa pergunta demonstrava um raciocnio interessante por parte da criana a partir de seu
conhecimento da realidade, mas foi expressada de maneira pouco formalizada do ponto de vista lingstico, de tal forma que o professor no admitiu a pertinncia e a considerou uma chacota.
A aprendizagem da lngua escrita deve ser situada, portanto, nesse
mbito de domnio lingstico progressivo, em estreita relao com a lngua oral e com os demais cdigos de representao social. Se a linguagem
28
T. Colomer & A. Camps
o instrumento mais valioso para construir nossa concepo do mundo,
para imaginar, interpretar, organizar, abstrair, etc., ser preciso pensar em
um programa educativo que ajude a ampliar essas capacidades a partir
de sua ancoragem em experincias plenas de sentido.
Você também pode gostar
- Canva +Design+Gráfico+Sem+Mistérios+Com+Leila+Adriano+Ostoyke+ +udemyDocumento30 páginasCanva +Design+Gráfico+Sem+Mistérios+Com+Leila+Adriano+Ostoyke+ +udemyJoao Paulo HonórioAinda não há avaliações
- A Biblia e As Ultimas Descobertas PDFDocumento294 páginasA Biblia e As Ultimas Descobertas PDFRafaelMarques100% (3)
- HTML5 Com Javascript - V4Documento125 páginasHTML5 Com Javascript - V4will_domingues_3100% (1)
- A Suméria É A Civilização Mais Antiga Que Se Tem RegistroDocumento3 páginasA Suméria É A Civilização Mais Antiga Que Se Tem RegistroRafaelMarquesAinda não há avaliações
- A Bíblia VulgataDocumento24 páginasA Bíblia VulgataRafaelMarques100% (1)
- Lista Cronológica Das Bíblias Traduzidas para o PortuguêsDocumento5 páginasLista Cronológica Das Bíblias Traduzidas para o PortuguêsRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Ilovepdf Merged PDFDocumento386 páginasIlovepdf Merged PDFRodrigo Leite100% (3)
- Infancia e Linguagem Walter Benjamin 2Documento17 páginasInfancia e Linguagem Walter Benjamin 21deco1100% (2)
- Parábolas de Jesus - 2022Documento146 páginasParábolas de Jesus - 2022Hilmar CesarAinda não há avaliações
- Atividades - Coletivo e Flexão de NúmeroDocumento1 páginaAtividades - Coletivo e Flexão de NúmeroALIiNE CASTRO DE OLIVEIRA100% (1)
- Alma Mater - O Que É, Conceito e DefiniçãoDocumento1 páginaAlma Mater - O Que É, Conceito e DefiniçãoRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Granuloma - O Que É, Conceito e DefiniçãoDocumento1 páginaGranuloma - O Que É, Conceito e DefiniçãoRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Entenda A Diferença Entre Clima e TempoDocumento3 páginasEntenda A Diferença Entre Clima e TempoRafaelMarquesAinda não há avaliações
- HeresiasDocumento3 páginasHeresiasRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Literatura e Linguística - A Língua Segundo SaussureDocumento2 páginasLiteratura e Linguística - A Língua Segundo SaussureRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Nova Era - Símbolos Da Nova Era e Seus Significados - 01 - Saiba TananetDocumento13 páginasNova Era - Símbolos Da Nova Era e Seus Significados - 01 - Saiba TananetRafaelMarquesAinda não há avaliações
- 46 Nomes Estranhos de Igrejas Evangélicas BrasileirasDocumento3 páginas46 Nomes Estranhos de Igrejas Evangélicas BrasileirasRafaelMarquesAinda não há avaliações
- 70 Razões para Se Guardar o SabadoDocumento6 páginas70 Razões para Se Guardar o SabadoRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Química Inorgânica (Capítulo 6) Haroldo BarrosDocumento26 páginasQuímica Inorgânica (Capítulo 6) Haroldo BarrosRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Bíblia LTT Anotada: Velho TestamentoDocumento19 páginasBíblia LTT Anotada: Velho TestamentoRafaelMarquesAinda não há avaliações
- A Linguagem e Seu Processo de Evolução - TCC Luciano Ribeiro Barbosa - FinalDocumento44 páginasA Linguagem e Seu Processo de Evolução - TCC Luciano Ribeiro Barbosa - FinalRafaelMarquesAinda não há avaliações
- Seguindo o Plano de Deus P Sua VidaDocumento2 páginasSeguindo o Plano de Deus P Sua Vidavanet deCristoAinda não há avaliações
- Português - ResumoDocumento12 páginasPortuguês - ResumoDaniel Franz BarassuolAinda não há avaliações
- Portfólio 1 - Lógica ClássicaDocumento7 páginasPortfólio 1 - Lógica ClássicaCarlos ZimbherAinda não há avaliações
- GRANDES QUESTÕES SOBRE SEXO - JOHN R. W. STOTT (Unknown Author) (Z-Library)Documento139 páginasGRANDES QUESTÕES SOBRE SEXO - JOHN R. W. STOTT (Unknown Author) (Z-Library)Coachable BrasilAinda não há avaliações
- Prof Robson LISTAEQ2 GRAUREVPROVA2012Documento4 páginasProf Robson LISTAEQ2 GRAUREVPROVA2012Romario_UEFSAinda não há avaliações
- Perguntas, Respostas, Discussões e Questionamentos Sobre ABNTDocumento132 páginasPerguntas, Respostas, Discussões e Questionamentos Sobre ABNTValnice100% (2)
- Apostila Ufrgs Assistente Administrativo 140404213841 Phpapp02 PDFDocumento2 páginasApostila Ufrgs Assistente Administrativo 140404213841 Phpapp02 PDFMuryllo Possamai0% (1)
- Crase 1Documento23 páginasCrase 1romaovitor362Ainda não há avaliações
- Monografia TCC AlexLRosaDocumento88 páginasMonografia TCC AlexLRosaAlex Leandro RosaAinda não há avaliações
- Avaliacao PortuguesDocumento3 páginasAvaliacao Portuguesvalquiria ribeiro gomesAinda não há avaliações
- Alfabetização e Letramento Fundamentos e MetodologiaDocumento55 páginasAlfabetização e Letramento Fundamentos e MetodologiaJosimar Tomaz de BarrosAinda não há avaliações
- Imersão Pregai - JoãoDocumento6 páginasImersão Pregai - JoãoMichele HubnerAinda não há avaliações
- Avaliação Língua Portuguesa 9º Ano Pronome RelativoDocumento5 páginasAvaliação Língua Portuguesa 9º Ano Pronome RelativoGláucia Freitas100% (1)
- CT Comet 2015 1 5Documento70 páginasCT Comet 2015 1 5Judá RibeiroAinda não há avaliações
- Curso SIGARPMDocumento53 páginasCurso SIGARPMRochaAinda não há avaliações
- Avaliação de Lingua Portuguesa Da 8 SérieDocumento5 páginasAvaliação de Lingua Portuguesa Da 8 SérieroleolAinda não há avaliações
- MusicaDocumento30 páginasMusicaRamon FonsecaAinda não há avaliações
- Il Genesi Arcano - Teorias ImprovaveisDocumento28 páginasIl Genesi Arcano - Teorias ImprovaveisAdilson Xavier FernandoAinda não há avaliações
- Alfabeto GregoDocumento6 páginasAlfabeto GregoGlacilda PereiraAinda não há avaliações
- VEST - RIO - Inglês - Módulo 01Documento3 páginasVEST - RIO - Inglês - Módulo 01Arnoud de Souza LimaAinda não há avaliações
- Mapas Mentais PortuguesDocumento46 páginasMapas Mentais PortuguesVitor RodriguesAinda não há avaliações
- Resenha Mark Twain Viajante - Um Olhar Nada InocenteDocumento10 páginasResenha Mark Twain Viajante - Um Olhar Nada InocenteJosé Flávio da PazAinda não há avaliações
- Orações 1Documento38 páginasOrações 1alba.supra2020Ainda não há avaliações
- Aula 18.11 - ComunicaçãoDocumento30 páginasAula 18.11 - ComunicaçãoEduardo Queoma BispoAinda não há avaliações