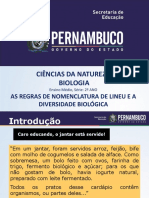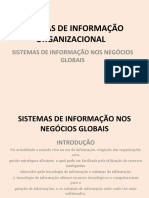Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Lei de Introduçao Ao Código Civil LICC1
Lei de Introduçao Ao Código Civil LICC1
Enviado por
Bueno RosanaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Lei de Introduçao Ao Código Civil LICC1
Lei de Introduçao Ao Código Civil LICC1
Enviado por
Bueno RosanaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DIREITO CIVIL
Lei de Introduo ao Cdigo Civil
1) Consideraes iniciais:
a) Natureza da LICC:
Embora denominada Lei de Introduo ao Cdigo Civil, o Decreto-lei n.
4.657/42 no faz parte do Cdigo Civil, nem a ele est vinculado. A LICC bem mais
ampla do que seu nome sugere.
uma lei autnoma, com vida prpria e, formalmente, desvinculada de qualquer
outro diploma legal. Prova disso, que ela continua em plena vigncia e eficcia mesmo
aps a revogao do Cdigo Civil de 1916.
Nos dizeres da Professora Maria Helena Diniz, trata-se de uma norma
preliminar totalidade do ordenamento jurdico nacional. Diferentemente das demais
leis, que regem relaes sociais, a LICC disciplina normas jurdicas, indicando como
interpret-las, aplic-las, determinando-lhes a vigncia e eficcia, sua dimenso
temporal e espacial. Em razo disso, a LICC qualificada pela doutrina como uma
norma sobre normas. tambm comumente denominada lex legum, superdireito,
sobredireito. Por fim, conhecida ainda como Estatuto de Direito Internacional
Privado, na medida em que aponta critrios de soluo de conflito entre o direito ptrio
e o direito estrangeiro (aliengena) relativamente aos direitos sobre as pessoas, as coisas,
as obrigaes e sucesso.
Nessa linha, Maria Helena Diniz e Pablo Stolze sugerem que a LICC deveria ser
intitulada de Lei de Introduo s Leis.
b) Contedo e funes da LICC:
Na lio de Maria Helena Diniz, a LICC exerce a funo de lei geral que orienta
outras leis no tocante a:
vigncia;
eficcia no tempo e no espao;
obrigatoriedade;
interpretao;
integrao;
relaes de direito internacional privado.
2) Aplicao da lei no tempo:
a) Princpio da Vigncia Sincrnica: A lei ter vigncia no respectivo territrio no
mesmo momento, firmando-se assim a regra do prazo nico. Diferentemente, pelo
critrio do prazo progressivo a lei entraria em vigor em diferentes datas a depender do
local.
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
b) Vacatio Legis:
Conceito: o intervalo de tempo entre a data de publicao da lei e sua entrada em
vigor;
Prazos:
1 No territrio nacional: 45 dias aps ser oficialmente publicada.
OBS: 45 dias ------ diferente de 1 ms e meio.
2 Nos Estados estrangeiros (quando admitida): 3 meses depois de publicada
oficialmente.
OBS: 3 meses ------ diferente de 90 dias.
OBS: A vacatio legis no se aplica aos atos administrativos, que tm
obrigatoriedade a partir da publicao, conforme o art. 5 do Decreto n. 572/1890,
que no est revogado pela LICC.
Contagem do prazo: Segue a regra do art. 8, 1, da LC n. 95, de 1998, segundo a
qual: A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleam perodo
de vacncia far-se- com a incluso da data da publicao e do ltimo dia do
prazo, entrando em vigor no dia subseqente sua consumao integral.
Alterao de lei durante a vacatio legis: Se durante a vacatio legis ocorre nova
publicao de seu texto para correo de erros materiais ou falhas ortogrficas, o
prazo da obrigatoriedade comear a correr novamente a partir da ltima
publicao, ou seja, a alterao prorrogar o incio da vigncia da lei.
Correo a texto de lei em vigor: Considera-se lei nova, tornando-se obrigatria
apenas aps o decurso da vacatio legis.
OBS: Admite-se que o juiz, ao aplicar a lei, possa corrigir os erros materiais evidentes,
especialmente os de ortografia, mas no os erros substanciais, que podem alterar o
sentido do dispositivo legal, sendo imprescindvel neste caso nova publicao.
c) Princpio da continuidade da lei:
Em regra, a lei ter vigncia at que seja modificada ou revogada por outra lei
posterior.
Exceo: Lei temporria que tem prazo determinado para vigorar e estabelece a
data final de sua vigncia.
OBS: Lei temporria ---------------- Lei Excepcional
- prazo determinado.
- Aplica durante uma condio ou
- prev data final de
situao determinada.
vigncia.
- Vigora durante uma situao.
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
d) Revogao:
Conceito: a supresso da fora obrigatria da lei, retirando-lhe a eficcia.
Espcies:
1) Ab-rogao: revogao total da lei.
2) Derrogao: revogao parcial da lei.
Formas:
1) Expressa: a lei revogadora clara e expressa quanto a retirada da lei revogada;
2) Tcita: decorre de duas circunstncias a) incompatibilidade da lei nova com a
lei revogada; b) a lei nova regula inteiramente a matria de que tratava a lei
revogada.
e) Repristinao: a restaurao da vigncia da lei revogada por ter a lei revogadora
perdido sua eficcia. Em regra, ela no aplicada.
Exceo: O nosso ordenamento jurdico admite a repristinaao desde que
expressamente determinada.
f) Princpio da obrigatoriedade (art. 3): Ningum pode se escusar de cumprir a lei,
alegando que no a conhece.
Exceo: A inescusabilidade do desconhecimento da lei excepcionada quanto
comprovao, no processo civil, do direito municipal, estadual, estrangeiro e
consuetudinrio, os quais devem ser provados em juzo pela parte que os alegar (art. 337
do CPC e art. 14 da LICC).
g) Princpio da irretroatividade da lei (art. 6): A lei ter eficcia geral e imediata e, em
regra, opera seus efeitos sobre fatos pendentes e futuros, ou seja, ter eficcia ex nunc.
Exceo: Entretanto, possvel que a lei opere efeitos retroativos, desde que
preenchidos os seguintes requisitos:
1) no ofenda o ato jurdico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada;
2) quando houver determinao expressa do legislador no sentido de aplic-la a
casos pretritos.
OBS: No existe no nosso direito a retroatividade tcita da lei.
O art. 6 da LICC tem como correspondente na CF o art. 5, XXXVI, com a
seguinte redao: A lei no prejudicar o direito adquirido, o ato jurdico perfeito e a
coisa julgada.
Ato Jurdico Perfeito: Reputa-se ato jurdico perfeito o j consumado segundo a lei
vigente ao tempo em que se efetuou. Ex: nomeao e posse em cargo de juiz de
direito antes da EC n. 45/04.
Coisa julgada: a imutabilidade dos efeitos da sentena, que no mais se sujeita a
recursos. a sentena transitada em julgado.
OBS: Est em desenvolvimento a teoria da relativizao da coisa julgada, que vem
sendo aplicada em casos excepcionais, sob uma anlise cautelosa da jurisprudncia. Tal
tema, porm, no constitui objeto da nossa disciplina.
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
Direito Adquirido: o direito que j se incorporou ao patrimnio jurdico da
pessoa. o direito apefeioado, ou seja, que preencheu todos os requisitos
necessrios sua aquisio. O direito foi adquirido, todavia, ainda no foi exercido.
Ex: o direito aposentadoria; direito licena prmio.
Para que se considere um direito como adquirido preciso que sejam observados
dois requisitos: a) que o fato jurdico, de que se originou o direito, nos termos da lei
antiga, tenha sido totalmente integrado no patrimnio jurdico durante a vigncia da lei
anterior; b) seja resultante de ato idneo.
OBS: De acordo com a jurisprudncia firme do STF, no h direito adquirido a
regime jurdico (administrativo, remuneratrio, tributrio). A propsito, ver deciso da
repercusso geral que reafirmou esse entendimento. Regime jurdico o sistema, o
modo de regular, pelo qual as pessoas, instituies ou coisas se devam conduzir.
OBS: O direito adquirido no se confunde com a expectativa de direito, que
significa o direito em formao, ainda no consumado, que eventualmente poder fazer
parte do patrimnio jurdico futuro da pessoa, nas palavras do Professor Zeno Veloso.
um estgio prvio, ainda no concludo, em que o direito aguarda, pende, a sua total
formao. O direito est no caminho, mas ainda no chegou ao fim porque o suporte
ftico no foi totalmente preenchido. Ex: aprovao em fases de concurso pblico para
conquistar o direito adquirido nomeao, quando aprovado dentro do nmero de
vagas, segundo a atual jurisprudncia do STJ.
3) Integrao da Lei (art. 4).
Em sua acepo geral, o ordenamento jurdico perfeito e pleno, no havendo
nele contradies, lacunas ou falhas. Esta idia decorre do preceito, do dogma, do
legislador perfeito. Entretanto, em sua aplicao prtica, a lei poder ser omissa. Por
melhor que seja, por mais previdente que sejam seus preceitos, a lei no conseguir
regular todos os fatos que surgiro no meio social.
Por outro lado, o princpio da inafastabilidade da jurisdio e da regra do art.
126 do CPC, impe ao juiz o dever de julgar a demanda a ele submetida, no lhe sendo
facultado deixar de decidi-la sob a justificativa de que no existe lei para a resoluo da
contenda que lhe foi submetida.
Para superar eventual lacuna ou omisso da lei, o operador do direito deve se
valer dos mecanismos de integrao indicados no art. 4 da LICC: analogia, costumes e
princpios gerais de direito.
Analogia: o mecanismo de aplicao, ao caso no contemplado de modo direto e
especfico na lei, de uma norma prevista para um caso semelhante hiptese
omissa. Ex: ltimos julgados do STF conferindo efeito concretista ao Mandado de
Injuno.
Costumes: a prtica reiterada de determinados atos, considerados pela sociedade
como juridicamente obrigatrios. So comportamentos uniformes e constantes pela
convico de sua obrigatoriedade e necessidade jurdica. Para que um
comportamento seja considerado costume preciso que atenda a dois requisitos: a)
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
requisito extrnseco o uso reiterado e prolongado, com os caracteres de
uniformidade, publicidade e generalidade; b) requisito intrnseco a convico de
sua obrigatoriedade, a crena de que est diante de uma norma.
OBS: Por mais relevante que seja, o nosso ordenamento no admite que o costume
revogue a lei. O desuso ou o comportamento contrrio no revogam a lei, fato que s
ocorre com a edio de nova lei.
Princpios Gerais de Direito: So os cnones que emergem do direito natural; as
regras fundamentais que inspiram e condicionam o ideal de justia. Ex: o princpio
da autonomia da vontade nos contratos, o princpio da boa-f; o princpio da
vedao do enriquecimento ilcito.
OBS: Segundo o posicionamento majoritrio da doutrina, h uma hierarquia entre os
mecanismos de integrao da lei, de modo que o operador do direito, constatando a
lacuna da lei, dever recorrer primeiramente analogia. Se esta tambm no for
suficiente, dever valer-se, em segundo lugar, dos costumes. Permanecendo a omisso,
poder, por fim, lanar mo dos princpios gerais. Entretanto, parece-nos que tal regra
est ultrapassada para o atual regime constitucional-democrtico da CF/ 88, onde os
princpios ganharam novo significado e dimenso, de modo que no podem mais ser
compreendidos apenas como simples e ltima fonte supletiva de aplicao do Direito.
OBS: A doutrina majoritria no considera a Equidade como um meio supletivo de
lacuna de lei, mas como um importante recurso auxiliar de aplicao da lei. A melhor
definio de equidade o da sua concepo aristotlica, onde equidade entendida
como a justia do caso concreto. Atualmente, por fora do art. 127 do CPC, o
julgamento por equidade somente admitido em casos excepcionais quando a lei
autorizar o juiz a faz-lo. Ex: art. 20 do CPC a fixao dos honorrios advocatcios de
sucumbncia nas causas de pequeno valor , nas de valor inestimvel, onde a lei delega
ao prudente arbtrio do julgador a estipulao do quantum debeatur; art. 1.109, segunda
parte, do CPC, segundo o qual, nos procedimentos de jurisdio voluntria, o o juiz
decidir o pedido no prazo de 10 dias; no , porm, obrigado a observar critrio de
legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a soluo que reputar mais conveniente
ou oportuna.
4) Interpretao da lei.
OBS: A interpretao no se confunde com a integrao da lei. Enquanto a integrao
mecanismo supletivo da lei, por ela ser omissa, na interpretao existe a lei a ser
aplicada ao caso concreto, sendo ela o procedimento de revelao do significado e do
verdadeiro sentido da norma. Assim, a interpretao tem por finalidade: a) revelar o
sentido da norma; b) fixar o seu alcance.
Vrias tcnicas coexistem para auxiliar o aplicador do direito nessa rdua tarefa
de interpretar. Elas podem ser classificadas de acordo com os seus aspectos peculiares:
Quanto origem:
a) autntica: realizada pelo prprio legislador, por meio de uma lei
interpretativa;
b) doutrinria: realizada pelos doutos estudiosos do Direito;
c) jurisprudencial: realizada pelos juzes e tribunais.
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
OBS: Atente para a diferena entre jurisprudncia e precedente.
Quanto aos meios:
a) Gramatical ou literal: consiste no exame de cada termo, vocbulo, utilizado na
norma, morfolgica ou sintaticamente, de acordo com as regras do vernculo.
b) Lgica: consiste na utilizao de raciocnios lgicos, dedutivo ou indutivo, para
a anlise da norma em toda a sua extenso, desvendando o seu sentido e
alcance;
c) Sistemtica: consiste na anlise da norma a partir do ordenamento jurdico de
que parte, relacionando-a com outras disposies que tem as mesmas
peculiaridades e objetos.
d) Histrica: anlise da norma partindo da premissa dos seus antecedentes
histricos, verificando as circunstncias fticas e jurdicas que lhe antecedem,
bem como o prprio processo legislativo correspondente.
e) Teleolgica ou finalstica: tem por objetivo adaptar o sentido ou a finalidade da
norma s novas exigncias sociais, buscando alcanar a vontade objetiva da lei.
Essa recomendao endereada ao magistrado no art. 5 da LICC, segundo o
qual na aplicao da lei, o juiz atender aos fins sociais a que ela se dirige e s
exigncias do bem comum.
Quanto ao alcance ou resultado:
a) extensiva: estende o alcance eficacial da norma, que disse menos do que
deveria;
b) restritiva: restringe o alcance eficacial da norma, que disse mais do que deveria;
c) declarativa: apenas declara o exato alcance da norma.
5) Aplicao da Lei no Espao.
a) Princpio da Territorialidade Temperada:
Em razo do conceito jurdico de soberania estatal, a norma deve ser aplicada
dentro dos limites territoriais do Estado que a editou. Essa a idia do princpio da
territorialidade.
Entretanto, essa regra tem se mostrado insuficiente para abranger a imensa gama de
relaes jurdicas estabelecida entre pessoas de diversos pases, sobretudo com a
globalizao, que intensificou o descolamento de pessoas pelo globo.
Contrapondo-se regra da territorialidade, tem-se o princpio da
extraterritorialidade que admite a aplicabilidade no territrio nacional de leis de outros
Estados, segundo princpios e convenes internacionais.
Nessa linha, amoldando-se a ordem jurdica internacional contempornea, o Brasil
adotou a o princpio da Territorialidade Moderada (temperada ou mitigada), segundo o
qual no absoluta a regra de que a lei nacional tem aplicao dentro do territrio
delimitado pelas fronteiras do Estado brasileiro, sendo admitido que, em certas
circunstncias especiais, a lei estrangeira tenha eficcia dentro do nosso territrio, sem
que isso comprometa a soberania do pas.
o que se verifica na LICC, que adota, simultaneamente, a territorialidade nos arts.
8 e 9 e a extraterritorialidade nos arts. 7 e 10.
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
Portanto, um dos objetivos da LICC definir qual o direito material, se o
nacional ou o estrangeiro, ser excepcionalmente aplicado s relaes jurdicas
estabelecidas entre brasileiros e estrangeiros, no Brasil e no exterior.
b) Questes relativas ao comeo e fim da personalidade, o nome, a capacidade e aos
direito de famlia:
Regra: Utiliza-se o critrio do domiclio da pessoa, de modo que ser aplicada a lei
do pas de domiclio da pessoa (art. 7, caput);
OBS: a lei do pas do DOMICLIO do estrangeiro, e no do pas de sua
nacionalidade.
Exceo: Casamento realizado no Brasil Ser aplicada a lei brasileira quanto aos
impedimentos dirimentes e s formalidades de celebrao (pargrafo primeiro)
OBS: Os impedimentos dirimentes (art. 1.521 do CC) so aqueles cuja infrao tem
fora para romper o casamento; em regra, tornam o casamento nulo. Os impedimentos
proibitivos ou impedientes (art. 1.523 do CC) so os que causam embarao legal
realizao do casamento, todavia, uma vez efetivado o matrimnio, tais impedimentos
no o invalidam. Note-se que, quanto aos impedimentos proibitivos ou impedientes,
aplica-se a lei do domiclio da pessoa.
Exceo da Exceo: Casamento perante a autoridade diplomtica O casamento
de estrangeiros poder se realizar perante autoridades diplomticas, observando-se,
nesse caso, a lei do pas do celebrante e desde que os nubentes sejam co-nacionais.
OBS: O casamento perante a autoridade diplomtica somente se realizar entre conacionais. Observe-se que o critrio aqui o da nacionalidade da pessoa, e no o do
domiclio.
Invalidade do matrimnio: Ser regida pelo domiclio dos nubentes ou, quando
diversos, pela lei do primeiro domiclio do casal.
Regime de bens: Ser regida pelo domiclio dos nubentes ou, quando diversos, pela
lei do primeiro domiclio do casal.
Divrcio de brasileiro realizado no estrangeiro: Foi suplantada, pelo art. 226, 6,
da CF, a regra de homologao que exigia 3 anos da data da sentena estrangeira da
separao judicial.
OBS: STF - SEC n. 7782: Diante do disposto no 6 do art. 226 da CF, ficou
suplantada a regra do pargrafo sexto do art. 7 da LICC acerca da exigncia do
decurso do prazo de 3 anos para reconhecimento de divrcio realizado no exterior.
(Informativo n. 370).
OBS: STJ SEC n. 1.303-EX: No possvel realizar a homologao de sentena
estrangeira que anula o casamento realizado no Brasil (Informativo n. 341 do STJ).
b) Questes sobre direitos reais (bens mveis e imveis):
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
Regra: Aplica-se a lei do pas em que estiverem situados os bens.
Exceo I: Bens mveis trazidos com o proprietrio ou se destinarem a transporte
para outros lugares aplica-se a lei do domiclio do proprietrio.
Exceo II: O penhor regula-se pela lei do domiclio do possuidor da coisa
apenhada.
c) Questes sobre obrigaes:
Regra: Aplica a lei do local em que a obrigao foi constituda.
OBS: A obrigao resultante do contrato reputa-se constituda no lugar em que residir o
proponente.
Exceo: obrigao destinada a ser executada no Brasil Se depender de forma
especial, ser est observada conforme a lei brasileira.
d) Questes sobre sucesses:
Regra: A sucesso obedecer a lei do pas em que for domiciliado o de cujus.
Exceo I: (art. 5, XXXI, da CF) Ser regulada pela lei brasileira em benefcios do
cnjuge e dos filhos brasileiros, sempre que no lhe seja mais favorvel a lei
pessoal do de cujus.
Exceo II: Capacidade para suceder: regulada pela lei do domiclio do herdeiro
ou legatrio.
Prof. Rafael Alcntara
www.fortium.edu.br/blog/rafael_alcantara
Você também pode gostar
- !!!gestão Projeto Melhoria de ProcessosDocumento255 páginas!!!gestão Projeto Melhoria de ProcessosGilson MoscaAinda não há avaliações
- Manual Do Bitcoin PDFDocumento180 páginasManual Do Bitcoin PDFGustavo Magalhães75% (4)
- 00-Laudo de HabitabilidadeDocumento8 páginas00-Laudo de HabitabilidadeMAQSS TREINAMENTOS100% (2)
- A Arte de Decidir - A Virtude Da PRUDÊNCIADocumento10 páginasA Arte de Decidir - A Virtude Da PRUDÊNCIAGustavo S. C. MerisioAinda não há avaliações
- Tipos de ContaminaçãoDocumento2 páginasTipos de ContaminaçãoClaudia Martins100% (1)
- Descritores de FísicaDocumento3 páginasDescritores de FísicaJota Sousa100% (3)
- HortaDocumento14 páginasHortaNathgs0% (1)
- Planner SemanalDocumento3 páginasPlanner SemanalPedroM.F.Nakashima100% (1)
- Info 755 STJDocumento59 páginasInfo 755 STJPedroM.F.NakashimaAinda não há avaliações
- Concurso Aprovados Consultores 2012Documento6 páginasConcurso Aprovados Consultores 2012PedroM.F.NakashimaAinda não há avaliações
- Indice Brunno Lima Matematica Financeira Resolucao de Questoes FCCDocumento2 páginasIndice Brunno Lima Matematica Financeira Resolucao de Questoes FCCPedroM.F.NakashimaAinda não há avaliações
- SA - Téc Eletromecânica - Fundamentos Da Mecânica 02 - AlunoDocumento2 páginasSA - Téc Eletromecânica - Fundamentos Da Mecânica 02 - AlunoThiago Augusto0% (1)
- Enunciação e SemióticaDocumento208 páginasEnunciação e SemióticaJosé Ricardo CarvalhoAinda não há avaliações
- A Importância Da LeituraDocumento125 páginasA Importância Da LeituraFil Francisco PereiraAinda não há avaliações
- Princípio Da PreempçãoDocumento2 páginasPrincípio Da PreempçãoBeatriz SoaresAinda não há avaliações
- Matriz Constitucional FrancesaDocumento8 páginasMatriz Constitucional FrancesaLuiz Felipe DomingosAinda não há avaliações
- Alimentos Transgênicos X Alimentos OrgânicosDocumento4 páginasAlimentos Transgênicos X Alimentos OrgânicosEtevaldo LimaAinda não há avaliações
- Semana 17 - Português 8 - 9 - CdisDocumento11 páginasSemana 17 - Português 8 - 9 - CdisWesley VitorAinda não há avaliações
- Manual para Fazer Das Crianças Pobres ChurrascoDocumento45 páginasManual para Fazer Das Crianças Pobres ChurrascoDenis Dias F. NakazatoAinda não há avaliações
- Avaliação de Português Do 8º Ano 1º BimestreDocumento5 páginasAvaliação de Português Do 8º Ano 1º BimestreALDEMIR DUARTEAinda não há avaliações
- E Bookdeatividadesprticas SweepDocumento32 páginasE Bookdeatividadesprticas SweepEduardoeD1Ainda não há avaliações
- Matemática II: Prof. Gerson Lachtermacher, Ph.D. Prof. Rodrigo Leone, D.SCDocumento60 páginasMatemática II: Prof. Gerson Lachtermacher, Ph.D. Prof. Rodrigo Leone, D.SCFernando BozeAinda não há avaliações
- Ficha Do VladislavDocumento2 páginasFicha Do Vladislavpedro gabrielAinda não há avaliações
- Aula 01Documento9 páginasAula 01Izabela Luvizotto Dias de AbreuAinda não há avaliações
- Cap 1 2 3Documento36 páginasCap 1 2 3jose luizAinda não há avaliações
- As Regras de Nomenclatura BinomialDocumento28 páginasAs Regras de Nomenclatura BinomialRafaelabiologia0% (1)
- 1 Questão: Atividade - Semana de Conhecimentos Gerais - 2019BDocumento10 páginas1 Questão: Atividade - Semana de Conhecimentos Gerais - 2019BJaspion JaspionAinda não há avaliações
- Lista TermicaDocumento1 páginaLista TermicaEduardo MapaAinda não há avaliações
- Regimento Interno EbserhDocumento23 páginasRegimento Interno EbserhLF BorgesAinda não há avaliações
- S.I Nos NegociosDocumento20 páginasS.I Nos NegociosElidio MunliaAinda não há avaliações
- Evolução Dos Motores Termicos PDFDocumento116 páginasEvolução Dos Motores Termicos PDFVictor SehnemAinda não há avaliações
- Resumo Justiça o Que É A Coisa Certa A Fazer - Michael J. SandelDocumento7 páginasResumo Justiça o Que É A Coisa Certa A Fazer - Michael J. SandelHerisson PereiraAinda não há avaliações
- It #45-2022 Eventos TemporariosDocumento40 páginasIt #45-2022 Eventos TemporariosElvis FontesAinda não há avaliações
- Como A Igreja Catolica Construiu A Civiliz OcidentalDocumento15 páginasComo A Igreja Catolica Construiu A Civiliz OcidentalsohrorAinda não há avaliações