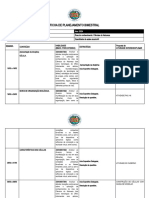Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Paradigmas
Paradigmas
Enviado por
Anonymous NV4WnozDuTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Paradigmas
Paradigmas
Enviado por
Anonymous NV4WnozDuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
P ARADIGMAS DA RELA O DA SOCIEDADE COM AS PESSO AS
COM DEFICINCIA 1
Maria Salete Fbio Aranha
UNESP-Marlia
A palavra incluso invadiu o discurso nacional recentemente,
passando a ser usada amplamente, em diferentes contextos e mesmo
com diferentes significados. Este fato, ao invs de favorecer a
compreenso sobre o processo a que a palavra se refere, tem feito
dela um simples modismo, uso muitas vezes superficial de um rtulo,
vazio de significao social.
Entretanto, no se pode ignorar o longo e importante processo
histrico
que
produziu,
configurado
numa
luta
constante
de
diferentes minorias, na busca de defesa e garantia de seus direitos
enquanto seres humanos e cidados. Ignorar tal processo implica na
perda de compreenso de seu sentido e significado.
Tendo
ento
por
objetivo
favorecer
compreenso
desse
processo e estimular a reflexo e a discusso social a seu respeito,
faz-se necessrio que se focalize o conjunto de mudanas de idias
que permeou sua histria.
A relao da sociedade com a parcela da populao constituda
pelas pessoas com deficincia tem se modificado no decorrer dos
tempos, tanto no que se refere aos pressupostos filosficos que a
determinam e permeiam, como no conjunto de prticas nas quais ela
se objetiva.
Ao se buscar dados sobre o tipo de tratamento dado s pessoas
com deficincia na Idade Antiga e na Idade Mdia, descobre-se que
muito pouco se sabe, na verdade.
A maior parte das informaes
provem de passagens encontradas na literatura grega e romana, na
Bblia, no Talmud e no Coro.
Encontra-se, por exemplo, uma
Ar t i go p u b lic a do na R e v is t a d o M in is tr i o P b l ic o d o T r a ba l h o, An o X I, n o. 21 ,
m ar o, 2 00 1, pp . 1 60- 17 3 .
recomendao feita por Mohammed, no quarto verso do quarto sura,
encorajando que se alimente e se abrigue aqueles desprovidos da
razo, tratando-os com amabilidade (Aranha, 1979).
Na Esparta, os imaturos, os fracos e os defeituosos eram
propositalmente eliminados. Consta que os romanos descartavam-se
de crianas deformadas e indesejadas...em esgotos localizados,
ironicamente, no lado externo do Templo da Piedade.
compreenso
sobre
tais
procedimentos
exige
que
A busca de
estes
sejam
olhados no contexto da organizao scio-poltica-econmica ento
vigente na sociedade.
As sociedades ocidentais, na Antigidade,
fundamentavam-se economicamente em atividades de agricultura,
pecuria e artesanato.
Estas, eram executadas pelo povo, massa
populacional que no detinha qualquer poder poltico, econmico e
social.
Apesar de responsveis pela produo e sobrevivncia da
sociedade, os homens do povo eram bens de posse e uso da
nobreza, a quem pertenciam, serviam e obedeciam e por quem eram
considerados sub-humanos.
agrupamentos sociais:
Assim, a sociedade contava com dois
a nobreza senhores que detinham o poder
social, poltico e econmico e os serviais, servos ou escravos,
considerados sub-humanos, dependentes economicamente.
Nesse
contexto, a vida humana s tinha algum valor enquanto valorada pela
nobreza, em funo da utilidade que tivesse para a realizao de
seus desejos e a satisfao de suas necessidades.
Multides de
pessoas
das
perdiam,
por
exemplo,
construes, como a das pirmides.
na
execuo
grandes
Estas vidas, no caso, valiam
menos que o projeto, fosse ele de motivao religiosa, poltica, social
ou gosto pessoal.
Da mesma forma, muitos outros tinham sua vida
obrigatoriamente envolvida em lutas de defesa ou de conquista, pela
nobreza. Assim observa-se, na Idade Antiga, a prtica de uma
organizao scio-poltica fundamentada no poder absoluto de uma
minoria numrica, associada absoluta excluso da maioria das
instncias decisrias e administrativas da vida em sociedade.
pessoa com deficincia, nesse contexto, como qualquer outra pessoa
do povo, tambm parecia no ter importncia enquanto ser humano,
j que sua exterminao (abandono ou exposio) no demostrava
ser problema tico ou moral.
Kanner (1964) relatou que a nica ocupao para os retardados
mentais encontrada na literatura antiga a de bobo ou de palhao,
para a diverso dos senhores e seus hspedes (p. 5).
Com o advento do cristianismo, a situao se modificou, pois
todos passaram a ser igualmente considerados filhos de Deus,
possuidores de uma alma e portanto merecedores do respeito vida
e a um tratamento caridoso.
A Bblia traz referncias ao cego, ao manco e ao leproso a
maioria dos quais sendo pedintes ou rejeitados pela comunidade,
seja pelo medo da doena, seja porque se pensava que Deus estava
punindo os doentes.
A sntese de tais informaes, entretanto, vai pouco alm do fato
de que a existncia das pessoas hoje chamadas com deficincia era
registrada e conhecida.
Ela nos diz que a abordagem ao diferente
variava de grupo a grupo. Alguns, matavam-nos; outros, advogavam
a convivncia amigvel;
outros ainda, puniam-nos por considerarem
a doena, a fraqueza e a deficincia resultantes de possesso
demonaca, sendo a punio a nica forma de se livrar do pecado, da
possesso e de se reparar os pecados.
Assim, observa-se que sua
desimportncia no contexto da organizao scio-poltico-econmica
associava-se ao conjunto de crenas religiosas e metafsicas, na
determinao do tipo de relao que a sociedade mantinha com o
diferente.
No
qualquer
evidncia
de
esforos
especficos
ou
organizados para se providenciar seu abrigo, proteo, tratamento
e/ou capacitao.
Na Idade Mdia, o sistema de produo continuou o mesmo da
Antigidade, fundamentado em atividades de pecuria, artesanato e
agricultura.
A grande diferena passou a residir no fato de que o
cristianismo veio provocar a formao de uma nova classe social,
constituda
pelos
membros
do
clero.
Estes,
guardies
do
conhecimento e dominadores das relaes sociais, foram assumindo
cada vez maior poder social, poltico e econmico, provenientes do
poder maior que detinham, de excomungar (vedando, assim, a
entrada aos cus) aqueles que, por razes mais ou menos honestas,
os desagradassem. Assim, conquistaram o domnio velado das aes
da nobreza, atravs da qual comandavam a sociedade.
Cabia ainda
ao povo (servos) o trabalho, seja na produo de bens e servios, na
constituio de exrcitos, como no enriquecimento do clero e da
nobreza, sem a prerrogativa de participao nos processos decisrios
e administrativos da sociedade.
Aparentemente, pessoas com deficincias fsicas e/ou mentais
eram ignoradas sua sorte, buscando a sobrevivncia na caridade
humana.
Devido a essa organizao da sociedade sucederam-se, nesse
perodo,
dois
humanidade:
Protestante.
importantes
a
processos,
Inquisio
Catlica
decisivos
e
na
histria
conseqente
da
Reforma
Manifestaes populares em toda a Europa, aliadas a
manifestaes dentro da prpria Igreja comearam a questionar o
abuso do poder e as inconsistncias entre credo e ao, desvelados
nas determinaes e aes do clero. Tal processo se ampliou de tal
forma, que passou a colocar em risco a hegemonia do poder da
Igreja.
Na
tentativa
de
se
proteger
de
tal
insatisfao
manifestaes, esta inicia, em nome de Deus, um dos perodos mais
negros da histria da humanidade:
o da caa e exterminao dos
que passou a chamar de hereges e endemoniados.
(Pessoti,
1984)
orientavam
como
tais
pessoas
Cartas papais
podiam
ser
identificadas, bem como determinavam como deviam ser tratadas. A
estes, se recomendava uma ardilosa inquisio, para obteno de
confisso de heresia, torturas, aoites, outras punies severas, at
a fogueira.
A indignao perante tal processo provocou a ciso dentro da
prpria Igreja.
Martinho Lutero liderando os membros do clero que
rejeitavam tal situao e pretendiam uma nova ordem, ento sob seu
controle e poder, iniciou uma nova igreja, caracterizada por atitudes
opostas: uma marcante rigidez tica, religiosa e moral, aliada mais
absoluta
intolerncia ao desvio, o qual era carregado com a noo
de culpa e de responsabilidade pessoal.
esperar
alguma
modificao
mais
Conquanto poder-se-ia
substancial
nas
relaes
da
sociedade com a deficincia, tal fato no se deu. Segundo o prprio
Lutero, o homem o prprio mal quando lhe falea a razo ou lhe
falte a graa celeste a iluminar-lhe o intelecto;
assim, dementes e
amentes so, em essncia, seres diablicos, considerando a pessoa
com
deficincia
condenados por Deus.
pessoa
doente
mental
seres
pecadores,
As aes consequentemente recomendadas
eram o castigo, atravs de aprisionamento e aoitamento, para
expulso do demnio. (Pessoti, 1984)
Na realidade, a partir da Reforma Protestante dois sistemas
poltico-religiosos passaram a coexistir e concorrer, dominando, por
muito tempo, o direcionamento da histria da humanidade (grandes
navegaes,
colonizaes).
descobrimentos,
repartio
de
reas
geogrficas,
Ambos concebiam a deficincia como fenmenos
metafsicos, de natureza negativa, ligados rejeio de Deus,
atravs do pecado, ou possesso demonaca.
No sculo XVI, a Revoluo Burguesa, revoluo de idias,
mudando o modo clerical de ver o homem e a sociedade, trouxe em
seu bojo a mudana no sistema de produo:
derrubada das
monarquias, queda da hegemonia religiosa e uma nova forma de
produo:
o capitalismo mercantil.
Iniciou-se a formao dos
Estados modernos, com uma nova diviso social do trabalho: donos
dos meios de produo e operrios. Surge a burguesia, nova classe
constituda
por
pequenos
empreendedores
que
comearam
enriquecer a partir da venda e comercializao de seu trabalho.
Nessa poca, existncia da viso abstrata, metafsica, do homem,
soma-se uma nova viso, a da concreticidade.
No que se refere deficincia, comearam a surgir novas idias
quanto organicidade de sua natureza, produto de infortnios
naturais, conforme Paracelso e Sir Anthony Fitz-Hebert.
Assim
concebida, passou a ser tratada atravs da alquimia, da magia e da
astrologia, mtodos da insipiente medicina.
O
primeiro
hospital
psiquitrico
surgiu
nessa
poca
se
proliferou, mas da mesma forma que os asilos e conventos, eram
lugares
para
confinar,
ao
invs
de
tratar
as
pessoas.
Tais
instituies eram pouco mais do que prises.
No
sculo
XVII,
organizao
scio-econmica
foi
se
encaminhando para o capitalismo comercial, fortalecendo o modo de
produo capitalista e consolidando a classe da burguesia no poder.
Passou-se a defender, no iderio da poca, a concepo de que os
indivduos no so essencialmente iguais e que se havia que
respeitar as diferenas.
Nisto se fundamentou a classe dominante
para legitimar a desigualdade social, a prtica da dominao do
capital e dos privilgios.
A educao, conquanto semelhante ao
padro de ensino tradicional at ento assumido exclusivamente pela
Igreja, passou tambm a ser oferecida pelo Estado, com objetivos
claros de preparo da mo de obra que se mostrava necessria no
ainda novo modo de produo.
Concomitantemente, novas idias foram sendo produzidas tanto
na rea da medicina, como na da filosofia e na da educao.
Continuou o fortalecimento da viso organicista, voltada para a busca
de identificao de causas ambientais para a deficincia. Locke, por
outro lado, defendendo que o homem uma tbula rasa a ser
preenchida
pela
experincia,
encaminhou
para
crena
na
educabilidade do deficiente mental, com nfase na necessidade e
importncia da ordenao sensorial.
A relao da sociedade com a pessoa com deficincia, a partir
desse
perodo
passou
se
diversificar,
caracterizando-se
por
iniciativas de Institucionalizao Total, de tratamento mdico e de
busca de estratgias de ensino.
Na Medicina, o sculo XVIII foi um perodo mais de assimilao e
de consolidao do conhecimento j produzido, do que de grandes
descobertas.
Lentos avanos no conhecimento da fisiologia, da bio-
qumica e da patologia foram obtidos e assim, sementes foram
plantadas para o desenvolvimento do campo da medicina preventiva.
A deficincia mental continuava sendo considerada hereditria e
incurvel e assim, a maioria das pessoas com deficincia mental
eram relegadas a hospcios, albergues, asilos ou cadeias locais.
Pessoas com deficincia fsica ou eram cuidadas pela famlia ou
colocadas em asilos (Rubin & Roessler, 1978, p. 7).
Dentre os primeiros passos dados, entretanto, na direo de
mudar as caractersticas da relao da sociedade com as pessoas
com deficincia, encontram-se os esforos de Jacob Rodrigues
Pereira, em 1747, na tentativa de ensinar surdos congnitos a se
comunicar. Tais tentativas foram to bem sucedidas que estimulou a
busca de formas para lidar com outras populaes, especialmente a
de pessoas com deficincia mental.
Em meados de 1800, Guggenbuhl abriu uma instituio para o
cuidado e tratamento residenciais de pessoas com deficincia
mental, em Abendberg, Sua.
Os resultados de seu trabalho
chamaram a ateno para a necessidade de uma reforma significativa
no sistema, ento vigente, da simples internao
em prises e
abrigos. Embora tenha deteriorado posteriormente, este foi o projeto
que deu origem idia e prtica do cuidado institucional para
pessoas com deficincia mental, inclusive no continente americano.
Da mesma forma que na Sua, entretanto, de instituies para
tratamento e educao, elas logo mudaram para instituies asilares
e de custdia, ambientes segregados, denominados Instituies
Totais,
constituindo
primeiro
paradigma
formal
caracterizao da relao sociedade deficincia:
adotado
na
o Paradigma da
Institucionalizao.
Este caracterizou-se, desde o incio, pela retirada das pessoas
com deficincia de suas comunidades de origem e pela manuteno
delas em instituies residenciais segregadas ou escolas especiais,
freqentemente situadas em localidades distantes de suas famlias.
Assim,
pessoas
freqentemente
com
ficavam
retardo
mental
mantidas
em
ou
outras
isolamento
deficincias,
do
resto
da
sociedade, fosse a ttulo de proteo, de tratamento, ou de processo
educacional.
Apesar de existirem desde o sculo XVI, as instituies totais
no foram criticamente examinadas at o incio da dcada de 60,
quando Erving Goffman publicou Asylums (tendo por ttulo em
portugus Manicmios, Prises e Conventos), que se tornou uma
anlise clssica das caractersticas da instituio e de seus efeitos
no indivduo. Sua definio de Instituio Total amplamente aceita
at hoje - um lugar de residncia e de trabalho, onde um grande
nmero de pessoas, excludos da sociedade mais ampla por um longo
perodo de tempo, levam juntos uma vida enclausurada e formalmente
administrada (Goffman, 1962, XIII).
O referido autor argumentou que estar institucionalizado uma
experincia que afasta significativamente o indivduo da sociedade,
bem como o liga vida institucional, constituindo um estilo de vida
difcil de ser revertido.
Desde a manifestao de Goffman, em 1962, muitos autores
passaram a publicar estudos que enfocavam tanto as caractersticas
de
uma
Instituio
Total,
como
seus
efeitos
no
indivduo
institucionalizado. A maioria dos artigos apresentam uma dura crtica
a esse sistema, no que se refere a sua inadequao e ineficincia
para realizar aquilo a que seu discurso se prope fazer: favorecer a
recuperao das pessoas para a vida em sociedade.
Vail (1966), enfatizou, por exemplo, no contexto institucional, a
prtica de demandas irrealistas, na maioria das vezes inconsistentes
com as caractersticas e exigncias do mundo externo. Tal contexto
torna a pessoa incapaz de enfrentar e administrar o viver em
sociedade quando e se jamais sair da Instituio.
Discutiu os
procedimentos institucionais tais como o de admisso, sistemas de
recompensa
de
punio,
uniformidade
de
massa
impersonalidade automatizada da interao entre os provedores de
servios e seus usurios.
Pauline Morris (1969), em relatrio de
estudo desenvolvido na Inglaterra, com o objetivo de identificar a
amplitude e a qualidade do atendimento institucional disponvel para
os deficientes mentais naquele pas, reconheceu que embora se
detectassem mudanas na filosofia do tratamento, os resultados das
pesquisas indicavam claramente que estas no eram acompanhadas
por mudanas correspondentes, nos servios disponveis para esses
pacientes (p. 309). Os resultados obtidos indicavam a existncia de
condies decadentes dos prdios, o uso de roupas comunitrias, a
falta de incentivo e mesmo de permisso para a manuteno de
objetos
pessoais,
dados
limitados
no
fidedignos
sobre
os
pacientes, muito pouca estimulao e treinamento, o que leva a
pessoa a uma dependncia infantil, o tratamento em massa, a falta
de pessoal especializado, o isolamento da comunidade e a prtica da
criao de regras e regulamentaes vindas de cima para baixo
feitas por pessoas que no se encontravam cientes das reais
necessidades dos pacientes.
Alm
de
estudos
mais
antigos
indicarem
conseqncias
negativas da Institucionalizao (Skeels & Dye, 1939;
Kirk, 1958),
Heber (1964) descreveu distrbios de personalidade (processo de
construo de doena mental) tambm encontrados por Rosen, Floor
e
Baxter
(1972)
em
indivduos
com
deficincia
mental
institucionalizados. Dentre os distrbios descritos observou-se baixa
auto-estima,
ausncia
de
motivao
para
vida,
desamparo
aprendido e distrbios sexuais.
Valerie
J.
Bradley,
em
1978,
apresentava
desinstitucionalizao como um movimento que havia se iniciado, na
realidade,
muito
tempo,
tendo
envolvido
passos
etapas
diferentes, os quais se congregaram em seu encaminhamento:
1. A melhoria do sistema de recursos e servios da comunidade
2. A exigncia dos consumidores pelo acesso a esses recursos e
servios
3. O incio do uso de antibiticos, que reduziu o ndice de
mortalidade nas instituies
4. A resultante sobrecarga de pessoas institucionalizadas exigia
que ou se construssem novas instituies, ou se criassem
novas alternativas comunitrias
V-se, portanto, que o questionamento e a presso contrria
institucionalizao vinha, naquela poca, de diferentes direes,
determinados tambm por interesses diversos; primeiramente, tinhase o interesse do sistema, ao qual custava cada vez mais manter a
populao institucionalizada na improdutividade e na condio de
segregao; assim, interessava para o sistema poltico-econmico o
discurso da autonomia e da produtividade; tinha-se, por outro lado, o
processo geral de reflexo e de crtica (sobre direitos humanos e
mais especificamente sobre o direito das minorias, sobre a liberdade
10
sexual, os sistemas de organizao poltico-econmica e seus efeitos
na construo das sociedades e da subjetividade humana), que no
momento permeava a vida nas sociedades ocidentais; somando-se a
estes, tinha-se ainda a crescente manifestao de duras crticas, por
parte
da
academia
cientfica
de
diferentes
categorias
profissionais, ao paradigma da Institucionalizao.
Tais processos, embora diversos quanto a sua natureza e
motivao vieram a convergir, determinando, em seu conjunto, a
reformulao de idias e a busca de novas prticas no trato da
deficincia.
A dcada de 60 tornou-se, assim, marcante na promoo de
mudanas no padro de relao das sociedades com a pessoa com
deficincia.
Considerando
que
paradigma
tradicional
de
institucionalizao tinha demonstrado seu fracasso na busca de
restaurao de funcionamento normal do indivduo no contexto das
relaes interpessoais, na sua integrao na sociedade e na sua
produtividade no trabalho e no estudo, iniciou-se no mundo ocidental
o movimento pela desinstitucionalizao, baseado na ideologia da
normalizao, como uma nova tentativa para integrar a pessoa com
deficincia na sociedade.
A palavra desinstitucionalizao tem um prefixo que per se
sugere o afastamento de uma instituio.
Os primeiros usos da
palavra descreviam os esforos para tirar as pessoas de instituies,
colocando-as num sistema, o mais prximo possvel, do que fosse o
estilo de vida normal numa comunidade.
Segundo
conceitualizao
de
Braddock,
proposta
em
1977,
normalizao uma ideologia um conjunto de idias que reflete as
necessidades e aspiraes sociais de indivduos extraordinrios na
sociedade (p.4).
Ela presumia a existncia de uma condio
normal, representada pelo maior percentual de pessoas na curva da
11
normalidade e uma condio de desvio, representada por pequenos
percentuais de pessoas, na mesma curva.
Assim, segundo a autora, o local tpico de residncia o lar
privado do indivduo;
o modelo educacional normal (tpico) a
educao convencional, numa sala de aula comum;
de emprego o competitivo, para o auto-sustento.
o modelo tpico
Em contraste
marcante com tais arranjos na extremidade anormal do continuum
de servios tm se congregado as instituies totais, o ensino
segregado e a no participao no mercado de trabalho (p. 5).
Em funo do incmodo representado pela institucionalizao
em diferentes setores da sociedade e luz das concepes de
desvio
de
normalidade
que
foi
se
configurando,
gradativamente, um novo paradigma de relao entre a sociedade e a
parcela da populao representada pelas pessoas com deficincia: o
Paradigma de Servios.
Este teve, desde seu incio, o objetivo de ajudar pessoas com
deficincia a obter uma existncia to prxima ao normal possvel, a
elas disponibilizando padres e condies de vida cotidiana prxima
s normas e padres da sociedade. (American National Association
of Rehabilitation Counseling - A.N.A.R.C., 1973).
interessante observar manifestaes que acompanharam o
movimento de construo e implementao do novo paradigma, nas
palavras de autores da poca, em pases em que tal processo estava
ocorrendo.
apontaram
Nos Estados Unidos, por exemplo, Jones et al (1975)
dois
problemas
prinicpais
provocados
pela
desinstitucionalizao em massa:
1.
sabemos muito pouco sobre o que acontece com pessoas
com deficincia mental, quando estas so tratadas como
normais (p. 190)
2.
o processo de normalizao se torna mais tenso quando
concentra pacientes que no se encaixam na poltica da
12
desinstitucionalizao; quando concentra profissionais cujas
atitudes faz deles pessoas incapazes de administr-la e
finalmente e quando impe a ambos expectativas que so
manifestamente irrealistas (p. 190).
Valerie
J.
resultantes
Bradley
da
(1978)
tambm
implementao
tratou
de
de
um
problemas
programa
de
desinstitucionalizao mal planejado:
1.
insegurana dos pais pais que vm seus filhos sendo
retirados de uma instituio e encaminhados para servios
na comunidade, os quais, por diferentes razes no so
capazes de oferecer um cuidado global e estvel
2.
sistema de financiamento a falta de uma abordagem
sistemtica ao desenvolvimento e expanso de recursos
obriga entidades a se apoiar em uma variedade de fontes de
financiamento, as quais freqentemente impem exigncias
e expectativas conflitantes
3.
prestadores
instituies,
de
servio
temendo
irritados
perder
seus
funcionrios
empregos
de
devido
ao
movimento da desinstitucionalizao, formaram um ncleo
de oposio a essas atividades
4.
baixa confiabilidade o esforo de descentralizar o sistema,
atravs da transferncia das pessoas das instituies para
servios
da
comunidade,
tem
provocado
lacunas
competncia com que tais pessoas so cuidadas.
na
Novos
mecanismos tm se mostrado necessrios aps a pessoa j
estar na comunidade
5.
o papel do setor privado a competio e outros conflitos
entre
provedores
privados
de
dividiram
desenvolvimento
de
servios
os
nos
esforos
recursos
setores
e
para
tm
as
pblicos
obstrudo
pessoas
com
deficincia
13
Muitas manifestaes surgiram do mundo acadmico, do espao
profissional e da comunidade leiga que vivenciava as conseqncias
do
processo.
Por
desenvolvendo
fora
uma
de
nova
tais
reflexes
concepo
de
crticas,
foi-se
institucionalizao.
Considerando a tendncia da sociedade de se afastar do modelo
anterior e a necessidade de se planejar um sistema de recursos e
servios
na
comunidade,
Braddock
(1977)
Bradley
(1978)
defendiam que:
1.
era necessrio prevenir encaminhamentos inadequados a
instituies totais
2.
a preveno devia ser acompanhada pela descoberta e
desenvolvimento de mtodos alternativos para o cuidado e
o tratamento da pessoa com deficincia na comunidade
3.
era
necessrio
promover-se
reforma
de
programas
institucionais
4.
o retorno de todos os residentes comunidade devia ser
antecedido
por
desenvolvimento
um
de
preparo,
programas
feito
de
atravs
habilitao
do
e
de
treinamento para que pudessem funcionar adequadamente
na vida em comunidade
5.
se estabelecesse e mantivesse um ambiente residencial
responsivo que protegesse os direitos humanos e civis da
pessoa com deficincia e que contribusse com o rpido
retorno da pessoa vida normal na comunidade
Em suma, a literatura da poca, nos pases do mundo ocidental
que primeiro vivenciaram o processo da desinstitucionalizao, indica
que interesses de diferente origem e natureza se congregaram na
determinao da construo do processo.
Poder-se-ia dizer que a
luta pela defesa dos direitos humanos e civis das pessoas com
deficincia utilizou-se das brechas criadas pelas contradies do
sistema
scio-poltico-econmico
vigente
(o
qual
defendia
14
diminuio
das
responsabilidades
sociais do
Estado e buscava
diminuir o nus populacional) para avanar na direo de sua
integrao na sociedade.
Tal
processo,
fundamentou-se,
ento,
na
ideologia
da
normalizao, que representava a necessidade de introduzir a
pessoa com deficincia na sociedade, ajudando-a a adquirir as
condies e os padres da vida cotidiana o mais prximo do
O princpio da normalizao, portanto,
normal, quanto possvel.
deu
apoio
filosfico
ao
movimento
da
desinstitucionalizao,
favorecendo tanto o afastamento da pessoa das instituies, como a
proviso
de
programas
servios
que
se
comunitrios
mostrassem
planejados
necessrios
para
para
atender
oferecer
a
suas
necessidades.
Como principais resultantes do movimento comearam a surgir
novas alternativas institucionais, ento denominadas organizaes ou
entidades de transio mais protegidas do que a sociedade externa,
conquanto menos protegida e menos determinante de dependncia
que uma instituio total tpica.
Tais entidades foram planejadas e delineadas para promover a
responsabilidade e enfatizar um grau significativo de auto-suficincia
da pessoa com deficincia, atravs do trabalho ou do preparo para o
trabalho, envolvendo treinamento e educao especiais, bem como
um processo de colocao cuidadosamente supervisionado.
O ambiente social planejado, que em muitos casos se constitua
de experincias de pequenos grupos especiais, era visto como
instrumento
fundamental
para
promoo
da
normalizao
do
indivduo.
Ao se afastar do paradigma da institucionalizao (no mais
interessava sustentar uma massa cada vez maior de pessoas, com
nus pblico, em ambientes segregados;
interessava desenvolver
meios para que estes pudessem retornar ao sistema produtivo), criou-
15
se
conceito
da
fundamentado
integrao,
na
ideologia
da
normalizao, a qual advogava o direito e a necessidade das
pessoas com deficincia serem trabalhadas para se encaminhar o
mais
proximamente
representada
pela
possvel
para
normalidade
os
nveis
estatstica
da
normalidade,
funcional.
Assim,
integrar, significava, sim, localizar no sujeito o alvo da mudana,
embora
para
tanto
comunidade.
se
tomasse
como
necessrio
mudanas
na
Estas, na realidade, no tinham o sentido de se
reorganizar para favorecer e garantir o acesso do diferente a tudo o
que
se
encontra
disponvel
cidados, mas sim
na
comunidade
para
os
diferentes
o de lhes garantir servios e recursos que
pudessem modific-los para que estes pudessem se aproximar do
normal o mais possvel.
Como exemplos das organizaes provenientes dessa filosofia
tem-se, por um lado, as Casas de Passagem e os Centros de Vida
Independente;
no mbito da educao, as escolas especiais e as
classes especiais, mais claramente voltadas para o ensino do aluno
visando sua ida ou seu retorno para as salas de aula denominada
normais; na rea profissional, os melhores exemplos so as oficinas
abrigadas e os centros de reabilitao.
Nestas, equipes de diferentes profissionais oferecem treinamento
para a vida na comunidade, tais como atividades da vida diria
(higiene, cuidados pessoais), atividades de vida prtica (preparo de
alimentos,
administrao
limpeza
domstica,
oramentria)
planejamento
outras
habilidades
oramentrio,
consideradas
necessrias para sua sobrevivncia e para a vida independente.
O
modelo de ateno adotado passou a se constituir de trs
etapas: a primeira, de avaliao, onde uma equipe de profissionais
identifica o que, em sua opinio, necessita ser modificado no sujeito
ou em sua vida, de forma a torn-lo o mais normal possvel. A fase
seguinte, conseqncia desta e a ela conseqente, chamada de
16
interveno
(ensino,
treinamento,
capacitao,
etc..),
onde
profissionais passam a oferecer atendimento formal e sistematizado
ao sujeito em
questo, norteados
tomados na fase anterior.
pelos resultados
e decises
medida que os objetivos vo sendo
alcanados e a equipe considera que a pessoa se encontra pronta
para a vida independente na comunidade, efetiva-se a ltima fase,
constituda do encaminhamento ou re-encaminhamento desta para a
vida na comunidade.
Constata-se, assim, que embora se tenha passado a assumir a
importncia do envolvimento maior e mais prximo da comunidade no
trato da integrao de seus membros com deficincia, o objeto
principal da mudana centrava-se, ainda, essencialmente, no
prprio sujeito.
O paradigma da Institucionalizao se manteve sem contestao
por vrios sculos. O paradigma de servios, entretanto, iniciado por
volta da dcada de 60, logo comeou a enfrentar crticas, desta vez
provenientes da academia cientfica e das prprias pessoas com
deficincia,
organizadas
em
associaes
outros
rgos
de
encontradas
no
representao.
Parte
delas
provenientes
das
dificuldades
processo de busca de normalizao da pessoa com deficincia.
Conquanto muitos alcanavam os objetivos de vida independente e
produtiva, quando submetidos prestao de servios formalmente
organizada na comunidade, muitos ainda mostraram que dificilmente
se pode esperar que alcance uma aparncia e um funcionamento
semelhante aos no deficientes, devido s prprias caractersticas do
tipo de deficincia e seu grau de comprometimento.
Outra crtica importante referia-se expectativa de que a pessoa
com deficincia se assemelhasse ao no deficiente, como se fosse
possvel ao homem o ser igual e como se ser diferente fosse razo
para decretar a menor valia enquanto ser humano e ser social.
17
Inmeros autores foram em busca de compreenso sobre as
razes que determinam a desqualificao da pessoa com deficincia.
Dentre estas, tem-se a reflexo etolgica, apontando que muitas
espcies
excluem
aqueles
que
representam
menor
valor
de
sobrevivncia para a espcie (lmures, elefantes).
Tem-se ainda leitura da deficincia como uma condio social
que embora aparentemente iniciada na considerao da diferena,
construda socialmente, a partir da reao de desvalorizao, por
parte da audincia social (Omote, 1995)
Aranha (1995) prope ser a deficincia uma condio social
caracterizada pela limitao ou impedimento da participao da
pessoa diferente nas diferentes instncias do debate de idias e de
tomada de decises na sociedade.
A autora atribui o processo de
desqualificao ao fato da pessoa com deficincia ser considerada,
no sistema capitalista, um peso sociedade, quando no produz e
no contribui com o aumento do capital.
Em funo de tal debate, a idia da normalizao comeou a
perder fora.
deficincia
Ampliou-se a discusso sobre o fato da pessoa com
ser um cidado como
qualquer outro,
detentor dos
mesmos direitos de determinao e usofruto das oportunidades
disponveis na sociedade, independente do tipo de deficincia e de
seu grau de comprometimento.
De modo geral, passou-se a discutir que as pessoas com
deficincia
necessitam,
sim,
de
servios
de
avaliao
capacitao, oferecidos no contexto de suas comunidades.
de
Mas
tambm se comeou a defender que estas no so as nicas
providncias necessrias, caso a sociedade deseje manter com essa
parcela
de
seus
constituintes
uma
relao
de
respeito,
de
honestidade e de justia. Cabe tambm sociedade se reorganizar
de forma a garantir o acesso de todos os cidados (inclusive os
18
que tm uma deficincia) a tudo o que a constitui e caracteriza,
independente de quo prximos estejam do nvel de normalidade.
Assim, cabe sociedade oferecer os servios que os cidados
com
deficincia
necessitarem
(nas
educacional, social, profissional).
reas
fsica,
psicolgica,
Mas lhe cabe, tambm, garantir-
lhes o acesso a tudo de que dispe, independente do tipo de
deficincia e grau de comprometimento apresentado pelo cidado.
Foi fundamentado nestas idias que surgiu o terceiro paradigma,
denominado Paradigma de Suporte. Este tem se caracterizado pelo
pressuposto
de
que
pessoa
com
deficincia
tem
direito
convivncia no segregada e ao acesso aos recursos disponveis aos
demais cidados.
Para tanto, fez-se necessrio identificar o que
poderia garantir tais prerrogativas. Foi nesta busca que se buscou a
disponibilizao de suportes, instrumentos que viabilizam a garantia
de que a pessoa com deficincia possa acessar todo e qualquer
recurso da comunidade.
Os suportes podem ser de diferentes tipos
(suporte social, econmico, fsico, instrumental) e tm como funo
favorecer o que se passou a denominar incluso social, processo de
ajuste mtuo, onde cabe pessoa com deficincia manifestar-se com
relao
seus
desejos
necessidades
sociedade,
implementao dos ajustes e providncias necessrias que a ela
possibilitem o acesso e a convivncia no espao comum, no
segregado.
A incluso parte do mesmo pressuposto da integrao, que o
direito da pessoa com deficincia ter igualdade de acesso ao espao
comum da vida em sociedade. Diferem, entretanto, no sentido de que
o
paradigma
de
servios,
onde
se
contextualiza
idia
da
integrao, pressupe o investimento principal na promoo de
mudanas
do
indivduo,
na
direo
de
sua
normalizao.
Obviamente que no paradigma de servios tambm se atua junto a
diferentes instncias da sociedade (famlia, escola, comunidade).
19
Entretanto, isto se d na maioria das vezes em complementao ao
processo de interveno no sujeito.
A ao de interveno junto
comunidade tem mais a conotao de construir a aceitao e a
participao externa como auxiliares de um processo de busca de
normalizao do sujeito.
J o paradigma de suportes, onde se
contextualiza a idia da incluso, prev intervenes decisivas e
incisivas, em ambos os lados da equao:
no processo de
desenvolvimento do sujeito e no processo de reajuste da realidade
social.
Conquanto, ento, preveja o trabalho direto com o sujeito,
adota como objetivo primordial e de curto prazo, a interveno junto
s diferentes instncias que contextualizam a vida desse sujeito na
comunidade, no sentido de nelas promover os ajustes (f sicos,
materiais,
humanos,
necessrios
para
sociais,
que
legais,
pessoa
etc..)
com
que
se
mostrem
deficincia
possa
imediatamente adquirir condies de acesso ao espao comum
da vida na sociedade.
Embora
insuficiente
se
possa
compreenso
encontrar
do
muitos
conceito,
equvocos
devidos
contextualizado
em
seu
processo histrico de construo, a grande diferena de significao
entre os termos integrao e incluso reside no fato de que
enquanto que no primeiro se procura investir no aprontamento do
sujeito para a vida na comunidade, no outro, alm de se investir no
processo
de
desenvolvimento
do
indivduo,
busca-se
criao
imediata de condies que garantam o acesso e a participao da
pessoa na vida comunitria, atravs da proviso de suportes
fsicos, psicolgicos, sociais e instrumentais.
A incluso social, portanto, no processo que diga respeito
somente pessoa com deficincia, mas sim a todos os cidados.
No haver incluso da pessoa com deficincia enquanto a sociedade
no for inclusiva, ou seja, realmente democrtica, onde todos possam
igualmente se manifestar nas diferentes instncias de debate e de
20
tomada de decises da sociedade, tendo disponvel o suporte que for
necessrio para viabilizar essa participao.
Assim, que as pessoas com deficincia freqentem os servios
que necessitem para seu melhor tratamento e desenvolvimento. Mas
que a sociedade tambm se reorganize de forma a garantir o acesso
imediato da pessoa, atravs da proviso das adaptaes que se
mostrem necessrias.
No adianta prover igualdade de oportunidades, se a sociedade
no
garantir
oportunidades.
imediato.
acesso
da
pessoa
com
deficincia
essas
Muitos so os suportes necessrios e possveis de
Outros, demandam maior planejamento a mdio e longo
prazos.
Todos, entretanto, devem ser disponibilizados, caso se
pretenda alcanar uma sociedade justa e democrtica.
No
modelos
prontos,
nem
receitas
em
manuais.
sociedade brasileira ainda precisa tornar sua prtica consistente com
seu discurso legal.
H que buscar solues para a convivncia na
diversidade que a caracteriza, enriquece, d sentido e significado.
H que efetivamente favorecer a convivncia e a familiaridade com as
pessoas com deficincia, derrubando as barreiras fsicas, sociais,
psicolgicas e instrumentais que as impede de circular no espao
comum.
O Brasil mantm ainda, no panorama de suas relaes com a
parcela da populao representada pelas pessoas com deficincia,
resqucios do paradigma da institucionalizao total e uma maior
concentrao do paradigma de servios.
Em qualquer rea da
ateno pblica (educao, sade, esporte, turismo, lazer, cultura) os
programas, projetos e atividades so planejados para pessoas no
deficientes.
Quando abertos para o deficiente so, em geral,
desnecessariamente segregados e/ou segregatrios, deixando para a
pessoa com deficincia ou sua famlia quase que a exclusividade da
responsabilidade sobre o alcance do acesso.
21
Embora encontre-se na literatura brasileira divergncia entre os
autores sobre as concepes de integrao e de incluso, constatase, a partir da reviso aqui feita, que o pas continua centrando na
pessoa com deficincia os motivos e razes para sua segregao e
excluso.
Busca-se aqui, sim, a integrao, atravs da oferta de
servios, na comunidade, que objetivam melhorar o nvel da pessoa
com
deficincia.
Muito
distante
se
est,
entretanto,
da
implementao das adaptaes, disponibilizao dos suportes e
planejamento de aes que garantam o acesso imediato de todas as
pessoas aos recursos e instncias da vida em comunidade, tenham
elas deficincia ou no, no nvel e grau que for.
A incluso social da criana especial no Brasil, portanto, um
projeto a ser construdo por todos: famlia, diferentes setores da vida
pblica e populao leiga. Necessita planejamento, experimentao,
de forma a se identificar o que precisa ser feito em cada comunidade,
para garantir o acesso das pessoas com deficincia do local e de
outras comunidades aos recursos e servios nela disponveis.
se instala por decreto, nem de um dia para o outro.
No
Mas h que se
envolver efetiva e coletivamente, caso se pretenda um pas mais
humano, justo e compromissado com seu prprio futuro e bem-estar.
A democratizao da sociedade brasileira passa pela construo
de efetivo respeito a essa parcela da populao, que a duras
custas procura conquistar um espao ao qual, por lei, tem
direito.
22
REFERNCI AS BIBLIOGRFICAS
Aranha, M.S.F. (1980).
in
the
United
Overview of the Rehabilitation Movement
States
and
proposals
for
na
extended
rehabilitation model in Brazil. Carbondale, Il.: Southern Illinois
University, Dissertao de Mestrado.
Aranha, M.S.F. (1995).
Integrao Social do Deficiente:
Anlise
Conceitual e Metodolgica. Temas em Psicologia, n 2, pp. 6370.
Braddock,
D.
(1977).
Opening
closed
doors
deinstitutionalization of disabled individual.
the
Virginia:
The
Council for Exceptional Children.
Bradley, V.J. (1978).
disabled
Deinstitutionalization of developmentall y
persons
conceptual
anal ysis
and
guide.
Baltimore, Maryland: University Park Press.
Goffman, E. (1962).
As ylums.
Chicago, Illinois:
Aldine Publishing
Company.
Jones, K. et al (1975). Opening the door a study of new policies
for the mentall y handicapped.
London, England:
Routledge
and Kegan Paul, Ltd.
Kanner, L. (1964). A Histor y of the care and study of the mentally
retarded. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas Publisher.
Morris, P. (1969).
Put Aw ay.
London, England:
Routledge and
Kegan Paul Ltd.
Omote, S. (1995). A Integrao do Deficiente: um pseudo-problema
cientfico. Temas em Psicologia, n 2, pp. 55-62.
Pessotti, I. (19....) Deficincia Mental:
da Superstio Cincia.
So Paulo: T.A. Queiroz, Editor, Ltda.
23
Rubin
&
Roessler
(1978).
rehabilitation process.
Foundations
of
Baltimore, Maryland:
the
vocational
University Park
Press.
Vail (1966). Dehumanization and the Institutional Career.
24
Você também pode gostar
- Série Invencíveis Revisada-1Documento44 páginasSérie Invencíveis Revisada-1Alexandre Tibúrcio Dos Santos50% (2)
- Psicologia Do Bolsonarismo - Por Que Tantas Pessoas Se Curvam Ao MitoDocumento90 páginasPsicologia Do Bolsonarismo - Por Que Tantas Pessoas Se Curvam Ao MitoRafaela Salgueiro100% (1)
- Morris Cerullo - Um Espírito Demoníaco - Medo PDFDocumento59 páginasMorris Cerullo - Um Espírito Demoníaco - Medo PDFWilliam Gonçalves60% (5)
- Protagonismo - Juvenil O Q É e Como Praticá-LoDocumento11 páginasProtagonismo - Juvenil O Q É e Como Praticá-LobheringaragaoAinda não há avaliações
- Introdução A Filosofia-O Que SomosDocumento10 páginasIntrodução A Filosofia-O Que SomosdecastrocostalauraAinda não há avaliações
- Cad Ped Com Plano de Curso - Aprofundamento MATDocumento57 páginasCad Ped Com Plano de Curso - Aprofundamento MATleila cristiane de limaAinda não há avaliações
- Oração: Teresa de ÁvilaDocumento23 páginasOração: Teresa de ÁvilaVieirasantoswilliamAinda não há avaliações
- Sciam - Especial EvoluçãoDocumento63 páginasSciam - Especial Evoluçãolisepd5748Ainda não há avaliações
- E-Book Mesa Real NumerologicaDocumento5 páginasE-Book Mesa Real NumerologicaIzabel CostaAinda não há avaliações
- Clínica em Trânsito: Acompanhamentos Terapêuticos: Equipe de Acompanhantes Terapêuticos Do Instituto A CASA 2018Documento211 páginasClínica em Trânsito: Acompanhamentos Terapêuticos: Equipe de Acompanhantes Terapêuticos Do Instituto A CASA 2018Cristiana GerabAinda não há avaliações
- Permanência Escolar e A Trajetória de Jovens de Escola Pública Do Rio de JaneiroDocumento18 páginasPermanência Escolar e A Trajetória de Jovens de Escola Pública Do Rio de JaneiroBrunaFariaSimõesAinda não há avaliações
- 3 Série - Biologia AgostoDocumento7 páginas3 Série - Biologia AgostoSabrina Oliveira Calazans BragançaAinda não há avaliações
- Revista Jubileu 27 Anos CrisopazioDocumento28 páginasRevista Jubileu 27 Anos CrisopaziolhvillaAinda não há avaliações
- S05 - Mauss, M. - 2003 - "Uma Categoria Do Espirito Humano A Noção de Pessoa, A Noção Do 'Eu'", in - Sociologia e AntropologiaDocumento17 páginasS05 - Mauss, M. - 2003 - "Uma Categoria Do Espirito Humano A Noção de Pessoa, A Noção Do 'Eu'", in - Sociologia e Antropologiamonkee087Ainda não há avaliações
- Tres Maneiras de Tornar Sua Familia Mais Feliz - 36562Documento28 páginasTres Maneiras de Tornar Sua Familia Mais Feliz - 36562Nitoelili100% (1)
- A FelicidadeDocumento23 páginasA FelicidadeGustavoLuisAinda não há avaliações
- FLUIRDocumento25 páginasFLUIRruslanqAinda não há avaliações
- 1 IntroduçãoDocumento21 páginas1 IntroduçãoManjolo Janfar WilsonAinda não há avaliações
- 29 - Wing Makers - Projeto Camelot Entrevista JamesDocumento67 páginas29 - Wing Makers - Projeto Camelot Entrevista JamesPaulo SchwirkowskiAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre Psicologia Comunitária Nas Práticas Da Saúde - Adrielly Soares XimenesDocumento44 páginasReflexões Sobre Psicologia Comunitária Nas Práticas Da Saúde - Adrielly Soares XimenesAdrielly SoaresAinda não há avaliações
- Agricultura e SustentabilidadeDocumento152 páginasAgricultura e SustentabilidademasldeAinda não há avaliações
- Casei Com Um MisticoDocumento177 páginasCasei Com Um MisticojoelderAinda não há avaliações
- Deficiência, Discurso de Piedade e "Tragédia Pessoal" Na Televisão BrasileiraDocumento15 páginasDeficiência, Discurso de Piedade e "Tragédia Pessoal" Na Televisão BrasileiraLayla ShastaAinda não há avaliações
- Atividade Consciencia Personalidade Leontiev 43 87Documento45 páginasAtividade Consciencia Personalidade Leontiev 43 87GRIGORIO DUARTE NETOAinda não há avaliações
- PDF Aula 1 CgpiDocumento30 páginasPDF Aula 1 CgpiryaneAinda não há avaliações
- Decreto para Atrair Clientes Com ProsperidadeDocumento3 páginasDecreto para Atrair Clientes Com ProsperidadeLuz Quântica do AmorAinda não há avaliações
- Livro ESPAÇO GEOGRAFICO ISNARD PDFDocumento129 páginasLivro ESPAÇO GEOGRAFICO ISNARD PDFalberto100% (1)
- FICHA DE PLANEJAMENTO - 2024 - BIOLOGIA - 1º Ano - 1ºBMDocumento6 páginasFICHA DE PLANEJAMENTO - 2024 - BIOLOGIA - 1º Ano - 1ºBMensgdasgracasAinda não há avaliações
- O Zen É A Maior Mentira de Todos Os TemposDocumento15 páginasO Zen É A Maior Mentira de Todos Os TemposGABRIEL VICENTE DA CRUZAinda não há avaliações
- Frases de Augusto CuryDocumento8 páginasFrases de Augusto CuryNarciso DalaAinda não há avaliações