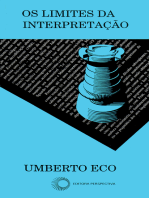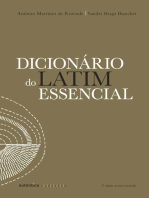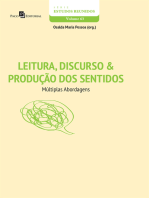Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Diana Luz Pessoa de Barros - Teoria Semiotica Do Texto (Rev) PDF
Diana Luz Pessoa de Barros - Teoria Semiotica Do Texto (Rev) PDF
Enviado por
Júlio César CovreTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Diana Luz Pessoa de Barros - Teoria Semiotica Do Texto (Rev) PDF
Diana Luz Pessoa de Barros - Teoria Semiotica Do Texto (Rev) PDF
Enviado por
Júlio César CovreDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Srie Fundamentos 72
Diana Luz Pessoa de Barros
Professora do Departamento de Letras Clssicas e Vernculas da FFLCH da Universidade de So Paulo
TEORIA SEMITICA DO TEXTO
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Direo Benjamin Abclala Junior Samira Youssef Campedelli Preparao de texto lvany Picasso Batista
Edio de arte (miolo) Milton Takeda Divina Rocha Corte
Coordenao de composio (Composio/Paginao em vdeo) Neide Hiromi Toyota Dirce Ribeiro de Arajo
Capa Paulo Csar Pereira
4 edio 6 impressao Impresso nas oficinas da EDITORA PARMA LTDA.
ISBN 85 08 03732 5
2005
Todos os direitos reservados pela Editora tica Rua Baxo de lguape, 110-CEP O15O7-900 Caixa Postal 2937 CEP 01065-970 So Paulo SP
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Sumrio
1. Teorias lingsticas do texto e teoria semitica ________________________________ 10
A noo de texto _________________________________________________________________ Percurso gerativo do sentido ________________________________________________________
2. Sintaxe narrativa ___________________________________________________________ 20
Enunciado elementar _____________________________________________________________ Programa narrativo _______________________________________________________________ Percurso narrativo _______________________________________________________________ Esquema narrativo _______________________________________________________________
3. Semntica narrativa ________________________________________________________ 44
Modalizao do fazer _____________________________________________________________ Modalizao do ser ______________________________________________________________
4. Sintaxe discursiva __________________________________________________________ 53
Projees da enunciao __________________________________________________________ Efeito de proximidade ou de distanciamento da enunciao _______________________________ Efeito de realidade ou de referente __________________________________________________ Relaes argumentativas entre enunciador e enunciatrio __________________________________
5. Semntica discursiva _______________________________________________________ 66
Tematizao ____________________________________________________________________ Figurativizao __________________________________________________________________ Coerncia textual ________________________________________________________________ Estruturas fundamentais ___________________________________________________________
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
6. Alm do percurso gerativo do sentido ________________________________________ 74
Semi-simbolismo ________________________________________________________________ Discurso, enunciao e contexto scio-histrico ________________________________________
7. Vocabulrio crtico __________________________________________________________ 80
8. Textos analisados __________________________________________________________ 87
9. Bibliografia comentada ______________________________________________________ 89
1
9
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Teorias lingsticas do texto e teoria semitica
A inteno deste livro apresentar, de forma sucinta e simples, os fundamentos da teoria semitica. Por teoria semitica est-se entendendo a teoria desenvolvida por A. J. Greimas e pelo Grupo de Investigaes Smio-lingsticas da Escola de Altos Estudos em Cincias Sociais. Existem outras teorias semiticas, tambm bastante conhecidas, como a de Charles Peirce e a da Escola de Tartu. Por razes diversas, entre as quais a de exigidade de espao e a de tipo de publicao, no se faro comparaes entre as diferentes propostas e, muito menos, apreciaes do mrito e das vantagens indiscutveis de cada uma delas. A opo pela semitica greimasiana deve-se a motivos vrios, alguns mesmo de ordem pessoal, e merece referncia o carter de teoria do texto que assume a semitica escolhida para esta apresentao. A semitica insere-se, portanto, no quadro das teorias que se (pre)ocupam com o texto. A lingstica foi, durante muito tempo, uma teoria da lngua e da linguagem que no ia alm das dimenses da frase, seja por acreditarem alguns ser a frase a unidade lingstica por excelncia, seja por dificuldades prticas de outros que reconhecem unidades maiores que a frase. A essa delimitao da lingstica soma-se mais uma, a de ser lingstica da lngua, e de deixar, para outros campos do conhecimento, as questes de uso da lngua ou as implicaes do contexto social e histrico dos falantes. Os estudos lingsticos circunscrevem-se, assim, em um espao ao mesmo tempo vasto e restrito e tomam por objeto unidades da dimenso mxima da frase, concebidas fora de qualquer contexto de enunciao. Os limites impostos foram facilmente mantidos no perodo em que a lingstica se confundia com a fonologia e a morfologia, com menos facilidade durante o reinado da sintaxe, e tornaram-se insustentveis no ressurgimento dos estudos semnticos nos anos sessenta. A semntica, cujos princpios diacrnicos
10
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
foram formulados por M. Bral, em fins do sculo passado, foi, durante a primeira metade deste sculo, a parente pobre da lingstica, desenvolvida como semntica da palavra isolada ou semntica lexical e considerada incapaz de levar adiante o projeto de uma cincia lingstica em construo. A semntica estrutural desenvolveu-se por volta de 1960, paralelamente semntica lgica, e, apesar das crticas sofridas, teve o mrito inegvel de reintroduzir as preocupaes com o sentido no seio dos estudos lingsticos. A partir de L. Hjelmslev, que mostrou ser possvel examinar o plano do contedo em separado do plano da expresso, tal como a fonologia fizera com o plano da expresso, a semntica estrutural desenvolveu princpios e mtodo para estudar o sentido. As dificuldades foram muitas e no se conseguiu ir alm da descrio de uma fatia reduzida do contedo de uma lngua, tampouco ultrapassar os limites da frase. A preocupao com o sentido, no entanto, forou o lingista a rever sua concepo de lngua e de estudos da linguagem e a romper as barreiras estabelecidas entre a frase e o texto e entre o enunciado e a enunciao. Sem derrubar essas demarcaes, no se pode realizar nenhum estudo satisfatrio do sentido. A mudana de posicionamento frente aos fatos de linguagem levou ao aparecimento de propostas tericas diversas que concebem o texto, e no mais a frase, como unidade de sentido e que consideram, portanto, que o sentido da frase depende do sentido do texto. Ao lado dos estudos do texto, desenvolveram-se, tambm, diferentes teorias pragmticas ou da enunciao que tm em comum o ponto de vista adotado de exame das relaes entre a instncia da enunciao e o texto-enunciado e entre o enunciador do texto e o enunciatrio, para quem o texto fabricado. Houve, por conseguinte, mudana de perspectiva terica com o aparecimento de estudos da organizao do texto e das relaes entre enunciado e enunciao. As teorias desenvolvidas privilegiaram uma ou outra das abordagens. A lio da semntica, porm, que abriu o caminho duplo da busca do sentido no ter sido bem entendida se forem separadas as duas preocupaes, a que se volta para o texto, a que se dirige para a enunciao. A noo de texto A semitica tem por objeto o texto, ou melhor, procura descrever e explicar o que otexto diz e como ele faz para dizer o que diz. necessrio, portanto, para que se possa caracterizar, mesmo que grosseiramente, uma teoria semitica, determinar, em primeiro lugar, o que o texto, seu objeto de estudo. Um texto define-se de duas formas que se complementam: pela organizao ou estruturao que faz dele um todo de sentido, como objeto da comunicao que se estabelece entre um destinador e um destinatrio. A primeira concepo de texto, entendido como objeto de significao, faz que seu estudo se confunda com o exame dos procedimentos e mecanismos que o estruturam, que o tecem como um
11
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
todo de sentido. A esse tipo de descrio tem-se atribudo o nome de anlise interna ou estrutural do texto. Diferentes teorias voltam-se para essa anlise do texto, a partir de princpios e com mtodos e tcnicas diferentes. A semitica uma delas. A segunda caracterizao de texto no mais o toma como objeto de significao, mas como objeto de comunicao entre dois sujeitos. Assim concebido, o texto encontra seu lugar entre os objetos culturais, inserido numa sociedade (de classes) e determinado por formaes ideolgicas especficas. Nesse caso, o texto precisa ser examinado em relao ao contexto scio-histrico que o envolve e que, em ltima instncia, lhe atribui sentido. Teorias diversas tm tambm procurado examinar o texto desse ponto de vista, cumprindo o que se costuma denominar anlise externa do texto. Os que se dedicam ao exame interno do texto e aqueles que se devotam sua anlise externa se recriminam e se criticam uns aos outros: os primeiros so acusados de reducionismo, de empobrecimento e de desconhecimento da histria; os ltimos, de subjetividade e de confundirem a anlise do texto com outras anlises. No entanto, o texto s existe quando concebido na dualidade que o define objeto de significao e objeto de comunicao e, dessa forma, o estudo do texto com vistas construo de seu ou de seus sentidos s pode ser entrevisto como o exame tanto dos mecanismos internos quanto dos fatores contextuais ou scio-histricos de fabricao do sentido. Nos seus desenvolvimentos mais recentes, a semitica tem caminhado nessa direo e procurado conciliar, com o mesmo aparato terico-metodolgico, as anlises ditas interna e externa do texto. Para explicar o que o texto diz e como o diz, a semitica trata, assim, de examinar os procedimentos da organizao textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produo e de recepo do texto. Resta ainda um ponto a ser esclarecido nesta rpida exposio da noo de texto: o objeto de estudo da semitica apenas o texto verbal ou lingstico? O texto, acima definido por sua organizao interna e pelas determinaes contextuais, pode ser tanto um texto lingstico, indiferentemente oral ou escrito uma poesia, um romance, um editorial de jornal, uma orao, um discurso poltico, um sermo, uma aula, uma conversa de crianas quanto um texto visual ou gestual uma aquarela, uma gravura, uma dana ou, mais freqentemente, um texto sincrtico de mais de uma expresso uma histria em quadrinhos, um filme, uma cano popular. As diferentes possibilidades de manifestao textual dificultam, sem dvida, o trabalho de qualquer estudioso do texto, e as teorias tendem a se especializar em teorias do texto literrio, semiologia da imagem e assim por diante. Com isso, perdem-se, muitas vezes, as caractersticas comuns aos textos, que independem das expresses diferentes que os manifestam, e ficam impossibilitadas as comparaes entre textos diversos.
12
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A semitica sabe da necessidade de uma teoria geral do texto e reconhece suas dificuldades. Por isso mesmo, na esteira de L. Hjelmslev, prope, como primeiro passo para a anlise, que se faa abstrao das diferentes manifestaes visuais, gestuais, verbais ou sincrticas e que se examine apenas seu plano do contedo. As especificidades da expresso, na sua relao com o contedo, sero estudadas posteriormente. A semitica deve ser assim entendida como a teoria que procura explicar o ou os sentidos do texto pelo exame, em primeiro lugar, de seu plano do contedo. Para construir o sentido do texto, a semitica concebe o seu plano do contedo sob a forma de um percurso gerativo. A noo de percurso gerativo do sentido fundamental para a teoria semitica e pode ser resumida como segue: a) o percurso gerativo do sentido vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto; b) so estabelecidas trs etapas no percurso, podendo cada uma delas ser descrita e explicada por uma gramtica autnoma, muito embora o sentido do texto dependa da relao entre os nveis; c) a primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, recebe o nome de nvel fundamental ou das estruturas fundamentais e nele surge a significao como uma oposio semntica mnima; d) no segundo patamar, denominado nvel narrativo ou das estruturas narrativas, organiza-se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito; e) o terceiro nvel o do discurso ou das estruturas discursivas em que a narrativa assumida pelo sujeito da enunciao. Para bem explicar o papel do percurso gerativo na construo semitica do sentido do texto e para uma primeira apresentao, bastante imprecisa, de cada nvel do percurso, sero examinados, em rpidas pinceladas, dois textos. So eles a letra da cano infantil Histria de uma gata, de Luiz Henriquez, Srgio Bardotti e Chico Buarque (1980, p. 40), e o poema Psicanlise do acar, de Joo Cabral de Melo Neto (1975, p. 27).
Histria de uma gata Me alimentaram me acariciaram me aliciaram me acostumaram. O meu mundo era o apartamento. Detefon, almofada e trato 13
Percurso gerativo do sentido
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
todo dia fil-mignon ou mesmo um bom fil... de gato me diziam, todo momento: Fique em casa, no tome vento. Mas duro ficar na sua quando luz da lua tantos gatos pela rua toda a noite vo cantando assim: Ns, gatos, j nascemos pobres porm, j nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio. Felino, no reconhecers. De manh eu voltei pra casa fui barrada na portaria, sem fil e sem almofada por causa da cantoria. Mas agora o meu dia-a-dia no meio da gataria pela rua virando lata eu sou mais eu, mais gata numa louca serenata que de noite sai cantando assim: Ns, gatos, j nascemos pobres porm, j nascemos livres. Senhor, senhora ou senhorio. Felino, no reconhecers.
A anlise do texto considerar cada nvel separadamente e procurar dar uma viso geral de como so concebidos o percurso e suas etapas. No nvel das estruturas fundamentais preciso determinar a oposio ou as oposies semnticas a partir das quais se constri o sentido do texto. Em Histria de uma gata a categoria semntica fundamental : liberdade vs. dominao (explorao, opresso) Essa oposio manifesta-se de formas diversas no texto: me aliciaram/me acostumaram, Fique em casa, no tome vento, Mas duro ficar na sua, j nascemos livres, Senhor, senhora, senhorio etc. As categorias fundamentais so determinadas como positivas ou eufricas e negativas ou disfricas. No texto, a liberdade eufrica, a opresso, disfrica. Alm das relaes mencionadas e de sua determinao axiolgica, estabelecese no nvel das estruturas fundamentais um percurso entre os termos. Passa-se, no texto em exame, da dominao negativa liberdade positiva.
14
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dominao (disforia)
----------------------
no-dominao (no-disforia)
-------------------------liberdade (euforia)
A no-dominao, ou melhor, a negao da dominao aparece sobretudo em Mas duro ficar na sua.... Histria de uma gata tem, portanto, como contedo mnimo fundamental a negao da dominao ou da explorao, sentida como negativa, e a afirmao da liberdade eufrica. No segundo patamar, nvel das estruturas narrativas, os elementos das oposies semnticas fundamentais assumidos como valores por um sujeito e circulam entre sujeito graas ao tambm de sujeitos. Ou seja, no se trata mais de afirmar ou de negar contedos, de asseverar a liberdade e de recusar a dominao, mas de transformar, pela ao do sujeito, estados de liberdade ou de opresso. Histria de uma gata , assim, a histria de um sujeito (gata) manipulado por um outro sujeito (dono) por tentao boa casa, proteo, carinho, comida para que fique em casa, no se misture com os gatos de rua, seja fiel. O sujeito gata quer cumprir e realmente cumpre o acordo, para receber os valores que o tentam. reconhecido como bom gato e recompensado com fil-mignon, detefon e bons tratos. Surgem, porm, o gatos de rua, com outros valores, os da liberdade (sem fil e sem almofada), que tambm tentam o sujeito gata e fazem que ele v rua e ponha de lado, por conseguinte, o primeiro compromisso. A gata esfora-se por esconder o rompimento do primeiro contrato e volta para casa: ela procura no parecer uma gata de rua, ainda que o fosse, ela tenta parecer fiel, embora tivesse praticado a infidelidade. O segredo ou a mentira so desmascarados e ela perde o reconhecimento de bom gato e as recompensas. Assume, a partir da, os valores da liberdade. A narrativa, como se viu, sofreu desdobramento polmico. Opem-se valores e a gata sincretiza os papis de sujeito de fazeres contrrios. A ltima etapa do percurso gerativo o das estruturas discursivas. As estruturas discursivas devem ser examinadas do ponto de vista das relaes que se instauram entre a instncia da enunciao, responsvel pela produo e pela comunicao do discurso, e o texto-enunciado. Em Histria de uma gata, utilizam-se recursos discursivos variados para fabricar a iluso de verdade. Projetase um narrador em eu e obtm-se o efeito de subjetividade; indetermina-se o sujeito da primeira manipulao (me alimentaram me diziam, fui barrada) e cria-se o efeito de generalizao; delega-se a palavra aos manipuladores, dono e gatos de rua, e chega-se iluso de realidade.
15
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ainda no nvel discursivo, as oposies fundamentais, assumidas como valores narrativos, desenvolvem-se sob a forma de temas e, em muitos textos, concretizam-se por meio de figuras. No texto em exame, desenrolam-se vrias leituras temticas: a) tema da domesticidade ou da dominao e explorao do animal domstico pelo homem; b) tema da sexualidade da mulher-objeto ou de explorao da mulher comprada para o prazer; c) tema da passagem da adolescncia idade adulta ou da opresso da famlia sobre a criana e o jovem (Fique em casa, no tome vento); d) tema socioeconmico da marginalizao da boemia. As leituras abstratas temticas esto concretizadas em diferentes investimentos figurativos, todos eles caracterizados pela oposio de traos sensoriais, espaciais e temporais que separam, no texto, a liberdade da dominao.
trao espacial espacial temporal ttil ttil olfativo gustativo auditivo visual dominao fechado interno dia macio quente cheiroso gostoso silencioso claro vs. liberdade aberto externo noite duro, spero frio (vento) malcheiroso (lixo) ruim, azedo ruidoso penumbra (luz da lua)
Esses traos organizam figuras diferentes nas diferentes leituras temticas. O trao olfativo, por exemplo, manifesta-se sob a forma do detefon, na leitura do animal domstico, como perfumes e cosmticos, na da mulher-objeto, e como cuidados e limpeza (talcos, pomadas) na do adolescente.
16
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A anlise do poema de Joo Cabral de Melo Neto, Psicanlise do acar (1975, p. 27), dever completar essa viso de conjunto do percurso gerativo do sentido, tal como o concebe a teoria semitica.
O acar cristal, ou acar de usina, mostra a mais instvel das brancuras: quem do Recife sabe direito o quanto, e o pouco desse quanto, que ela dura. Sabe o mnimo do pouco que o cristal se estabiliza cristal sobre o acar, por cima do fundo antigo, de mascavo, do mascavo barrento que se incuba; e sabe que tudo pode romper o mnimo em que o cristal capaz de censura: pois o tal fundo mascavo logo aflora quer inverno ou vero mele o acar. S os bangos que ainda purgam ainda o acar bruto com barro, de mistura; a usina j no o purga: da infncia, no de depois de adulto, ela o educa; em enfermarias, com vcuos e turbinas, em mos de metal de gente indstria, a usina o leva a sublimar em cristal o pardo do xarope: no o purga, cura. Mas como a cana se cria ainda hoje, em mos de barro de gente agricultura, o barrento da pr-infncia logo aflora quer inverno ou vero mele o acar.
No nvel das estruturas fundamentais, o poema parte da oposio entre: puro (branco, limpo, claro) acar cristal da usina vs. sujo (impuro, escuro, barrento)
acar mascavo
Dois percursos ocorrem no texto. Passa-se da pureza impureza, quando o mascavo barrento rompe o cristal, ou da sujeira do acar bruto brancura do cristal da usina: sujo -------------------------------------- no.sujo --------------------------------- puro
(acar bruto) (cristal por cima do mascavo) (acar cristal de usina)
puro --------------------------------------- impuro ---------------------------------- sujo
(cristal) (fundo mascavo que aflora) (acar mascavo)
A assero da pureza, no primeiro percurso, e a da sujeira, no segundo, fazem surgir, no texto de Cabral, uma terceira possibilidade, a da afirmao concomitante da pureza e da sujeira, no acar do bang. O acar do bang
17
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
tem caractersticas tanto do mascavo sujo quanto do cristal puro, purgado que com barro, de mistura. No nvel das estruturas narrativas, as operaes da etapa fundamental devem ser examinadas como transformaes operadas por sujeitos. Em Psicanlise do acar mudam-se as qualificaes do sujeito acar, ora puro ora sujo, transforma-se sua competncia, enfim, para a ao. Tanto a usina quanto o tempo ou o bang so responsveis pelas alteraes das qualificaes do sujeito. A usina manipula o sujeito sobretudo pela intimidao das mos de metal, para que ele aja de modo til, puro e racional, sem os impulsos ou os instintos sujos. A ela, ope-se o tempo, o inverno ou o vero que melam o acar, ou seja, que desqualificam o sujeito para a ao pretendida pela usina. O tempo, na verdade, desmascara o sujeito ao mostrar o carter passageiro e mentiroso de sua brancura. O acar de usina parece puro e competente para a ao, mas no o , pois o inverno ou o vero fazem aflorar seu fundo mascavo. A usina responde, portanto, por transformaes apenas aparentes do sujeito, ao mud-lo de sujo em puro cristal. O tempo faz saber que a pureza superficial e esconde o ser do sujeito moldado pelas mos de barro de gente agricultura. Faz-se o percurso inverso, da aparncia essncia. Finalmente, a essas transformaes opostas da competncia do sujeito vem somar-se a manipulao do bang. O bang qualifica o sujeito com a pureza e com a sujeira, faz dele um ser complexo, ao mistur-lo com barro, para purificlo. O acar-mistura do bang define-se miticamente pela conciliao de opostos. S assim, duplamente competente, o sujeito est qualificado para agir til, pura e racionalmente e, ao mesmo tempo, impulsivamente. Est pronto para realizar o fazer de adoar. As estruturas discursivas, no ltimo patamar do percurso,. mostram um discurso em terceira pessoa, verdadeiro porque objetivo. Para a iluso de objetividade e de verdade contribuem o argumento de autoridade e o efeito de realidade obtidos com o emprego de um sujeito do saber: quem do Recife sabe direito. Vrios temas realizam os valores da pureza e da sujeira, no discurso: a) tema da purificao do acar, em que se opem os mtodos da usina e do bang, se apresentam as vantagens de cada um deles e se desmascara a excessiva pureza do acar cristal, que esconde sua sujeira; b) tema psicanaltico da censura, dos recalques, da sublimao e do aflorar constante dos instintos e dos desejos reprimidos (se sublimao, para a psicanlise, o processo inconsciente que consiste em desviar a energia da libido para novos objetos, de carter til (Novo dicionrio Aurlio), o texto de Cabral mostra que a educao
18
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
na famlia, na escola, na sociedade pe o homem, desde a infncia, na boa direo, mas que os impulsos constantemente afloram, em atos falhos etc.); c) tema tnico do racismo, que se desenvolve na leitura do aniquilamento do negro, pondo em evidncia o branco, e na soluo apresentada da mestiagem; d) tema socioeconmico do desmantelamento da agricultura ou dos procedimentos pr-industriais, em favor da usina ou do grande complexo industrial (o meio-termo do bang seria o caminho visado); e) tema poltico, em que se fala da aparncia de pureza e de limpeza, de ordem de certos pases, sob a qual fervilham as doenas sociais da rebelio que, a qualquer momento, podem aflorar. As duas anlises esboadas quiseram apenas mostrar, no todo, como se articulam as etapas do percurso gerativo do sentido e como a semitica dele se serve para ler textos. Ser agora examinado detalhadamente cada nvel do percurso.
19
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2 Sintaxe narrativa
Nos captulos 2 e 3 sero apresentados os princpios semiticos de organizao da narrativa. Ainda que a separao seja difcil, sero distinguidos os mecanismos de estruturao sinttica da narrativa (captulo 2) e as questes semnticas de modalizao (captulo 3). A sintaxe narrativa deve ser pensada como um espetculo que simula o fazer do homem que transforma o mundo. Para entender a organizao narrativa de um texto, preciso, portanto, descrever o espetculo, determinar seus participantes e o papel que representam na historiazinha simulada. A semitica parte dessa viso espetacular da sintaxe e prope duas concepes complementares de narrativa: narrativa como mudana de estados, operada pelo fazer transformador de um sujeito que age no e sobre o mundo em busca dos valores investidos nos objetos; narrativa como sucesso de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador e um destinatrio, de que decorrem a comunicao e os conflitos entre sujeitos e a circulao de objetos. As estruturas narrativas simulam, por conseguinte, tanto a histria do homem em busca de valores ou procura de sentido quanto a dos contratos e dos conflitos que marcam os relacionamentos humanos. Enunciado elementar O enunciado elementar da sintaxe narrativa caracteriza-se pela relao de transitividade entre dois actantes, o sujeito e o objeto. A relao define os actantes; a relao transitiva entre sujeito e objeto d-lhes existncia, ou seja, o sujeito o actante que se relaciona transitivamente com o objeto, o objeto aquele que mantm laos com o sujeito. H duas diferentes relaes ou funes transitivas, a juno e a transformao e, portanto, duas formas de
20
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
enunciado elementar, que, no texto, estabelecem a distino entre estado e transformao: enunciado de estado: F juno (S,O) enunciado de fazer: F transformao (S,O) F = funo S = sujeito O = objeto
No texto j citado Histria de uma gata encontram-se, entre outros, os seguintes enunciados de estado e de fazer: enunciados de estado: o sujeito gata mantm relao de juno com vrios objetos, nos versos O meu mundo era o apartamento./Detefon, almofada e trato/todo dia fil-mignon; enunciados de fazer: o sujeito dono transforma a relao de juno do sujeito gata com os objetos apartamento, almofada etc. H uma mudana de estado em fui barrada na portaria,/sem fil e sem almofada. Para exemplificar a organizao narrativa ser utilizada, alm dos textos j rapidamente analisados, no item sobre o percurso gerativo, uma fala de Joana, em Gota ddgua, de Chico Buarque e Paulo Pontes (1975). Joana fora abandonada pelo amante Jaso, aps o sucesso do samba Gota dgua. A fala proferida quando Joana fica sabendo que Jaso vai casar-se com a filha de Creonte, o explorador da Vila do Meio-Dia, onde mora Joana.
Joana Pois bem, voc vai escutar as contas que eu vou lhe fazer: te conheci moleque, frouxo, perna bamba, barba rala, cala larga, bolso sem fundo No sabia nada de mulher nem de samba e tinha um puto dum medo de olhar pro mundo As marcas do homem, uma a uma, Jaso, tu tirou todas de mim. O primeiro prato, o primeiro aplauso, a primeira inspirao, a primeira gravata, o primeiro sapato de duas cores, lembra? O primeiro cigarro, a primeira bebedeira, o primeiro filho, o primeiro violo, o primeiro sarro, o primeiro refro e o primeiro estribilho Te dei cada sinal do teu temperamento Te dei matria-prima para o teu tutano E mesmo essa ambio que, neste momento se volta contra mim, eu te dei, por engano Fui eu, Jaso, voc no se encontrou na rua 21
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Voc andava tonto quando eu te encontrei Fabriquei energia que no era tua pra iluminar uma estrada que eu te apontei E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada uma alma ansiosa, faminta, buliosa, uma alma de homem. Enquanto eu, enciumada dessa exploso, ao mesmo tempo, eu vaidosa, orgulhosa de ti, Jaso, era feliz, eu era feliz, Jaso, feliz e iludida, porque o que eu no imaginava, quando fiz dos meus dez anos a mais uma sobre-vida pra completar a vida que voc no tinha, que estava desperdiando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha Assim que bateu o primeiro p-de-vento, assim que despontou um segundo horizonte, l se foi meu homem-orgulho, minha obra completa, l se foi pro acervo de Creonte.. Certo, o que eu no tenho, Creonte tem de sobra Prestgio, posio... Teu samba vai tocar em tudo quanto programa. Tenho certeza que a gota dgua no vai parar de pingar de boca em boca... Em troca pela gentileza vais engolir a filha, aquela mosca-morta como engoliu meus dez anos. Esse o teu preo, dez anos. At que aparea uma outra porta que te leve direto pro inferno. Conheo a vida rapaz. S de ambio, sem amor, tua alma vai ficar torta, desgrenhada, aleijada, pestilenta... Aproveitador! Aproveitador!
Podem-se reconhecer enunciados de estado e enunciados de fazer: enunciados de estado: a relao de juno entre o sujeito Jaso e os objetos primeiro prato, gravata, sapato de duas cores, saber sobre as mulheres e samba etc., no incio do texto; enunciados de fazer: a transformao operada pelo sujeito Joana, na relao de Jaso com os objetos (Te dei cada sinal do teu temperamento.. . ). A juno, como indicam os dois exemplos acima, a relao que determina o estado, a situao do sujeito em relao a um objeto qualquer. O objeto, enquanto objeto sinttico, uma espcie de casa vazia, que recebe investimentos de projetos e de determinaes do sujeito. No exemplo de Jaso, os objetos com os quais mantm relao juntiva esto determinados pelas aspiraes e projetos de um sujeito em busca de dinheiro, fama e prestgio. Os investimentos fazem do objeto um objeto-valor e , assim, por meio do objeto que o sujeito tem acesso aos valores. H dois tipos de juno, ou seja, dois modos diferentes de relao do sujeito com os valores investidos nos objetos, a conjuno e a disjuno:
22
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
enunciado de estado conjuntivo: S O Ex.: S (gata) O (apartamento, detefon, almofada, fil-mignon) S (Jaso) O (dinheiro, coragem, saber sobre mulheres e samba etc.) enunciado de estado disjuntivo: S U O Ex.: S (gata) U O (apartamento, detefon, almofada, fil-mignon) S (Jaso) U O (dinheiro, coragem, saber sobre mulheres e samba etc.)
A disjuno no a ausncia de relao, mas um modo de ser da relao juntiva. O poema Sem, de Guilherme de Almeida (1982), fala, em linguagem potica, dessa forma de relao.
Uma noite sem plpebras se estanha de um silncio sem margens. Sua veste tecida de teias sem aranha na cor sem cor de mrmore e cipreste. Dedo sem unha sobre os lbios, passa. Leva uma flor sem ptalas no seio. E sem um gesto do seu brao, abraa algum e vai sem nada, como veio.
Quanto aos enunciados de fazer, percebe-se, nos exemplos, que eles operam a passagem de um estado a outro, ou seja, de um estado conjuntivo a um estado disjuntivo e vice-versa. O objeto de uma transformao sempre um enunciado de estado. Joana, ao dar a Jaso certas qualidades, transforma seu estado de (Jaso no tinha coragem, dinheiro, ambio, disjuno dos objetos conhecimentos, inspirao) em estado de conjuno (... vi nascer do nada/uma alma ansiosa, faminta, buliosa,/uma alma de homem.). A gata, em Histria de uma gata, estava em conjuno com objetos como apartamento, almofada e filmignon, ao ser barrada na portaria pelo dono, perde esses objetos-valor e passa a manter com eles relao de disjuno. A comunicao hierrquica de enunciado de fazer e enunciado de estado define o programa narrativo, a unidade operatria elementar da organizao narrativa de um texto. A primeira concepo de narrativa , como se viu, a de sucesso de estados e de transformaes. Os textos citados podem ser assim simplificados: em Histria de uma gata, a gata se relaciona ora por conjuno ora por disjuno com objetos-valor, sendo as mudanas de estado ocasionadas por transformaes como a gata sai para a rua, o dono barra a gata na portaria, a gata volta para a rua; em Gota dgua (no trecho citado), sucedem-se estados de conjuno e de disjuno do sujeito Jaso com os objetos-valor, graas s transformaes operadas pelos sujeitos Joana, Creonte e pelo prprio Jaso.
23
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Programa narrativo O programa narrativo ou sintagma elementar da sintaxe narrativa define-se como um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. Integra, portanto, estados e transformaes. Retomando alguns textos j referidos, pode-se represent-los como programas narrativos, segundo o modelo abaixo: PN = F[S1 (S2 Ov)] F = funo = transformao S1 = sujeito do fazer S2 = sujeito do estado = conjuno Ov = objeto-valor
Histria de uma gata PN1: a gata recebe do dono os objetos-valor apartamento, detefon, comida, carinho etc. (o sujeito do fazer o dono da gata; a transformao a de acariciar, alimentar etc.; o sujeito de estado, que tem sua situao alterada, a gata). F (acariciar, alimentar) [S1 (dono) S2 (gata) Ov (comida, carinho etc.] PN2: o dono toma da gata os objetos-valor (o sujeito do fazer o dono; o fazer barrar na portaria; o sujeito de estado a gata). F (barrar na portaria) [S1 (dono) S2 (gata) Ov (comida, carinho etc.)] PN3: a gata sai de casa para a rua e com isso adquire os valores de liberdade e de ser mais eu, mais gata (o sujeito do fazer a gata; a transformao a de sair rua; o sujeito de estado a gata). F (sair de casa) [S1 (gata) S2 (gata) Ov (liberdade, identidade)] PN4: a gata, ao ficar em casa, perde os valores de liberdade e de identidade (o sujeito do fazer a gata; a transformao a de ficar em casa; o sujeito de estado a gata). F(ficar em casa) [S1 (gata) S2 (gata) Ov (liberdade, identidade)] Psicanlise do acar PN5: a usina educa, cura o acar, d-lhe a brancura do cristal (o sujeito do fazer a usina; a transformao a de purificar; o sujeito de estado o acar). F (purificar) [S1 (usina) S2 (acar) Ov (brancura, pureza)]
24
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
PN6: o tempo mela o acar, tira-lhe a brancura e a pureza (o sujeito do fazer o tempo; a transformao a de melar ou desmascarar; o sujeito de estado o acar). F (melar) [S1 (tempo) S2 (acar) 0v (brancura, pureza)] PN7: o bang purga o acar pela mistura com o barro (o sujeito do fazer o bang; a transformao purificar; o sujeito de estado o acar). F (purificar) [S1 (bang) S2 (acar) Ov (brancura + escuro)] Os sete exemplos acima deixam antever diferentes tipos de programas narrativos, segundo critrios tambm diversos: a) natureza da funo: se a transformao resulta em conjunto do sujeito com o objeto, tem-se um programa de aquisio de objeto-valor; se termina em disjuno, fala-se em programa de privao (os PN1, PN3, PN5 e PN7 so programas de aquisio, pois, no PN1, a gata adquire comida e carinho; no PN3, ela obtm liberdade e identidade prpria; nos PN5 e PN7, o acar adquire pureza, segundo diferentes concepes de puro; j os PN2, PN4 e PN6 so programas de privao, pois no PN2 a gata privada de casa e comida; no PN4, de liberdade e de identidade; e no PN5, o acar perde a pureza); b) complexidade e hierarquia de programas: os programas podem ser simples ou complexos, isto , constitudos por mais de um programa hierarquizado (nesse caso diferencia-se o programa principal ou programa de base dos programas secundrios ou de uso, pressupostos pelo programa de base. Pode-se dizer, por exemplo, que a purificao do acar um programa de uso necessrio consecuo do programa de base de adoar ou ainda que, para Jona, os programas de Jaso so programas de uso que lhe permitio realizar o programa de base da obteno de poder numa sociedade capitalista); c) valor investido no objeto: os valores podem ser modais, como o dever, o querer, o poder e o saber, que modalizam ou modificam a relao do sujeito com os valores e os fazeres, ou descritivos (Os programas narrativos examinados foram apresentados como programas narrativos com valores descritivos, como casa, comida, liberdade ou pureza. Muitos deles, porm, quando analisados com maior preciso, mostraro seu carter modal: o dono da gata leva-a a dever- fazer, ou seja, a dever no se misturar com os gatos de rua para adquirir os valores descritivos de casa, comida e conforto; o bang e a usina alteram as qualidades modais do acar, ao modificarem seu poder de adoar. O exemplo mais claro, porm, de programa narrativo com valores modais, o de Joana, que transforma o querer e o saber de Jaso: Te dei cada sinal do teu temperamento/Te dei matria-prima para o teu tutano/E mesmo essa ambio que, neste momento/se volta contra mim, eu te dei, por engano/Fui eu, Jaso, voc no se encontrou na rua);
25
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
d) relao entre os actantes narrativos (sujeito de estado e sujeito do fazer) e os atores que os manifestam no discurso: os dois sujeitos, do fazer (S1) e do estado (S2), podem ser assumidos por um nico ator ou por atores diferentes. (Os PN1, PN2, PN5, PN6 e PN7 tm atores diferentes para os dois sujeitos. So programas transitivos: nos PN1 e PN2, o sujeito do fazer o dono, e o de estado, a gata; nos PN5, PN6 e PN7, os sujeitos do fazer so, respectivamente, a usina, o tempo e o bang, e os sujeitos de estado, nos trs programas o acar. Os PN3 e PN4 so programas reflexivos, em os sujeitos do fazer (S1) e do estado (S2) so realizados por um mesmo ator, a gata.) Se forem combinados os critrios a (aquisio vs. privao) e d (transitivo vs. reflexivo), obtm-se o quadro abaixo:
(a) natureza da funo aquisio aquisio privao privao
(d) relao denominao exemplo narrativa/discurso transitiva reflexiva transitiva reflexiva Doao apropriao espoliao renncia PN1: o dono doa objetos-valor para a gata PN3: a gata adquire por si mesma a liberdade PN2 o dono tira da gata os objetos-valor PN4: a gata renuncia liberdade
fcil perceber que os programas narrativos projetam sempre um programa correlato, isto , se um sujeito adquire um valor porque outro sujeito foi dele privado ou dele se privou. Os objetos circulam entre os sujeitos, graas s transformaes, e pem os sujeitos em relao. Dessa forma, o programa de doao corresponde, em outra perspectiva, ao programa de renncia, e o de apropriao, ao de espoliao. Na fala de Joana, em Gota dgua, a transformao operada ora descrita como uma doao de valores a Jaso (aquisio transitiva), ora como a renncia de Joana a esses valores (privao reflexiva).
doao Te dei cada sinal do teu temperamento Te dei matria-prima para o teu tutano E mesmo essa ambio que, neste momento se volta contra mim, eu te dei, por engano renncia porque o que eu no imaginava, quando fiz
26
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dos meus dez anos a mais uma sobre-vida pra completar a vida que voc no tinha, que estava desperdiando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha
Bons exemplos da correlao entre os programas de apropriao e de espoliao ocorrem na literatura popular, pois quando o sujeito prncipe se apropria do objeto princesa, o sujeito drago dele espoliado; quando o Pequeno Polegar adquire a bota-de-sete-lguas, priva dela o Ogro, quando Joozinho-do-p-de-feijo se apodera da galinha-dos-ovos-de-ouro, o Gigante perde esse objeto-valor. Nas narrativas em que h dois sujeitos em busca de um mesmo objeto-valor, como acontece com o prncipe e o drago, o Pequeno Polegar e o Ogro, Joozinho e o Gigante, a ao de um deles enfatizada e a do outro, ocultada. Opem-se, assim, o sujeito do programa salientado, o prncipe, o Pequeno Polegar ou Joozinho, e o anti-sujeito do programa encoberto, o drago, o Ogro ou o Gigante. Os critrios tipolgicos de caracterizao dos programas narrativos permitem definir dois tipos fundamentais de programas, a competncia e a perfrmance.
critrios (a) (b) (c) (d) sujeito do fazer e sujeito do estado realizados por atores diferentes
competncia aquisio perfrmance aquisio
programa valor de uso modal
programa valor sujeito do fazer e sujeito do estado realizados de base descritivo pelo mesmo ator
A competncia , por conseguinte, uma doao de valores modais; a perfrmance, uma apropriao de valores descritivos. Os exemplos apresentados mostram bem a diferena entre competncia e perfrmance. Quando Jaso, sujeito de estado, recebe de Joana, sujeito do fazer, os valores modais do querer e do saber-compor, trata-se de um programa narrativo de competncia. Esse programa um programa de uso tendo em vista a realizao do programa de base de Jaso, sua perfrmance de aquisio de fama e fortuna. No programa de perfrmance, Jaso, como sujeito do fazer, compe e canta seu samba, para adquirir, enquanto sujeito de estado, os valores a que aspira. Os dois programas representam-se como segue: PN de competncia atores distintos aquisio valores modais
F (dar marcas de homem) [S1 (Joana) S2 (Jaso) Ov (querer e saber compor)]
27
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
PN de perfrmance
F (compor sambas)
mesmo ator aquisio
[S1 (Jaso) S2 (Jaso) Ov
valores descritivos
(fama e fortuna)]
A relao entre o programa de uso e o programa de base clara: as qualidades modais de querer e saber compor que Jaso recebe de Joana no programa de competncia so condio para a realizao do programa de perfrmance de Jaso, de compor sambas. A fbula de Millr, O gato e a barata (1975, p. 17), fornecer mais alguns exemplos de programas narrativos.
A baratinha velha subiu pelo p do copo que, ainda com um pouco de vinho, tinha sido largado a um canto da cozinha, desceu pela parte de dentro e comeou a lambiscar o vinho. Dada a pequena distncia que nas baratas vai da boca ao crebro, o lcool lhe subiu logo a este. Bbada, a baratinha caiu dentro do copo. Debateu-se, bebeu mais vinho, ficou mais tonta, debateu-se mais, bebeu mais, tonteou mais e j quase morria quando deparou com o caro do gato domstico que sorria de sua aflio, do alto do copo. Gatinho, meu gatinho , pediu ela me salva, me salva. Me salva que assim que eu sair daqui eu deixo voc me engolir inteirinha, como voc gosta. Me salva. Voc deixa mesmo eu engolir voc? disse o gato. Me saaaalva! implorou a baratinha. Eu prometo. O gato ento virou o copo com uma pata, o liquido escorreu e com ele a baratinha que, assim que se viu no cho, saiu correndo para o buraco mais perto, onde caiu na gargalhada. Que isso? perguntou o gato. Voc no vai sair da e cumprir sua promessa? Voc disse que deixaria eu comer voc inteira. Ah, ah, ah riu ento a barata, sem poder se conter. E voc to imbecil a ponto de acreditar na promessa de uma barata velha e bbada? Moral: s vezes a autodepreciao nos livra do peloto.
A barata prope ao gato um acordo: que ele a salve, em troca de comida (ela prpria). Com isso, ela leva o gato a querer salv-la, a querer tir-la do copo. Tem-se um programa de competncia:
PN de competncia F (propor um acordo) atores distintos [S1 (barata) S2 (gato) aquisio 0v valores modais (querer tirar a barata do copo)
O gato realiza a ao de tirar a barata do copo, cumprindo dessa forma seu programa de perfrmance, com o que espera obter comida.
PN de perfrmance F (virar o copo) mesmo ator [S1 (gato) S2 (gato) aquisio 0v valor (comida) descritivo
28
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A competncia o programa de doao de valores modais ao sujeito de estado, que se torna, com essa aquisio, capacitado para agir. A perfrmance a representao
sinttico-semntica desse ato, ou seja, da ao do sujeito com vistas apropriao dos valores desejados. H dois diferentes tipos de perfrmances: perfrmances de aquisio de valores investidos em objetos j existentes e em circulao entre sujeitos; perfrmances de produo de objetos para serem lugares de investimentos dos valores almejados. Os dois textos citados exemplificam as diferentes perfrmances. O gato, ao comer a barata, objeto j existente e em circulao, teria adquirido o valor de alimento, a que aspirava. Jaso, para obter os valores que deseja, constri um objeto-samba, como lugar de investimento desses valores. As receitas de cozinha so textos de produo de objetos: para conseguir o valor gustativo de bala de coco; pode-se, entre outras possibilidades, fabricar, na cozinha, o objeto por meio de que se ter acesso a tal valor. Os programas narrativos, simples ou complexos, organizam-se em percursos narrativos. Percurso narrativo Um percurso narrativo uma seqncia de programas narrativos relacionados por pressuposio. O encadeamento lgico de um programa de competncia com um programa de perfrmance constitui, por exemplo, um percurso narrativo, denominado percurso do sujeito. O programa de perfrmance pressupe o programa de competncia, no interior do percurso. Dessa forma, o programa de competncia, graas ao qual Jaso passa a querer e a saber-compor, forma, com o programa de perfrmance de fazer sambas, o percurso narrativo do sujeito Jaso, no texto Gota ddgua. Assim, tambm, os programas de aquisio de competncia do gato, que levado a querer salvar a barata, e a ao de salvamento compem o percurso narrativo do sujeito gato, na fbula O gato e a barata. O sujeito de estado, o sujeito do fazer e o objeto foram caracterizados como actantes sintticos, no momento da apresentao do enunciado elementar e do programa narrativo. Os actantes sintticos redefinem-se, no nvel do percurso narrativo, e tornam-se papis actanciais. Nos percursos narrativos do sujeito Jaso e do sujeito gato, acima descritos, determinam-se diferentes papis actanciais, uma vez que os papis no so fixos ou estabelecidos de uma vez por todas, em cada percurso, mas variam de acordo com o progresso narrativo. Dependem da posio que os actantes sintticos ocupam no percurso e da natureza dos objetos-valor com que se relacionam. No percurso do sujeito, em Gota ddgua, Jaso cumpre vrios papis actanciais: sujeito do no-querer e do no-saber-fazer (sujeito de estado em disjuno com o querer e o saber-fazer): No sabia nada de mulher nem de samba/e tinha um puto dum medo de olhar pro mundo); sujeito do querer-ser e do querer-fazer (E mesmo essa ambio que, neste momento se volta contra mim, eu te dei, por engano/... Fabriquei energia que no era tua...), sujeito do saber-fazer, sujeito
29
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
competente para o fazer, sujeito operador ou do fazer (que compe), sujeito realizado pelo fazer e pela obteno dos valores desejados. Na fbula de Millr, o sujeito gato assume os papis actanciais de: sujeito do no-querer-fazer (quando deparou com o caro do gato domstico que sorria de sua aflio, do alto do copo), mas sujeito do saber e do poder-fazer; sujeito do querer-fazer (depois da proposta da barata), sujeito competente (quer, sabe e pode salvar a barata), sujeito operador (o gato ento virou o copo), sujeito no-realizado (no obtm, com a perfrmance, o valor comida, desejado). Se os percursos so definidos pelo encadeamento de programas narrativos, emprega-se, para denomin-los, a noo de actante funcional. Assim, o percurso caracterizado pela seqncia lgica dos programas de competncia e de perfrmance chama-se, como se viu, percurso do sujeito. Esse sujeito no mais o sujeito de estado ou o sujeito do fazer, e sim um actante funcional definido por um conjunto varivel de papis actanciais. H na caracterizao do sujeito algumas determinaes mnimas, entre as quais se encontram a de ser o sujeito de estado afetado, de alguma forma, pelo programa de competncia e a de ser o sujeito realizador da perfrmance ou, ao menos, competente para realiz-la. Os demais papis actanciais faro que o sujeito seja diferente em cada texto. Jaso e o gato no cumprem os mesmos papis actanciais, mas so ambos manifestaes do actante sujeito, em seus respectivos textos. O percurso do sujeito representa, sintaticamente, a aquisio, pelo sujeito, da competncia necessria ao e a execuo, por ele, dessa perfrmance. H diferentes espcies de programas de competncia e de perfrmance e maneiras diversas de se encadearem os programas, havendo, por conseguinte, percursos do sujeito diferenciados em cada texto. O percurso do sujeito no o nico tipo de percurso encontrado na organizao narrativa. Existem dois outros mais: o percurso do destinadormanipulador e o percurso do destinador-julgador. No percurso do destinador-manipulador, o programa de competncia examinado no na perspectiva do sujeito de estado que recebe os valores modais, mas do ponto de vista do sujeito doador ou destinador desses valores, O destinadormanipulador o actante funcional que engloba vrios papis actanciais, entre os quais se encontra necessariamente o de sujeito doador de valores modais. ele, na narrativa, a fonte de valores do sujeito, seu destinatrio: tanto determina que valores sero visados pelo sujeito quanto dota o sujeito dos valores modais necessrios execuo da ao. As aes do sujeito e do destinador diferenciam-se nitidamente: o sujeito transforma estados, faz-ser e simula a ao do homem sobre as coisas do mundo; o destinador modifica o sujeito, pela alterao de suas determinaes semnticas e modais, e faz-fazer, representando, assim, a ao do homem sobre o homem.
30
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
O percurso do destinador-manipulador contm duas etapas hierarquizadas: a de atribuio de competncia semntica e a de doao de competncia modal. A atribuio de competncia semntica est sempre pressuposta na doao de competncia modal, pois preciso que o destinatrio-sujeito creia nos valores do destinador, ou por ele determinados, para que se deixe manipular. Na fbula O gato e a barata, o gato, que sorri da aflio da barata (e j quase morria quando deparou com o caro do gato domstico que sorria de sua aflio, do alto do copo), no estava pensando em comida nem parecia considerar baratas um alimento muito desejvel. Os gatos domsticos so, em geral, bem nutridos e no precisam correr atrs de baratinhas. Foi o destinador barata que se ofereceu como um valor para o gato. S ao acreditar que valia a pena comer a barata, que a barata era um valor alimentar, que o gato cedeu manipulao, isto , passou a querer salvar a baratinha para poder, ao com-la, adquirir o valor a que comeou a aspirar. A segunda etapa do percurso do destinador-manipulador a de atribuio de competncia modal. Essa fase constitui a manipulao propriamente dita, em que o destinador doa ao destinatrio-sujeito os valores modais do querer-fazer, do deverfazer, do saber-fazer e do poder-fazer. Na manipulao, o destinador prope um contrato e exerce a persuaso para convencer o destinatrio a aceit-lo. O fazer-persuasivo ou fazer-crer do destinador tem como contrapartida o fazer-interpretativo ou o crer do destinatrio, de que decorre a aceitao ou a recusa do contrato. No texto O gato e a barata, a barata prope o acordo de salvamento e persuade o gato, fazendo-o acreditar no interesse do contrato (como voc gosta) e confiar nela para o bom cumprimento do compromisso. Quando o gato pergunta Voc deixa mesmo eu engolir voc? e a baratinha responde Me saaaalva! Eu prometo, est em jogo o contrato de f. O gato interpreta a persuaso da barata, nela cr e aceita o acordo. O gato ento... Uma tipologia bastante simples prev quatro grandes classes de manipulao: a provocao, a seduo, a tentao e a intimidao. A relao da me com o filho passa, em geral, por todas as formas de manipulao: Tentao: Se voc come tudo, a mame leva voc para ver o filme da Mnica. Intimidao: Coma tudo, seno voc apanha! Provocao: Duvido que voc seja capaz de comer todo o espinafre! Seduo: Voc um menino to bonito e que gosta tanto da mame, voc vai comer tudo, no ?
31
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A ordem na manipulao depender da relao entre manipulador e manipulado. H os que comeam com a tentao e acabam na intimidao e viceversa. Em Histria de uma gata, encontram-se dois exemplos de manipulao por tentao. No primeiro, o destinador-manipulador dono estabelece um contrato com o destinatrio-sujeito gata, em que o dono oferece gata valores positivos, que ela deseja, tais como alimentos, carinho, luxo, em troca de um bom comportamento, isto , no sair de casa, ser fiel, no se misturar com os gatos de rua, enfeitar a casa. A gata se deixa persuadir, acredita nos valores e no poder do dono, aceita o contrato e passa a querer-fazer o que lhe solicitado, para assim receber os valores contratuais.
Me alimentaram me acariciaram me aliciaram me acostumaram. O meu mundo era o apartamento. Detefon, almofada e trato todo dia fil-mignon ou mesmo um bom fil.., de gato me diziam, todo momento: Fique em casa, no tome vento.
O segundo caso de tentao ocorre quando a gata manipulada pelos gatos de rua, que a tentam com os valores positivos de liberdade e de identidade prpria, a que ela tambm aspira:
Mas duro ficar na sua quando luz da lua tantos gatos pela rua toda a noite vo cantando assim: Ns, gatos, j nascemos pobres porm, j nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio. Felino, no reconhecers.
A fbula de Millr, O leo, o burro e o rato (1978, p. 43-5), pode bem exemplificar os percursos de manipulao por seduo e por intimidao.
Um leo, um burro e um rato voltaram, afinal, da caada que haviam empreendido juntos1 e colocaram numa clareira tudo que tinham caado: dois veados, algumas perdizes, trs tatus, uma paca e muita caa menor. O leo sentou-se num tronco e, com voz tonitruante que procurava inutilmente suavizar, berrou: Bem, agora que terminamos um magnfico dia de trabalho, descansemos aqui, camaradas, para a justa partilha do nosso esforo conjunto. Compadre burro, por favor, voc, que o mais sbio de ns trs (com licena do compadre rato), voc, compadre burro, vai fazer a partilha desta caa em trs partes absolutamente iguais. Vamos,
A conjugao de esforos to heterogneos na destruio do meio ambiente coisa muito comum.
32
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
compadre rato, at o rio, beber um pouco de gua, deixando nosso grande amigo burro em paz para deliberar. Os dois se afastaram, os dois foram ao rio, beberam gua2 e ficaram um tempo. Voltaram e verificaram que o burro tinha feito um trabalho extremamente meticuloso, dividindo a caa em trs partes absolutamente iguais. Assim que viu os dois voltando, o burro perguntou ao leo: Pronto, compadre leo, a est que acha da partilha? O leo no disse uma palavra. Deu uma violenta patada na nuca do burro, prostrando-o no cho, morto. Sorrindo, o leo voltou-se para o rato e disse: Compadre rato, lamento muito, mas tenho a impresso de que concorda em que no podamos suportar a presena de tamanha inaptido e burrice. Desculpe eu ter perdido a pacincia, mas no havia outra coisa a fazer. H muito que eu no suportava mais o compadre burro. Me faa um favor agora divida voc o bolo da caa, incluindo, por favor, o corpo do compadre burro. Vou at o rio, novamente, deixando-lhe calma para uma deliberao sensata. Mal o leo se afastou, o rato no teve a menor dvida. Dividiu o monte de caa em dois. De um lado toda a caa, inclusive o corpo do burro. Do outro apenas um ratinho cinza3 morto por acaso. O leo ainda no tinha chegado ao rio quando o rato o chamou: Compadre leo, est pronta a partilha! O leo, vendo a caa dividida de maneira to justa, no pde deixar de cumprimentar o rato: Maravilhoso, meu caro compadre, maravilhoso! Como voc chegou to depressa a uma partilha to certa? E o rato respondeu: Muito simples. Estabeleci uma relao matemtica entre seu tamanho e o meu claro que voc precisa comer muito mais. Tracei uma comparao entre a sua fora e a minha claro que voc precisa de muito maior volume de alimentao do que eu. Comparei, ponderadamente, sua posio na floresta com a minha e, evidentemente, a partilha s podia ser esta. Alm do que, sou um intelectual, sou todo esprito. Inacreditvel, inacreditvel! Que compreenso! Que argcia!, exclamou o leo, realmente admirado. Olha, juro que nunca tinha notado, em voc, essa cultura. Como voc escondeu isso o tempo todo, e quem lhe ensinou tanta sabedoria? Na verdade, leo, eu nunca soube nada. Se me perdoa um elogio fnebre, se no se ofende, acabei de aprender tudo agora mesmo, com o burro morto. Moral: S um burro tenta ficar com a parte do leo.
No incio da fbula, o leo manipula o burro por seduo, ao apresentar uma imagem positiva da competncia, do saber do burro.
Compadre burro, por favor, voc, que o mais sbio de ns trs (com licena do compadre rato), voc, compadre burro, vai fazer a partilha desta caa em trs partes absolutamente iguais.
O burro deixa-se convencer pelo leo, nele acredita e aceita o contrato, procurando cumpri-lo de modo a confirmar as qualidades de sabedoria que lhe foram atribudas no processo de seduo.
Voltaram e verificaram que o burro tinha feito um trabalho extremamente meticuloso, dividindo a caa em trs partes absolutamente iguais. Assim que viu os dois voltando, o burro perguntou ao leo: Pronto, compadre leo, ai est que acha da partilha?
2
Enquanto estavam bebendo gua, o leo reparou que o rato estava sujando a gua que ele bebia. Mas isso outra fbula. 3 Os ratos devem aprender a se alimentar de ratos. Como diziam os latinos: Similia similibus jantantur.
33
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Se o leo no ficou satisfeito, seu descontentamento deveu-se ao fato de a seduo servir, na verdade, para encobrir um processo de manipulao por intimidao. A intimidao nem sempre faz bem imagem que os poderosos, como o leo, querem que deles se faa. Interessava ao leo matar o burro e ficar com a parte dele na caada, mas preferiu atribuir a culpa da morte burrice do burro e no sua prpria ambio e voracidade.
O leo no disse uma palavra. Deu uma violenta patada na nuca do burro, prostrando-o no cho, morto. Sorrindo, o leo voltou-se para o rato e disse: Compadre rato, lamento muito, mas tenho a impresso de que concorda em que no podamos suportar a presena de tamanha inaptido e burrice. Desculpe eu ter perdido a pacincia, mas no havia outra coisa a fazer.
O mesmo recurso utilizado para manipular o rato, que, no entanto, com base no exemplo do burro, l corretamente a intimidao, sob a aparncia de seduo. Quando o leo prope ao rato uma deliberao sensata, o rato no pensa em comprovar sua sabedoria na art da partilha, mas sim em fazer a diviso que o leo deseja. Interpreta bem a intimidao implcita: ou ele dava toda a caa ao leo ou o leo o matava, como fizera com o burro. O rato reconhece ser o leo capaz de cumprir ameaas e, para evitar os valores negativos que teme, v-se obrigado a atender s pretenses do leo. O final da fbula desmascara a intimidao:
Na verdade, leo, eu nunca soube nada. Se me perdoa um elogio fnebre, se no se ofende, acabei de aprender tudo agora mesmo, com o burro morto.
A fala de Joana, em Gota ddgua, ilustra a manipulao por provocao, ainda que malsucedida. Joana provoca Jaso, chama-o de boneco de farinha e de aproveitador, com o fito de conseguir que ele volte para ela e para os filhos, mostrando, dessa forma, no ser o mau-carter que ela diz. Jaso, porm, no aceita a manipulao, isto , no se preocupa em negar a imagem negativa que ela dele apresenta. Os exemplos examinados permitem organizar os tipos de manipulao segundo dois critrios: o da competncia do manipulador, ora sujeito do saber, ora sujeito do poder, e o da alterao modal, operada na competncia do sujeito manipulado.
34
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
competncia do destinador-manipulador PROVOCAO SEDUO SABER (imagem negativa do destinatrio) SABER (imagem positiva do destinatrio)
alterao na competncia do destinatrio DEVER-FAZER QUERER-FAZER
INTIMIDAO PODER (valores negativos) DEVER-FAZER TENTAO PODER (valores positivos) QUERER-FAZER
A manipulao s ser bem-sucedida quando o sistema de valores em que ela est assentada for compartilhado pelo manipulador e pelo manipulado, quando houver uma certa cumplicidade entre eles. No exemplo acima, Jaso pode escapar manipulao, porque no mais lhe importa o conceito que dele tinham Joana e seus amigos. Mudaram-se seus valores, interessam-lhe agora as opinies de Creonte. No se deixar manipular recusar-se a participar do jogo do destinador, pela proposio de um outro sistema de valores. S com valores diferentes o sujeito se safa da manipulao. Dos trs percursos narrativos propostos, examinaram-se dois, o do sujeito e o do destinador-manipulador. O terceiro percurso, o do destinador-julgador, responde pela sano do sujeito. A sano a ltima fase da organizao narrativa, necessria para encerrar o percurso do sujeito e correlata manipulao. Organizase pelo encadeamento lgico de programas narrativos de dois tipos: o de sano cognitiva ou interpretao e o de sano pragmtica ou retribuio. Na interpretao, o destinador julga o sujeito, pela verificao de suas aes e dos valores com que se relaciona. Essa operao cognitiva de leitura, ou melhor, de reconhecimento do sujeito, consiste na interpretao veridictria dos estados resultantes do fazer do sujeito. Os estados so, dessa forma, definidos como verdadeiros (que parecem e so) ou falsos (que no parecem e no so) ou mentirosos (que parecem, mas no so) ou secretos (que no parecem, mas so), e o destinador neles acredita ou deles duvida. Para assim interpretar, o destinador-julgador verifica a conformidade ou no da conduta do sujeito com o sistema de valores que representa e com os valores do contrato inicial estabelecido com o destinadormanipulador. Cabe ao destinador-julgador comprovar se o sujeito cumpriu o compromisso assumido na manipulao. A interpretao faz-se, assim, em nome de uma ideologia, de que depende o sentido do percurso narrativo realizado. Na fala de Joana, em Gota dgua, o reconhecimento do sujeito ocorre sob a forma do desmascaramento: Jaso parecia cumpridor dos compromissos assumidos com Joana, os filhos e os amigos, mas no o era. Joana o reconhece como um sujeito mentiroso, um boneco de farinha:
35
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
porque o que eu no imaginava, quando fiz dos meus dez anos a mais uma sobre-vida pra completar a vida que voc no tinha, que estava desperdiando o meu alento, estava vestindo um boneco de farinha
Em O gato e a barata, a barata mostra ao gato que ele interpretou mal, que no se deve acreditar em uma barata velha e bbada, mesmo que ela parea dizer a verdade. O poema de Guilherme de Almeida (1982), O bilhete perdido, constri-se a partir da questo da interpretao, isto , da determinao da verdade ou da falsidade e da crena nessa operao.
Duas palavras s para dizer... o qu? Que no pude ir? Mas a senhora... mas... voc no pode acreditar numa histria como essa da gravata que a gente estraalhou na pressa da toilette; da dor de cabea qualquer; da visita de algum... que nunca uma mulher; da tentao do club; do amigo que se encontra na rua, e que casado e, portanto, bilontra, e que convida a gente e pe-se a recordar coisas do nosso tempo ante o zinco de um bar... No me desculpe. Eu penso assim: se ela inventasse, um dia, uma mentira e se eu acreditasse, que pensaria o mundo, e ela mesma, e mesmo eu deste meu pobre amor?... Um grande beijo. Seu
Estraalhar a gravata, dor de cabea, visita ao club, amigo etc. so diferentes aparncias que o poeta desmascara, afirmando que no se pode acreditar nessas mentiras. Crer nelas significaria desculpar o sujeito que no cumpriu o contrato e falsear a sano. Nesse caso o compromisso de amor perder sentido.
36
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Na fbula O leo, o burro e o rato, o rato explica ao leo o que o levou a realizar partilha to justa. O leo reconhece seus valores e, assim sendo, sanciona positivamente o rato. O leo realizou as seguintes operaes de interpretao: num primeiro momento, diz que o rato no parecia arguto e sbio, embora o fosse (Olha, juro que nunca tinha notado, em voc, essa cultura. Como voc escondeu isso o tempo todo, e quem lhe ensinou tanta sabedoria?), em seguida, reconhece o rato como o heri verdadeiro, cumpridor do contrato de dar ao leo a parte do leo. O segundo programa narrativo no percurso do destinador-julgador o da sano pragmtica ou retribuio. O sujeito reconhecido como cumpridor dos compromissos assumidos julgado positivamente e recebe uma retribuio, sob a forma de recompensa. J o sujeito desmascarado, por no ter executado sua parte no contrato, sofre julgamento negativo e punio. A retribuio, como recompensa ou punio, faz parte da estrutura contratual inicial e restabelece o equilbrio narrativo, pois o momento de o destinador cumprir as obrigaes assumidas com o sujeito, na hora da manipulao. Os textos empregados para exemplificar a sintaxe narrativa oferecem diferentes casos de retribuio. Em Histria de uma gata, o sujeito no obedece ao contrato com o dono e, depois de julgamento negativo, recebe a punio de perder as mordomias.
fui barrada na portaria, sem fil e sem almofada por causa da cantoria.
A fala de Joana comea pela apresentao das contas, ou seja, pelo desmascaramento do sujeito, e termina com o castigo: S de ambio, sem amor,/tua alma vai ficar torta, desgrenhada,/aleijada, pestilenta... (p. 76). Em O gato e a barata, ao contrrio, no o sujeito que deixa de cumprir o compromisso, como nos exemplos anteriores, mas o destinador quem no assume sua parte do contrato. A barata, que afirmara ao gato deixar-se engolir, se ele a salvasse, quando livre no faz o prometido. O gato no recebe, assim, a recompensa esperada. A fbula O leo, o burro e o rato oferece um exemplo de retribuio positiva ou recompensa. O rato, interpretado como sujeito que realizou a partilha justa, tem como recompensa o direito de conservar a vida.
37
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Os trs percursos estudados do sujeito, do destinador-manipulador e do destinatrio-julgador organizam-se no esquema narrativo. Esquema narrativo As unidades sintticas da narrativa mantm relao hierrquica, que vai do programa ao esquema narrativo.
Unidades sintaticas esquema narrativo percurso narrativo programa narrativo caracterizao encadeamento lgico de percursos narrativos encadeamento lgico de programas narrativos encadeamento lgico de enunciados actantes actantes funcionais: sujeito, objeto, destinador, destinatrio papis actanciais: sujeito competente, sujeito operador, sujeito do querer, sujeito do saber etc. actantes sintticos: sujeito de estado, sujeito do fazer, objeto
A constituio de cada um dos nveis de organizao narrativa a que consta do quadro da pgina seguinte. O esquema narrativo cannico um modelo hipottico da estruturao geral da narrativa. Cumpre o papel de ser a organizao de referncia, a partir da qual so examinadas as expanses e variaes e estabelecidas as comparaes entre narrativas. O esquema narrativo retoma as contribuies de V. Propp. Os trs percursos componentes do esquema podem ser cotejados com as provas proppianas, qualificante, principal e glorificante. Para Greimas o esquema procura representar, formalmente, o sentido da vida, enquanto projeto, realizao e destino. No se pode ignorar, porm, que, embora se conserve o ponto de vista de Propp na definio do esquema, muitas mudanas ocorreram no estudo da narrativa. A principal delas parece ser o reconhecimento dos dispositivos modais da narrativa, que levam reinterpretao da sintaxe narrativa como uma sintaxe modal.
38
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
39
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
O estudo da narrativa deixou de restringir-se ao exame da ao, para ocuparse tambm da manipulao, da sano e da determinao da competncia do sujeito e de sua existncia passional. Para encerrar este longo captulo sobre a sintaxe narrativa, sero retomadas as duas definies de narrativa inicialmente propostas: sucesso de estados e de transformaes; sucesso de estabelecimentos e de rupturas de contratos. A primeira definio adota a perspectiva do sujeito e de sua ao; a segunda, a das relaes entre o destinador e o destinatrio-sujeito O esquema narrativo engloba os dois pontos de vista e simula a histria do homem. A partir de certos valores e de determinados contratos o homem age e transforma o mundo, procura desses valores. Ope-se, na busca, a sujeitos interessados nos mesmos valores e comprometidos com outros destinadores. Cumprido ou no o acordo, o sujeito, sua ao e os resultados dela s cobraro sentido quando reconhecidos e interpretados no quadro de um sistema de valores. Os esquemas narrativos, assim como as demais unidades sintticas, organizam-se hierarquicamente, podendo um texto contar com um esquema narrativo a que outros estejam subordinados. No texto de Jos Cndido de Carvalho, Toda honestidade tem sua fita mtrica (1972, p. 4-5), h esquemas hierarquizados e delimitam-se claramente os trs segmentos do esquema narrativo, embora a nfase no esteja no percurso do destinador-manipujador.
CRAVINO DIAS, encharcado de gua de matar gato, subiu para o alto da torre da Igreja de Nossa Senhora do Parto e deu de gritar: Vou criar asa, minha gente! Vou virar aeroplano. Se morrer, meu bondoso primo Sicarino Dias, que mora em Morrinhos, est capacitado para mandar um relatrio de minha lavra ao pessoal do governo. Triste de Jacubais do Norte se meu relatrio abrir a boca. Fecha este ninho de sem-vergonhismo, de no abrir em derredor de cem anos. No fica uma reputao em p. Nem o sacristo Cravino Papa-Hstia escapa, que o maior beliscador de popa de moa que j vi. Meu relatrio, povo de Jacubais do Norte, pior que mordida de lobisomem em noite de sexta-feira. Pega todo mundo. pedir a Deus que meu relatrio no saia ventando pelos compartimentos do governo. E madeira de dar em doido! Diante de tamanha ameaa, Jacubais do Norte mobilizou os prstimos do Dr. Varjo Dourado, sujeito de muito respeito, de colarinho engomado, sempre de preto, do chapu s botinas. Nunca, em vinte anos, soltou uma risada. Quando esse boitat chegou na Praa da Matriz, recebeu de Cravino uma tijolada de desmontar os parafusos. Neste jeito empenado: Logo quem vem falar comigo! Varjo do cartrio! Esse, minha gente, no agenta meia sindicncia. Pega logo trinta anos de cadeia no abrir da primeira pgina. Com partezinha de lavrar escrituras, o maior dilapidador de vivas de Jacubais do Norte. No perde uma! Este boitat puxa o estandarte do meu relatrio. Para que esse avassalador papel no rolasse para as mos do governo, como uma cascavel de chocalho aceso, Jacubais do Norte fez uma subscrio de modo a limpar todas as dvidas de Cravino Dias, desde que mamou at que botou sapato no p. Cravino j desceu da torre da Igreja de Nossa Senhora do Parto com um cargo de bons 40
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dinheiros no cartrio do Dr. Varjo Dourado. Quando, tempos depois, o compadre Lulu Reis recordou o caso da torre, Cravino riu e explicou: Compadre, resolvi entrar para o relatrio, abaixo do escrivo Varjo Dourado e do Prefeito Santinho Gomes. Meu tempo de aeroplano j passou. Agora sou da caixa registradora.
No percurso do destinador-manipulador, Cravino Dias manipula por intimidao o povo (aqueles que tm culpa no cartrio) de Jacubais do Norte, propondo-lhe, de forma implcita, um contrato: que lhe garantam uma boa vida, caso contrrio far chegar, com sua morte, s mos do governo, o relato de todas as falcatruas e sem-vergonheiras cometidas pelos do lugar. Cravino, na verdade, intimida o povo com a ameaa de um desmascaramento ou de uma sano negativa. A sano, utilizada como recurso de manipulao, mostra a hierarquia de esquemas. Esquema I
Percurso do destinador-manipulador contrato entre o governo e o povo de Jacubais do Norte, para que cada qual cumpra, honradamente suas obrigaes percurso do sujeito percurso do destinador-julgador
a sano positiva, pois as A ao do sujeito povo de mentiras esto encobertas (o dono Jacubais, na aparncia, d a do cartrio e o sacristo so impresso de bom respeitados e recompensados, por cumprimento do contrato exemplo)
A ameaa de desmascaramento de Cravino conduziria ao julgamento negativo e punio aqueles que no cumpriram as obrigaes sociais e morais assumidas. A sano negativa empregada para a manipulao do povo de Jacubais do Norte e d incio a novo esquema narrativo. Nesse esquema, o papel de destinador cabe a Cravino. Esquema II
percurso destinadormanipulador do percurso do sujeito percurso do destinador-julgador
Cravino manipula o povo de Jacubais do Norte (os importantes do lugar) por intimidao
o sujeito povo de Ja- cubais do Norte exe- cuta as aes de pagar as dvidas e de arrumar emprego para Cravino
o sujeito povo de Jacubais do Norte sancionado positivamente e recebe a recompensa de evitar o desmascaramento e a perda das vantagens
41
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
O texto mostra sobretudo os recursos utilizados pelo destinador Cravino para estabelecer o contrato de confiana e persuadir o destinatrio a aceitar o acordo. O destinatrio, para ser convencido, precisa acreditar em que: a) a ameaa o atinge em coisas que tm, para ele, valor (Triste de Jacubais do Norte se meu relatrio abrir a boca. Fecha este ninho de sem-vergonhismo, de no abrir em derredor de cem anos. No fica uma reputao em p); b) o destinador-manipulador pode (tem poder para) cumprir a ameaa. (Ele precisar, no caso, conhecer as falcatruas e sem-vergonhices que promete delatar. Mostra esse conhecimento ao mencionar alguns fatos: Nem o sacristo Cravino Papa-Hstia escapa, que o maior beliscador de popa de moa que j vi [...] Varjo do cartrio! Esse, minha gente, no agenta meia sindicncia. Pega logo trinta anos de cadeia no abrir da primeira pgina. Com partezinha de lavrar escrituras, o maior dilapidador de vivas de Jacubais do Norte. No perde uma! Este boitat puxa o estandarte do meu relatrio); c) o destinador-manipulador quer, realmente, cumprir a ameaa (o fato de ele subir no alto da torre da Igreja de Nossa Senhora do Parto e de deixar o relatrio com um primo, de nome e endereo citados, fazem crer em sua pretenso). Ao fazer persuasivo do destinador, acima descrito, segue-se o fazer interpretativo do destinatrio, que reconhece como seus os valores empregados na manipulao e acredita na capacidade do destinador em cumprir as ameaas. O destinatrio, assim persuadido, no tem escolha: ou se deixa manipular e fazo que o destinador deseja ou escapa da manipulao e sofre as conseqncias previstas na intimidao. O destinatrio aceita, portanto, a manipulao e o acordo proposto, para evitar os castigos e poder continuar a manter as aparncias e praticar impunemente as falcatruas sugeridas. Como sujeito, realiza, ento, a perfrmance exigida.
Para que esse avassalador papel no rolasse para as mos do governo, como uma cascavel de chocalho aceso, Jacubais do Norte fez uma subscrio de modo a limpar todas as dvidas de Cravino Dias, desde que mamou at que botou sapato no p. Cravino j desceu da torre da Igreja de Nossa Senhora do Parto com um cargo de bons dinheiros no cartrio do Dr. Varjo Dourado.
No percurso do sujeito, o sujeito povo de Jacubais do Norte executa a ao de pagar as dvidas de Cravino, garantir-lhe boa vida e compra, assim, o seu silncio. Consegue que Cravino desa da torre e aceite o emprego no cartrio. O desmascaramento, graas ao do sujeito, foi evitado e no se interrompeu, enfim, o reconhecimento positivo e o recebimento de recompensas, no percurso da sano. Cravino, por sua vez, muda de posio na narrativa. Em lugar de realizar o papel actancial de destinador-manipulador e julgador do povo de Jacubais do Norte, passa a ocupar a casa do sujeito das falcatruas e das sem-vergonhices
42
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
encobertas e recompensadas: Meu tempo de aeroplano j passou. Agora sou da caixa registradora. Esto claros, nesta narrativa, os valores que a organizam e que permitem caracterizar a vida social pelas aparncias que ocultam fraudes e pela honestidade que o dinheiro compra. O desdobramento polmico aparece nos dois esquemas hierarquizados. Dessa forma a ao do sujeito importantes do lugar, com o fim de adquirir dinheiro e prazeres, priva desses valores o anti-sujeito vivas, moas etc. e impede, ao comprar Cravino, no s o desmascaramento do vilo, mas tambm o reconhecimento e a recompensa do verdadeiro heri.
43
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
3 Semntica narrativa
O captulo sobre a semntica narrativa examinar apenas e de modo bem superficial duas questes: a da modalizao e a das paixes dela decorrentes. No percurso gerativo, a semntica narrativa o momento em que os elementos semnticos so selecionados e relacionados com os sujeitos. Para isso, esses elementos inscrevem-se como valores, nos objetos, no interior dos enunciados de estado. Em Histria de uma gata, o sujeito gata est em relao de conjuno com os valores de alimento, abrigo, proteo e amor, inseridos nos objetos manifestados como fil-mignon, apartamento, carinhos. As relaes do sujeito com os valores podem ser modificadas por determinaes modais. A relao de juno existente entre o sujeito gata e o valor alimento est determinada, no texto, como uma relao desejvel a gata quer o valor alimento e possvel a gata pode ter a comida. Do mesmo modo, a relao do sujeito com seu fazer sofre qualificaes modais. A gata, ao ouvir os gatos de rua, passa a querer-fazer alguma coisa sair de casa para obter o valor de liberdade. A modalizao de enunciados de estado tambm denominada modalizao do ser e atribui existncia modal ao sujeito de estado. A modalizao de enunciados do fazer , por sua vez, responsvel pela competncia modal do sujeito do fazer, por sua qualificao para a ao, conforme se verificou nos itens sobre os programas narrativos de competncia e a manipulao. Tanto para a modalizao do ser quanto para a do fazer, a semitica prev essencialmente quatro modalidades: o querer, o dever, o poder e o saber.
44
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Modalizao do fazer Na modalizao do fazer preciso distinguir dois aspectos: o fazer-fazer, isto , o fazer do destinador que comunica valores modais ao destinatrio-sujeito, para que ele faa, e o ser-fazer, ou seja, a organizao modal da competncia do sujeito. Na organizao modal da competncia do sujeito operador, combinam-se dois tipos de modalidades, as virtualizantes, que instauram o sujeito, e as atualizantes, que o qualificam para a ao. O dever-fazer e o querer-fazer so modalidades virtualizantes, enquanto o saber-fazer e o poder-fazer so modalidades atualizantes. Joana, na fala citada, mostra que instaurou Jaso como sujeito, pela atribuio do querer-fazer (e tinha um puto dum medo de olhar pro mundo: E mesmo essa ambio que, neste momento/se volta contra mim, eu te dei, por engano), e qualificou-o para a ao de compor, graas ao saber-fazer (No sabia nada de mulher nem de samba). Joana deu-lhe, portanto, os dois tipos de modalidades necessrias realizao do fazer transformador. Em Psicanlise do acar, a usina e o bang modificam a competncia do acar quanto s modalidades atualizantes, pois o acar j queria e devia adoar, faltava-lhe o poder da purificao ou refinao. Na crnica Toda honestidade tem sua fita mtrica, o destinador Cravino altera a competncia do sujeito no que diz respeito virtualizao e leva-o a deverfazer, para safar-se da ameaa de desmascaramento. O sujeito j se encontra dotado das modalidades atualizantes, pois sabe o que fazer para comprar o destinador e pode faz-lo. Resta mencionar que se estabelece um jogo de compatibilidades e de incompatibilidades de modalidades, na organizao da competncia. No texto acima citado, o sujeito importantes de Jacubais no quer pagar ou perdoar as dvidas de Cravino, tampouco arrumar- lhe emprego, no entanto deve faz-lo, devido intimidao. O dever- fazer dominou o no-querer-fazer nesse texto, embora em outros possa ocorrer o inverso. Testamento, de Manuel Bandeira (1961, p. 129), mostra muitas das relaes entre modalidades compatveis e incompatveis.
O QUE no tenho e desejo que melhor me enriquece. Tive uns dinheiros perdi-os... Tive amores esqueci-os. Mas no maior desespero Rezei: ganhei essa prece. Vi terras da minha terra. Por outras terras andei. Mas o que ficou marcado No meu olhar fatigado, Foram terras que inventei. Gosto muito de crianas: 45
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
No tive um filho de meu. Um filho!... No foi de jeito... Mas trago dentro do peito Meu filho que no nasceu. Criou-me, desde eu menino, Para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia a sade... Fiz-me arquiteto? No pude! Sou poeta menor, perdoai! No fao versos de guerra. No fao porque no sei. Mas num torpedo-suicida Darei de bom grado a vida Na luta em que no lutei! 29 de janeiro de 1943.
H no poema incompatibilidades entre o querer e o saber ou o poder, ou seja, o sujeito quer fazer, mas no o sabe ou pode. Faltam-lhe esses elementos de competncia, e, por conseguinte, o sujeito no se realiza pela ao, no obtm os valores almejados, ao mesmo tempo que se conserva como sujeito virtual, que quer. O poema mostra, porm, que pelo fato de no-saber-fazer (No fao versos de guerra./No fao porque no sei.) ou de no-poder-fazer (No tive um filho de meu./Um filho!... No foi de jeito.../[...] Criou-me, desde eu menino,/Para arquiteto meu pai./Foi-se-me um dia a sade.. ./Fiz-me arquiteto? No pude!), o sujeito virtual do querer desenvolveu um outro saber e um outro poder, qual seja o de fazer na fantasia e na imaginao, o de criar na poesia. Para isso, no lhe falta competncia. A determinao e a organizao da competncia modal do sujeito permitem substituir as casas vazias ou neutras da emisso e da recepo, na teoria da comunicao, por sujeitos dotados de competncia modal varivel (Greimas, 1983, p. 115) e abrem caminho para um melhor tratamento das relaes intersubjetivas. ModaIizao do ser A lingstica e a semitica temeram sempre o psicologismo e evitaram a recada nos estudos de caracteres e de temperamentos, que durante um certo tempo marcaram os estudos do texto. Com medo de incorrerem no mesmo erro, deixaram de lado certos aspectos imprescindveis do exame do texto. O amadurecimento e a segurana, atualmente alcanados nas anlises discursivas, permitiram semitica avanar na abordagem das paixes, sem temer um retrocesso no caminho duramente percorrido. Os resultados dos estudos da modalizao do ser foram, sem dvida nenhuma, fundamentais para esse avano. Dois ngulos devem ser examinados, na modalizao do ser: o da modalizao veridictria, que determina a relao do sujeito com o objeto, dizendoa verdadeira ou falsa, mentirosa ou secreta, e o da modalizao pelo querer, dever,
46
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
poder e saber, que incide especifica- mente sobre os valores investidos nos objetos. As modalidades veridictrias articulam-se como categoria modal, em /ser/ vs. /parecer/.
(Greimas e Courts, s.d., p. 488)
Com a modalizao veridictria substitui-se a questo da verdade pela da veridico ou do dizer verdadeiro: um estado considerado verdadeiro quando um sujeito, diferente do sujeito modalizado, o diz verdadeiro. Parte-se do parecer ou do no-parecer da manifestao e constri-se ou infere-se o ser ou o no-ser da imanncia. O rato da fbula O leo, o burro e o rato interpreta o leo e suas aes: ele parece leo, autoritrio e opressor, na voz tonitruante, ao dar as ordens, ao matar o burro, e o rato infere que ele leo. S o burro acredita na tentativa do leo de esconder sua ferocidade (coro voz tonitruante que procurava inutilmente suavizar, berrou:; Sorrindo, o leo voltou-se para o rato). O burro incorreu no mesmo erro de interpretao que o gato da fbula O gato e a barata. O gato, como bem lembrou a barata, apesar da aparncia pouco confivel de uma barata velha e bbada, concluiu que ela era sincera e nela acreditou. J em Toda honestidade tem sua fita mtrica, o sacristo e o escrivo manifestam um parecer de santidade e de honestidade (Diante de tamanha ameaa, Jacubais do Norte mobilizou os prstimos do Dr. Varjo Dourado, sujeito de muito respeito, de colarinho engomado, sempre de preto, do chapu s botinas. Nunca, em vinte anos, soltou uma risada), mas, por baixo de tanta santidade, Cravino revela a essncia da sem-vergonhice! A modalizao veridictria relaciona-se ao fazer interpretativo, examinado no item sobre manipulao. Diz respeito tambm modalizao do ser, a determinao pelas modalidades do querer, saber, dever e poder da relao do sujeito com os valores. Esse tipo de modalizao altera a existncia modal do sujeito, como ocorre com Jaso, no trecho citado de Gota dgua. Nele, modifica-se a relao de Jaso com o dinheiro e a fama: Jaso queria no ser (ou seja tinha um puto dum medo de olhar pro mundo) e passa, graas a Joana, a no querer no ser e, finalmente, a querer ser (E foi assim, enfim, que eu vi nascer do nada/uma alma ansiosa, faminta, buliosa,/uma alma de homem). Da mesma forma, transforma-se sua relao com o poder, da
47
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
impossibilidade ou no poder ser para a possibilidade ou poder ser. No entanto, surge um segundo horizonte e Joana no mais capaz de tornar possveis todas as relaes que Jaso passou a considerar desejveis. Pode-se representar no esquema da pgina seguinte o percurso modal do sujeito Jaso. Os efeitos de sentido desses dispositivos modais podem ser reconhecidos como medo, ambio ou amor. Em outras palavras, a modalizao do ser produz efeitos de sentido afetivos ou passionais.
1) antes de Joana quer no ser no pode ser 4) com Creonte quer ser pode ser 2) com Joana e o samba quer ser pode ser 3) aps o 1 sucesso quer ser no pode ser
5) segundo a maldio de Joana quer ser no pode ser
As paixes, do ponto de vista da semitica, entendem-se como efeitos de sentido de qualificaes modais que modificam o sujeito de estado. Essas qualificaes organizam-se sob a forma de arranjos sintagmticos de modalidades ou configuraes passionais. A lgica e a psicanlise, em geral, tm preocupaes taxionmicas, quando abordam as paixes. Tomou-se aqui o caminho inverso do processo, ao tentar determinar qual o arranjo modal e qual a estrutura narrativa que caracterizam e sustentam as denominaes de paixes, como a clera, a frustrao, o amor ou a indiferena. Trata-se, em suma, de descrev-las com uma sintaxe narrativa modal em que se examinem as combinaes de modalidades. Numa narrativa, o sujeito segue um percurso, ou seja, ocupa diferentes posies passionais, saltando de estados de tenso e de disforia para estados de relaxamento e de euforia e vice-versa. Distinguem-se paixes simples e paixes complexas, pelo critrio da complexidade sinttica do percurso. As paixes simples resultam de um nico arranjo modal, que modifica a relao entre o sujeito e o objeto-valor; enquanto as paixes complexas so efeitos de uma configurao de modalidades, que se desenvolve em vrios percursos passionais. O conto de Machado de Assis, Papis velhos (1952, p. 133-45), de que se extrairo alguns trechos, fornecer os exemplos necessrios a uma apresentao rpida da semitica das paixes!
Tudo isso iria menos mal, se o Brotero no cobiasse ambas as fortunas, a pasta e a viva; mas, cobi-las, cortej-las e perd-las, sem que ao menos uma viesse consol-lo da perda da outra, digam-me francamente se no era bastante a explicar a renncia do nosso amigo (p. 137).
48
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Nesse conto, o deputado Brotero esperava tanto ser escolhido para ministro no Gabinete que se organizava quanto casar-se com uma viva gentil e abastada, desejos que no se concretizaram. A paixo da cobia (da ambio, do anseio) uma paixo simples: o querer-ser qualifica a relao do sujeito Brotero com os objetos ministrio e viva, fazendo-a desejvel. No necessrio retomar nenhum percurso narrativo modal anterior, para a compreenso do efeito passional da cobia. Acontece diferentemente com as paixes da frustrao e da decepo de Brotero e para as quais parece precisar de consolo. Para se entender a frustrao e a decepo, devem-se prever estados passionais anteriores e transformaes que desemboquem nas situaes de frustrao e de decepo. S o sujeito que ambicionar um objeto-valor e que acreditar poder obt-lo sofrer a frustrao, se no o conseguir; s o sujeito que esperar de outro a realizao de suas aspiraes ficar com ele decepcionado, se elas no se concretizarem. H, portanto, um percurso passional marcado por determinaes modais, que produz os efeitos passionais em exame. As paixes simples decorrem da modalizao pelo querer-ser. H paixes em que o sujeito quer o objeto-valor, como na cobia, na ambio ou no desejo; outras em que o sujeito no quer o objeto-valor, como na repulsa, no medo ou na averso; outras ainda em que ele deseja no ter certos valores, como no desprendimento, na generosidade ou na liberalidade; e, finalmente, aquelas em que o sujeito no quer deixar de ter valores, como na avareza ou na sovinice. As paixes simples diferenciam-se pela intensidade do querer e pelo tipo de valor desejado. O desejo de valores cognitivos caracteriza, por exemplo, a curiosidade ou o querer-saber. As paixes complexas, conforme foi dito acima, prevem a explicao de todo um percurso passional. Ilustram-se as paixes complexas com a carta-renncia de Brotero, dirigida, aps as perdas sofridas, ao Presidente do Conselho, no conto de Machado:
Excelentssimo senhor. H de parecer estranho a V. Ex. tudo o que vou dizer neste papel; mas, por mais estranho que lhe parea, e a mim tambm, h situaes to extraordinrias que s comportam solues extraordinrias. No quero desabafar nas esquinas, na rua do Ouvidor, ou nos corredores da Cmara. Tambm no quero manifestar-me na tribuna, amanh ou depois, quando V. Ex. for apresentar o programa do seu ministrio; seria digno, mas seria aceitar a cumplicidade de uma ordem de coisas, que inteiramente repudio. Tenho um s alvitre: renunciar cadeira de deputado e voltar vida ntima. No sei se, ainda assim, V. Ex. me chamar despeitado. Se o fizer, creio que ter razo. Mas rogolhe que advirta que h duas qualidades de despeito, e o meu da melhor. No pense V. Ex. que recuo diante de certas deputaes influentes, nem que me senti ferido pelas intrigas do A... e por tudo o que fez o B... para meter o C... no ministrio. Tudo isso so coisas mnimas. A questo para mim de lealdade, j no digo poltica, mas pessoal: a questo com V. Ex. Foi V. Ex. que me obrigou a romper com o ministrio dissolvido, mais cedo do que era minha inteno, e, talvez, mais cedo o que convinha ao partido. Foi V. Ex. que, uma vez, em casa do Z..., me disse, a uma janela, que os meus estudos de questes diplomticas me indicavam naturalmente a pasta 49
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
de estrangeiros. H de lembrar-se que lhe respondi ento ser para mim indiferente subir ao ministrio, uma vez que servisse ao meu pas. V. Ex. replicou: muito bonito, mas os bons talentos querem-se no ministrio. Na Cmara, j pela posio que fui adquirindo, j pelas distines especiais de que era objeto, dizia-se, acreditava-se que eu seria ministro na primeira ocasio; e, ao ser chamado V. Ex. ontem para organizar o novo gabinete, no se jurou outra coisa. As combinaes variavam, mas o meu nome figurava em todas elas. que ningum ignorava as finezas de V. Ex. para comigo, os bilhetes em que me louvava, os seus reiterados convites, etc. Confesso a V. Ex. que acompanhei a opinio geral. A opinio enganou-se, eu enganei-me; o ministrio est organizado sem mim. Considero esta excluso um desdouro irreparvel, e determinei deixar a cadeira de deputado a algum mais capaz, e, principalmente, mais dcil. No ser difcil a V. Ex. ach-lo entre os seus numerosos admiradores. Sou, com elevada estima e considerao, De V. Ex. desobrigado amigo, Brotero.
O estado inicial do percurso das paixes complexas denominado por Greimas (1983) estado de espera. A espera define-se pela combinao de modalidades, pois o sujeito deseja um objeto (querer-ser) mas nada faz para consegui-lo e acredita (crer-ser) poder contar com outro sujeito na realizao de suas esperanas ou na obteno de seus direitos. Caracteriza-se, portanto, pela confiana no outro e em si mesmo e pela satisfao antecipada ou imaginada da aquisio do valor desejado. Ao saber impossvel a realizao do seu querer e infundadas as suas crenas, o sujeito passa ao estado de insatisfao e de decepo: relaxamento da espera satisfao (imaginada) confiana inteno insatisfao decepo
Na carta em exame, Brotero exprime claramente sua insatisfao e sua decepo, explicando-as pela espera pressuposta. D nfase sobretudo decepo, crise de confiana em que se encontra no momento de redao da carta: A questo para mim de lealdade, j no digo poltica, mas pessoal: a questo com V. Ex. Foi V. Ex. que me obrigou a romper com o ministrio dissolvido, mais cedo do que era minha inteno, e, talvez, mais cedo do que convinha ao partido. Foi V. Ex. que, uma vez, em casa do Z..., me disse, a uma janela, que os meus estudos de questes diplomticas me indicavam naturalmente a pasta de estrangeiros. H de lembrar-se que lhe respondi ento ser para mim indiferente subir ao ministrio, uma vez que servisse ao meu pas. V. Ex. replicou: muito bonito, mas os bons talentos querem-se no ministrio (p. 135). Nesse trecho, mostra-se que o sujeito acreditava piamente que ia ser escolhido para ministro e que o Conselheiro devia-lhe a indicao pelos acordos anteriormente estabelecidos (As combinaes variavam, mas o meu nome figurava em todas elas. E que ningum ignorava as finezas de V. Ex. para comigo, os bilhetes em que me louvava, os seus reiterados convites, etc. Confesso a V. Ex. que acompanhei a opinio geral) (p. 136). A carta marca bem
50
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
sua desiluso com o Conselheiro, que, a seu ver, foi desleal e no cumpriu sua parte no compromisso assumido, O Conselheiro, no papel de destinador, manipulou o deputado Brotero por tentao, ao acenar-lhe com um ministrio: Brotero agiu de acordo com os desejos do Conselheiro, que no lhe concedeu, em contrapartida, o reconhecimento e retribuio devidos. No o fez ministro, O deputado interpreta o fato de no ter sido indicado como algo extraordinrio, como uma ruptura no percurso narrativo.
H de parecer estranho a V. Ex. tudo o que vou dizer neste papel; mas, por mais estranho que lhe parea, e a mim tambm, h situaes to extraordinrias que s comportam solues extraordinrias (p. 134).
O contrato de confiana estabelecido entre sujeitos no necessariamente um contrato verdadeiro, mas, na maior parte das vezes, um contrato imaginrio, um simulacro (Greimas, 1983). Os simulacros no tm fundamento intersubjetivo, embora determinem, mesmo assim, as relaes entre sujeitos. O Conselheiro, no exemplo, pode sempre afirmar que nunca prometera nada a Brotero, o que no invalida a confiana nele depositada pelo deputado. Brotero construiu um simulacro que determinou seu relacionamento com os outros e tambm suas aes e, de repente, viu malograr sua confiana. As paixes de insatisfao e/ou de decepo denominam-se, em portugus, amargura (efeitos passionais de insatisfao e de decepo), desiluso ou desengano (efeitos passionais de decepo apenas), frustrao (efeitos passionais de insatisfao) e outros. As paixes contrrias, isto , de satisfao e de confiana, ocorrem como alegria e felicidade (efeitos da satisfao pela obteno do objeto), esperana e iluso (efeitos passionais da confiana no outro). Iluso e felicidade eram as paixes de Brotero enquanto acreditava na sua futura indicao para o ministrio e se alegrava com as distines especiais de que era objeto na Cmara e com as finezas do Conselheiro. A notcia da indicao do novo ministrio viria, assim, comprovar-lhe e renovar-lhe a crena e a alegria ou, como aconteceu, lev-lo crise de confiana. A insatisfao e a decepo conduzem, por sua vez, a outros estados, conforme as mudanas narrativas ocorridas: ou se volta situao inicial de confiana e de satisfao, ou se passa, pelo recrudescimento do sentimento de falta ou de perda, s situaes de aflio e de insegurana. A insegurana e a aflio so paixes tensas, resultantes da certeza do sujeito de que no conseguir os valores almejados e de que o sujeito em quem depositou confiana no era dela merecedor. Surge o sentimento de falta, e o sujeito aflito e inseguro encontra-se em situao insustentvel de tenso. A falta resolve-se de duas formas: pela reparao ou pela resignao e conformao. O texto da carta ilustra a insegurana e a aflio de Brotero, assim como sua tentativa de liquidao da falta. A aflio e a insegurana exprimem-se nos trechos como A opinio enganou-se, eu enganei-me; o ministrio est organizado sem
51
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
mim. Considero esta excluso um desdouro irreparvel, e determinei deixar a cadeira de deputado a algum mais capaz, e, principalmente, mais dcil (p. 136), onde se l o desespero pela perda do cargo e a insegurana nos relacionamentos, pois no sabe mais em quem acreditar. A reparao da falta manifesta-se, em primeiro lugar, sob a forma da hostilidade do sujeito para com o responsvel por suas perdas. Ao dizer que renuncia cadeira de deputado (p. 134) ou que a deixa para algum mais capaz e principalmente, mais dcil (p. 136), Brotero rompe o contrato com o destinador desleal, que no cumpriu o compromisso assumido, e registra o sentimento de malquerena que marca seu novo relacionamento com o Conselheiro. Esse desejo de fazer mal instala, pelo querer-fazer, o sujeito reparador da falta. Para liquidar a falta, o sujeito malevolente deve ser ainda modalizado pelo poder-fazer. O poder-fazer manifesta-se como a possibilidade de destruio do ofensor, graas ao desejo desse aniquilamento provocado pelo sentimento de honra ofendida. No texto de Machado, o cargo de deputado oferece a Brotero a possibilidade de prejudicar o Conselheiro: No quero desabafar nas esquinas, na rua do Ouvidor, ou nos corredores da Cmara. Tambm no quero manifestar-me na tribuna, amanh ou depois, quando V. Ex. for apresentar o programa do seu ministrio (p. 134). Qualificado pelo querer-fazer mal a quem o ofendeu e pelo poder de faz-lo, o sujeito Brotero est pronto para reparar a falta, pela vingana ou pela revolta. Trata-se, no caso, de revolta contra o destinador injusto. Segundo Fontanille, o sujeito revoltado rejeita o destinador, mas no os valores que o destinador representa, ou seja, Brotero descr do Conselheiro, mas continua a acreditar no sistema de que faz parte e em que permanece. O sujeito da malevolncia vive as paixes da hostilidade, da antipatia, da averso, enquanto os sujeitos que podem reparar a falta sofrem o dio, a clera, a raiva ou o rancor. Brotero um sujeito encolerizado. Do mesmo modo que a insatisfao e a decepo levam malquerena da hostilidade e do dio, a satisfao e a confiana conduzem benquerena da afeio, sob a forma do amor, da amizade, da estima ou da simpatia. O exemplo escolhido mostrou, em resumo, que as paixes complexas se explicam como uma configurao modal sustentada pela organizao narrativa. O rancor de Brotero define-se pelo querer e poder fazer mal ao destinador que no cumpriu o compromisso assumido, segundo interpretao de Brotero. Brotero percorreu as etapas passionais da espera satisfeita e confiante, da frustrao e da decepo, da aflio e da insegurana devido falta sofrida, que lhe despertaram o rancor to bem expresso na carta. O exame das paixes, sob a forma de percursos modais, explica a organizao semntica da narrativa, ou seja, os estados de alma dos sujeitos, modificados no desenrolar da histria.
52
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
4 Sintaxe discursiva
Sero apresentados nos captulos 4 e 5 os elementos fundamentais para a anlise das estruturas discursivas, tal como os concebe a teoria semitica. A semitica constri os sentidos do texto sob a forma de um percurso gerativo. O nvel discursivo o patamar mais superficial do percurso, o mais prximo da manifestao textual. Pela prpria definio do percurso gerativo, as estruturas discursivas so mais especficas, mas tambm mais complexas e enriquecidas semanticamente, que as estruturas narrativas e as fundamentais. Pelo exame da sintaxe e da semntica do discurso, sero explicadas a especificidade e a complexidade das organizaes discursivas. As estruturas narrativas convertem-se em estruturas discursivas quando assumidas pelo sujeito da enunciao. O sujeito da enunciao faz uma srie de escolhas, de pessoa, de tempo, de espao, de figuras, e conta ou passa a narrativa, transformando-a em discurso. O discurso nada mais , portanto, que a narrativa enriquecida por todas essas opes do sujeito da enunciao, que marcam os diferentes modos pelos quais a enunciao se relaciona com o discurso que enuncia. A anlise discursiva opera, por conseguinte, sobre os mesmos elementos que a anlise narrativa, mas retoma aspectos que tenham sido postos de lado, tais como as projees da enunciao no enunciado, os recursos de persuaso utilizados pelo enunciador para manipular o enunciatrio ou a cobertura figurativa dos contedos narrativos abstratos. A enunciao caracteriza-se, em primeira definio, como a instncia de mediao entre estruturas narrativas e discursivas. Pode, nas diversas concepes lingsticas e semiticas, ser reconstruda a partir sobretudo das marcas que espalha no discurso. nas estruturas discursivas que a enunciao mais se revela e
53
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
onde mais facilmente se apreendem os valores sobre os quais ou para os quais o texto foi construdo. Analisar o discurso , portanto, determinar, ao menos em parte, as condies de produo do texto. Cabe sintaxe do discurso explicar as relaes do sujeito da enunciao com o discurso-enunciado e tambm as relaes que se estabelecem entre enunciador e enunciatrio. O discurso define-se, ao mesmo tempo, como objeto produzido pelo sujeito da enunciao e como objeto de comunicao entre um destinador e um destinatrio. Os dois tipos de mecanismos sintticos confundem-se, em geral, pois os dispositivos empregados na produo do discurso servem tambm de meios de persuaso, utilizados pelo enunciador para convencer o enunciatrio da verdade do seu texto. Projees da enunciao A semitica examina as relaes entre enunciao e discurso sob a forma das diferentes projees da enunciao com as quais o discurso se fabrica. A enunciao projeta, para fora de si, os actantes e as coordenadas espcio-temporais do discurso, que no se confundem com o sujeito, o espao e o tempo da enunciao. Essa operao denomina-se desembreagem e nela so utilizadas as categorias da pessoa, do espao e do tempo. Em outras palavras, o sujeito da enunciao faz uma srie de opes para projetar o discurso, tendo em vista os efeitos de sentido que deseja produzir. Estudar as projees da enunciao , por conseguinte, verificar quais so os procedimentos utilizados para constituir o discurso e quais os efeitos de sentido fabricados pelos mecanismos escolhidos. Vejam-se, em primeiro lugar, os efeitos de sentido que podem ser obtidos pelos diferentes recursos da sintaxe do discurso e, em seguida, quais os procedimentos empregados. Partindo do princpio de que todo discurso procura persuadir seu destinatrio de que verdadeiro (ou falso), os mecanismos discursivos tm, em ltima anlise, por finalidade criar a iluso de verdade. H dois efeitos bsicos produzidos pelos discursos com a finalidade de convencerem de sua verdade, so o de proximidade ou distanciamento da enunciao e o de realidade ou referente. Efeito de proximidade ou de distanciamento da enunciao Alguns trechos de notcias de jornal ajudaro a melhor entender o efeito de aproximao ou de distanciamento da enunciao e seus mecanismos sintticos. H uma certa tradio de objetividade no jornalismo, ou seja, de manter a enunciao afastada do discurso, como garantia de sua imparcialidade. Existem, como bem se sabe, recursos que permitem fingir essa objetividade, que permitem fabricar a iluso de distanciamento, pois a enunciao, de todo modo, est l, filtrando por seus valores e fins tudo o que dito no discurso. O principal procedimento o de produzir o discurso em terceira pessoa, no tempo do ento
54
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
e no espao do l. Esse procedimento denomina-se desembreagem enunciva e ope-se desembreagem enunciativa, em primeira pessoa.
O ministro do Planejamento, Joo Batista de Abreu, disse ontem Folha existirem cofres secretos na administrao pblica e, abrindo-os, fortunas poderiam ser canalizadas a programas sociais ou ver diminudos os rombos oramentrios. (Folha de S. Paulo, 31 jan. 1988, p. 1.) A presidncia da CNBB (Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil) divulgou ontem uma nota dirigida s suas 244 dioceses criticando duramente a atuao do governo e os rumos que vm sendo tomados pelo Congresso Constituinte. (Folha de S. Paulo, 31 jan. 1988.) O presidente da Confederao Nacional da Indstria (CNI), senador Albano Franco (PMDB-SE), 46, est insatisfeito com o fato do grupo poltico que ele lidera na Constituinte um senador e quatro deputados sergipanos (do PMDB e do PDS) ainda no ter tido suas reivindicaes atendidas pelo governo federal. Em conversas privadas com seus colaboradores, Albano reclama de que o Palcio do Planalto tem sido muito mais solcito com a corrente poltica do governador de Sergipe, Francisco Valladares (que do PFL), e admite que, dessa maneira, vai ser difcil fazer com que seus liderados votem em um mandato de cinco anos para o presidente Jos Sarney. (Folha de S. Paulo, 31 jan. 1988.) A durao do mandato do presidente Sarney continua a dividir as opinies no plenrio do Congresso Constituinte de acordo com pesquisa realizada pelo Data Folha, entre os dias 20 e 29 deste ms, junto a 508 dos 559 parlamentares (91%). (Folha de S. Paulo, 31 jan. 1988.)
Os pargrafos iniciais de quatro notcias de jornal mostram o recurso terceira pessoa para a criao da iluso de objetividade. Finge-se distanciamento da enunciao, que, dessa forma, neutralizada e nada mais faz que comunicar os fatos e o modo de ver de outros. Alm de produzir efeito de verdade objetiva, o jornal, com a aparncia de afastamento, evita arcar com a responsabilidade do que dito, j que transmite sempre a opinio do outro, o saber das fontes. O. Ducrot diferencia o locutor, que tem o papel de porta-voz, do enunciador, responsvel pela produo do discurso. Essa separao outra iluso criada, pois o jornal se posiciona como locutor e deixa que outros paream assumir a enunciao. As notcias citadas, e escolhidas sem muito critrio, fornecem exemplos: na primeira, quem diz o ministro do Planejamento e, para bem garantir sua responsabilidade, certas palavras aparecem entre aspas (cofres secretos, fortunas) no discurso indireto, o que assegura resultarem tais expresses de escolhas lingsticas do ministro e no do jornalista; na segunda, retoma-se a nota assinada pela Presidncia da CNBB; na terceira, so lembradas, como fontes de informao, as reclamaes de Albano a seus colaboradores, embora no se saiba como chegaram ao domnio pblico; na quarta, a pesquisa de opinio afiana a objetividade e a imparcialidade.
55
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Se a desembreagem enunciva em terceira pessoa , muito freqentemente, o procedimento usado para tornar o discurso objetivo, o emprego da desembreagem enunciativa em primeira pessoa produz o efeito contrrio. Examinem-se trechos de O ganhador, de Igncio de Loyola Brando (1987):
O fato mais antigo em minha memria registra minha me remendando redes e preparando o farnel pro meu pai caar gatos e cachorros... Minha me aceitava encomendas de coxinhas e meu pai atravessava a cidade pra roubar galinhas bem longe. Aos seis anos me ensinaram a fazer laos pro gato e cachorro e armadilha de apanhar galinha. Era eu quem pulava o muro, meu pai me passava a grande tesoura de podar rvores to pesada que eu mal podia segurar (p. 18). No gostei quando Teixeirinha gravou Corao Materno conseguindo o sucesso que todo mundo sabe e enchendo cuias de dinheiro. Sempre falei mal da msica dele e de muitos outros porque sou ressentido mesmo (p. 73).
A autobiografia, em primeira pessoa, fabrica o efeito de subjetividade na viso dos fatos vividos e narrados por quem os viveu, que os passa, assim, impregnados de parcialidade. Na literatura contempornea, os mecanismos de projeo da enunciao so bastante utilizados para a obteno de efeitos de aproximao ou de distanciamento do sujeito. Os procedimentos so, em geral, complexos e no se revelam com a simplicidade didtica aqui apresentada. Em O ganhador, por exemplo, no texto em terceira pessoa, encontram-se intercaladas pores de autobiografia, que alteram e alternam as projees da enunciao no discurso e os efeitos de sentido resultantes. Alm disso, o discurso em terceira pessoa no fabrica, nesse romance, apenas a iluso de objetividade, pois, embora contada em terceira pessoa, a histria conduzida por um observador que ora se identifica com os diferentes actantes da narrativa, ora deles se afasta e observa distncia:
O gordo era prtico, no ficou caraminholando no. Foi ao recepcionista (p. 19). Os gordos quando so maus descobrem coisas que somente a adiposidade explica (p. 20).
Com esse recurso de duas ou mais vozes confundidas, adotam-se perspectivas variadas e, embora cada uma assuma a sua verdade, o texto, no conjunto, consegue relativiz-las. Os efeitos de enunciao nada mais so que efeitos, obtidos por meio de procedimentos diversos. A enunciao conserva-se sempre pressuposta, nunca manifestada no texto em que se projeta de diferentes formas e com diferentes fins. O quadro abaixo representa a hierarquia na delegao de voz no discurso: enunciador pressuposto [ narrador no discurso [ interlocutor [] interlocutrio ] narratrio do discurso ] enunciatrio pressuposto
56
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
O narrador o delegado da enunciao no discurso em primeira pessoa. O sujeito da enunciao atribui ao narrador a voz, isto , o dever e o poder narrar o discurso em seu lugar. Assim instalado, o narrador pode, por sua vez, ceder internamente a palavra aos inter- locutores. A delegao interna de voz outro dos recursos discursivos de produo de efeitos de sentido. Utiliza-se, muitas vezes, para atribuir ao outro a responsabilidade discursiva, j antes mencionada. Os jornais, por exemplo, pem, com freqncia, palavras no ditas na boca de suas personagens, para criar essa iluso. As delegaes de voz internas, no entanto, concernem mais diretamente o efeito de sentido de realidade ou de referente, a ser examinado a seguir. Nos textos em terceira pessoa h outros procedimentos que assumem o fio do discurso, entre os quais est o observador. O observador , como o narrador, delegado da enunciao, mas no lhe cabe contar a histria e sim determinar um ou mais pontos de vista sobre o discurso e dirigir seu desenrolar. Em O ganhador, como se viu, intercalam-se o narrador em primeira pessoa, no discurso autobiogrfico, com o observador, que observa de ngulos diversos. Acrescentem-se, no exame das projees da enunciao, alguns procedimentos discursivos intimamente ligados delegao de voz e aos efeitos de enunciao decorrentes e que participam da constituio do narrador e do observador. So eles a organizao do saber e as relaes possveis entre os papis do discurso e os papis da narrativa. A enunciao distribui o saber de diferentes modos e obtm efeitos tambm diferenciados. O jornal, por exemplo, utiliza a delegao do saber com um duplo efeito, o de objetividade e o de dono da verdade. Seu discurso transmite, com imparcialidade, o saber de vrias fontes, e o jornalista-observador congrega o conhecimento de todas elas e obtm, assim, a verdade ilimitada e absoluta. O romance policial ingls, bem-sucedido, faz uso, em geral, da desembreagem enunciativa em primeira pessoa e da delegao parcial do saber ao narrador: O amigo ou ajudante do detetive assume a narrao e tem um conhecimento limitado e pouco correto dos fatos que transmite, criando suspense. Agatha Christie utiliza, entre outros, o par Poirot/Hastings. Nas raras ocasies em que optou por outro tipo de ponto de vista, nem sempre foi to bem-sucedida. Em Treze relgios, por exemplo, o texto narrado em terceira pessoa e criam-se problemas de verossimilhana; em A morte de Roger Acroid, romance famoso por ser um dos nicos em que o assassino o prprio narrador, parte essa novidade, os procedimentos formais no so satisfatrios. Nos dois casos, o leitor sente-se um tanto enganado, pois se o narrador ou o observador j sabiam quem era o assassino, por que lhe apresentaram pistas falsas? As relaes entre os papis do discurso e os da narrativa so diversificadas e contribuem para o estabelecimento das perspectivas do discurso. No romance policial ingls clssico, por exemplo, o narrador, geralmente, no assume papel na narrativa ou o faz de modo muito secundrio. Sua funo , realmente, a de narrar,
57
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
com um saber muito limitado, os fatos ocorridos na histria do crime. Por outro lado, como conseguir a ambigidade narrativa de Dom Casmurro, de Machado de Assis, sem recorrer ao discurso subjetivo em primeira pessoa, em que se confundem, no mesmo ator, o narrador e o sujeito principal da narrativa? Ou, ainda, possvel pensar em editoriais de jornal sem a rgida separao entre o observador, que tudo sabe e observa de longe, e os sujeitos da narrativa? Efeito de realidade ou de referente Por efeitos de realidade ou de referente entendem-se as iluses discursivas de que os fatos contados so coisas ocorridas, de que seus seres so de carne e osso, de que o discurso, enfim, copia o real. Como no caso anterior, so iluses criadas, efeitos de sentido produzidos no discurso graas a procedimentos diversos. Na sintaxe do discurso, os efeitos de realidade decorrem, em geral, da desembreagem interna. Quando, no interior do texto, cede-se a palavra aos interlocutores, em discurso direto, constri-se uma cena que serve de referente ao texto, cria-se a iluso de situao real de dilogo. As notcias e entrevistas dos jornais fazem bom uso desses recursos.
A promessa no se traduziu em fatos concretos, mas, semana passada, durante uma audincia no Palcio do Planalto, o senador Albano Franco ouviu, mais uma vez, palavras generosas do maranhense Jos Sarney: Em Sergipe, os meus trs amigos so voc, o Seixas Dria e o Lourival Baptista (senador do PFL). Apesar disso, Albano considera que o Planalto continua em dbito com seu grupo. (Folha de S. Paulo, 31 jan. 1988.)
Toma-se mais uma parte da notcia Se governo no atende pedidos fica difcil forar cinco anos, diz Albano, j citada, para exemplificar o procedimento de desembreagem interna com efeito de referente. As palavras na boca do presidente, em discurso direto, do veracidade a essa fala, pois no se trata de dizer que ele disse, mas de repetir tais quais suas palavras. O referente est claro, a verdade garantida. Teria Sarney dito exatamente isso, nessa ordem, com esses termos, nesse contexto? Nada mais importa, pois a iluso de realidade foi conseguida. Os efeitos de realidade ou de referente so, no entanto, construdos mais freqentemente por meio de procedimentos da semntica discursiva e no da sintaxe, ao contrrio do que ocorre com os efeitos de enunciao. O recurso semntico denomina-se ancoragem. Trata-se de atar o discurso a pessoas, espaos e datas que o receptor reconhece como reais ou existentes, pelo procedimento semntico de concretizar cada vez mais os atores, os espaos e o tempo do discurso, preenchendo-os com traos sensoriais que os iconizam, os fazem cpias da realidade. Na verdade, fingem ser cpias da realidade, produzem tal iluso.
58
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Examine-se o pargrafo abaixo de Dondinho d um jeito, de Srgio Caparelli (1984, p. 7):
A segunda preocupao era o Lobo Mau. Dona Oraida, do Grupo Escolar Dr. Duarte Pimentel de Ulhoa, havia elogiado publicamente sua habilidade de declamador, mas no fim veio a bomba: ele tinha sido escolhido para interpretar o Lobo Mau da pea O Chapeuzinho Vermelho, com estria marcada para o Dia da rvore.
Dona Oraida, o Grupo Escolar Dr. Duarte Pimentel de Ulhoa e o Dia da rvore, entre outros elementos de ancoragem, em nada contribuem para o desenvolvimento da narrativa. No so necessrios o nome da professora, o da escola ou a determinao precisa do dia da estria, a no ser para criar iluso de realidade. Da mesma forma, no texto Ao instalar, s 9,30 de amanh, no Palcio do Planalto, uma solene reunio ministerial enriquecida pela presena dos chefes dos dois poderes da Repblica , o presidente Jos Sarney estar... (Folha de S. Paulo, 31 jan. 1988), o leitor reconhece como reais o momento (9,30 de amanh), o local do Palcio do Planalto e as pessoas do presidente Jos Sarney e dos chefes do Legislativo e do Judicirio, que especificam e concretizam o tempo, o espao e os atores do discurso. Esses elementos ancoram o texto na histria e criam a iluso de referente e, a partir da, de fato verdico, de notcia verdadeira. Se so reais as personagens, os locais e os momentos em que os fatos ocorrem, torna-se verdadeiro todo o texto que a eles se refere. Alguns jornais tm feito meno idade de todos os que citam em suas notcias ou entrevistas, como recurso de criao de efeito de realidade. Dar a idade de professores universitrios chamados a opinar sobre os vestibulares em So Paulo no tem, no texto Professores criticam os principais exames paulistas (Folha de S. Paulo, 31 jan. 1988 2 caderno A-25), nenhuma importncia para a informao a ser transmitida, mas produz a iluso de realidade, pois a idade contribui para construir o professor de carne e osso que avalia os exames. A mesma funo podem ter as fotografias que acompanham as notcias. Qual o papel das fotos dos professores consultados, ao lado de seus comentrios, se no o de servirem de referentes? O papel ancorador da fotografia, muitas vezes pouco ntida, assegurado pela crena ideolgico-cultural no seu carter analgico de cpia do real. A ancoragem actancial, temporal e espacial e a delegao interna de voz so dois dos procedimentos de obteno da iluso de referente ou de realidade. Esse efeito deve ser entendido tambm como o efeito contrrio, de irrealidade ou de fico, de iluso de que tudo imaginao ou mesmo de que no existe o real, a no ser como criao do discurso. Da a frmula Era uma vez, que prende a histria no tempo imaginrio da fantasia, e o No era uma vez..., ttulo de livro infantil de Marcos Rey (1985):
No era uma vez uma cachorrinha. Dissemos que no era uma vez porque antigamente todas as histrias comeavam assim: era uma vez... Esta, a que vamos contar, no uma estria de antigamente, de agora, e nem uma estria pensando bem, pois tudo aconteceu mesmo, no foi imaginao. Dai esse comeo diferente (p. 1).
59
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Os efeitos de sentido de enunciao e de realidade e os mecanismos discursivos que os produzem foram ilustrados com textos verbais. Outros sistemas de significao poderiam ter sido escolhidos, pois as iluses no so apenas da escrita ou da fala, mas se fabricam, com idntica finalidade e com procedimentos semelhantes, na pintura, nos quadrinhos ou na dana. Que se pense nas diferentes projees da enunciao e nos efeitos obtidos ao se examinarem a perspectiva e a ocupao do espao, na pintura, a focalizao e o posicionamento da cmera, no cinema, os jogos de luz e a utilizao do palco, no teatro, e assim por diante. As meninas, de Velasquez, exemplificam procedimentos de ancoragem histrica: o reconhecimento do pintor, de seu ateli ou de pessoas da corte um efeito de referente que conduz o destinatrio aceitao dos valores que se procura passar. Tarefa imprescindvel hoje o estudo comparativo da sintaxe discursiva nos diferentes sistemas de significao. Para concluir, observe-se que, no estudo das projees da enunciao, necessrio examinar os efeitos de sentido do discurso e os procedimentos utilizados em sua produo. Ou seja, no basta reconhecer que este um discurso em primeira pessoa, mas preciso, pela anlise completa do texto, explicar as razes dessa escolha e quais os efeitos que, com essa opo, se obtm. Da mesma forma, no suficiente, para a semitica, assinalar vagamente que o discurso cria iluses de objetividade ou de realidade sem mostrar com que procedimentos discursivos os efeitos foram conseguidos. A relao entre os procedimentos discursivos e os efeitos de sentido depende de cada discurso e dos laos que se estabelecem entre os elementos internos e externos responsveis por sua construo. Nada impede, porm, que se busquem certas indicaes mais gerais, como as aqui traadas. O exame das relaes entre efeitos e mecanismos uma das etapas da construo dos sentidos do texto, de seus fins e de suas verdades. D-se j um grande passo em direo ao contexto scio- histrico e formao ideolgica em que o texto se insere. O estudo das projees da enunciao permite analisar o discurso como objeto produzido por um sujeito que procura construir seu objeto discursivo e atingir um certo fim. Resta abordar, na sintaxe do discurso, os procedimentos argumentativos que definem o discurso como objeto de comunicao manipuladora entre o enunciador e o enunciatrio. Relaes argumentativas entre enunciador e enunciatrio Enunciador e enunciatrio so desdobramentos do sujeito da enunciao que cumprem os papis de destinador e de destinatrio do discurso. O enunciador define-se como o destinador-manipulador responsvel pelos valores do discurso e capaz de levar o enunciatrio a crer e a fazer. A manipulao do enunciador exerce-se como um fazer persuasivo, enquanto ao enunciatrio cabe o fazer interpretativo e a ao subseqente. Tanto a persuaso do enunciador quanto a interpretao do enunciatrio se realizam no e pelo discurso. Para conhecer esses fazeres e,
60
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
conseqentemente, o enunciador e o enunciatrio, torna-se necessrio, portanto, analisar o texto em todos os nveis do percurso gerativo. certamente no nvel das estruturas discursivas que mais se revelam as relaes entre enunciador e enunciatrio, que h mais pistas da enunciao. Dois aspectos principais da manipulao precisam ser examinados: o contrato que se estabelece entre o enunciador e o enunciatrio e os meios empregados na persuaso e na interpretao. Pelo contrato, o enunciador determina como o enunciatrio deve interpretar o discurso, deve ler a verdade. O enunciador constri no discurso todo um dispositivo veridictrio, espalha marcas que devem ser encontradas e interpretadas pelo enunciatrio. Para escolher as pistas a serem oferecidas, o enunciador considera a relatividade cultural e social da verdade, sua variao em funo do tipo de discurso, alm das crenas do enunciatrio que vai interpret-las. O enunciatrio, por sua vez, para entender o texto, precisa descobrir as pistas, compar-las com seus conhecimentos e convices e, finalmente, crer ou no no discurso. Os trechos abaixo citados, extrados de Viagem ao cu, de Monteiro Lobato (1947), oferecem exemplos de persuaso e de interpretao.
Emilia interrompeu-o: Achei um jeito de resolver o caso de saber que astro este. Basta fazermos uma votao. Se a maioria votar que isto a Lua, fica sendo a Lua. assim que os homens l na Terra decidem a escolha dos presidentes: pela contagem dos narizes... Trs narizes a favor da Lua e um a favor da Terra! gritou Pedrinho; A Lua ganhou. Estamos na Lua. Viva a Lua!... A negra sentiu um calafrio. Se a maioria tinha decidido que estavam na Lua, ento estavam mesmo na Lua (p. 38-9). E qual a sua opinio, burro, sobre a formao da Lua? H vrias hipteses. Sim. Uns sbios acham que a Lua foi um pedao da Terra que se desprendeu no tempo em que a Terra ainda estava incandescente. Outros acham que o planeta Saturno foi vtima duma tremenda exploso causada pelo choque dum astro errante. Fragmentos de Saturno ficaram soltos no cu, atraidos por este ou aquele astro. Um dos fragmentos foi atrado pela Terra e ficou a girar em seu redor (p. 40). [...] Um bufo! exclamou a pobre preta, toda sem flego. Ouvi um bufo! H de ser do drago... Pedrinho riu-se. Drago nada, boba. Isso de drago lenda. Como poderia um drago vir da Terra at aqui, se na Terra no h drages? Tudo fbula. E se acaso pudesse um drago vir da Terra at aqui, como viver num astro que no tem gua nem vegetao? Isso de drago na Lua no passa 61
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
de caraminhola de negra velha... Apesar dessas palavras, novo bufo soou. Todos voltaram-se na direo do som e com o maior dos assombros viram sair de dentro duma das crateras a monstruosa cabea do drago de So Jorge (p. 41).
Os trechos de Viagem ao cu mostram as personagens do Stio do Pica-Pau Amarelo na Lua. Misturam-se as noes de astronomia da poca, quatro ou cinco dcadas antes de o homem ir Lua, com as histrias populares, ainda hoje acreditadas, de So Jorge e do drago. Mais um pouco, a cincia astronmica de ento ser dita falsa, enquanto So Jorge continuar verdadeiramente a matar o drago na Lua, na cultura popular. Para as crianas de hoje, os fatos cientficos e a lenda do drago interpretam-se no seio da mesma verdade da fico, em que tudo possvel. O texto procura instalar-se, claramente, como fico ou como mentira. Alm disso, preciso pensar que a viagem Lua tem diferente credibilidade para crianas que sabem j ter o homem ido l vrias vezes. O p de pirlimpimpim torna-se apenas um detalhe. O objetivo do texto de Lobato fazer passar certos valores, ensinar a criana, lev-la a assumir determinadas posies, desenvolver-lhe, sem dvida, o esprito crtico, mas tambm, e sobretudo, a fantasia. Se textos diferentes expem contratos de veridico tambm diversos, enquanto o discurso de Lobato se diz mentiroso, uma notcia de jornal afirma sempre a sua verdade, e todos eles pretendem fazer o destinatrio acreditar nos valores que sustentam. O discurso constri a sua verdade. Em outras palavras, o enunciador no produz discursos verdadeiros ou falsos, mas fabrica discursos que criam efeitos de verdade ou de falsidade, que parecem verdadeiros ou falsos e como tais so interpretados. Por isso, emprega- se o termo veridico ou dizer-verdadeiro, j que um discurso ser verdadeiro quando for interpretado como verdadeiro, quando for dito verdadeiro. Dessa forma, Viagem ao cu de Lobato to verdadeiro ou falso quanto uma notcia sobre a Assemblia Constituinte. Para negar a verdade de um discurso, fortemente elaborada na relao contratual entre enunciador e enunciatrio, duas possibilidades se oferecem. A primeira delas ocorre com os discursos mal construdos, que, portanto, no sero ditos verdadeiros pelo enunciatrio que os interpreta. A outra possibilidade apresenta-se quando um texto inserido no contexto de outros textos e, a partir do confronto, pode-se ento recus-lo, ou seja, diz-lo mentiroso e falso. Dois textos sobre a diminuio dos gastos pblicos sero utilizados para ilustrar a questo.
VEJA Na semana passada o presidente Jos Sarney anunciou um novo plano para a reduo do dficit pblico e a conteno de gastos. O senhor acredita nisso? Scalco Sinceramente, gostaria de acreditar, mas no consigo. O presidente j anunciou at uma reforma administrativa, pela TV, no ano passado, mas no ocorreu nada. Tambm pode at ser necessrio, mas hoje desmoralizante. Cada vez mais eu me conveno de que o problema do dficit o problema do mandato de cinco anos (Veja, 10 tev. 1988, p. 4).
62
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Desde que assumiu o governo, h quase trs anos, o presidente Jos Sarney assinou cinco decretos para tentar fazer valer uma nica ordem: proibido contratar funcionrio na administrao federal. Nenhum dos cinco pegou... Por fim, o prprio presidente Jos Sarney pareceu ser o primeiro a deixar brechas em seus decretos. Na semana passada, enviou mensagem aos ministros admitindo que eles ainda podem contratar: At a concluso da votao da Assemblia Nacional Constituinte, no preencham qualquer cargo, seno dentro da absoluta necessidade administrativa (Veja, 03 fev. 1988, p. 74).
Na entrevista, o vice-lder do PMDB emprega o recurso de confrontar um texto com outros para diz-lo mentiroso e recus-lo. Ao responder que no acredita no discurso do governo de conteno de gastos, ele no se baseia no texto de Sarney, mas em outros tantos textos: o anncio j anteriormente feito, e no cumprido, de uma reforma administrativa, a insistncia na Ferrovia NorteSul, a definio da poltica do governo, por um dos lderes do Centro, os clculos do dficit, os jornais etc. J na segunda citao, o jornalista mostra no prprio texto de Sarney que a inteno de conter os gastos no verdadeira, pois h sempre margem, nos decretos presidenciais, para o empreguismo poltico. Os dois textos recusaram como falso o discurso de Sarney, por meio de procedimentos diferentes. Ele dito falso por Scalco, com base em outros textos, e pelo jornalista, a partir de incoerncias internas. Examinado, rapidamente, o contrato que se estabelece entre enunciador e enunciatrio e que permite determinar o estatuto veridictrio dos textos, resta estudar os procedimentos discursivos utilizados na persuaso e na interpretao. Em outras palavras, devem-se examinar os recursos empregados pelo enunciador para dotar o discurso das marcas de veridico e para fazer o enunciatrio bem reconhec-las. O exame das estratgias discursivas tem sido um dos principais objetivos dos estudos semiticos nos ltimos anos. A esses esforos devem-se somar os das teorias pragmticas e da anlise da conversao, propostas tericas que consideram, todas elas, os mecanismos de interao social como fenmenos sistemticos, cujo conhecimento faz parte das regras que o falante de uma lngua domina. As abordagens pragmticas e conversacionais, porm, tm examinado, por enquanto, aspectos isolados e recortados das estratgias discursivas, em geral na perspectiva da manifestao lingstica. A organizao subjacente dos procedimentos no foi ainda suficientemente estudada. Entre os meios utilizados pelo enunciador para persuadir, arrolam-se os recursos de implicitar ou de explicitar contedos, a prtica de certos atos lingsticos, os mecanismos de argumentao e de reformulao discursiva, entre outros. Esses procedimentos no sero aqui expostos, pois mesmo uma rpida apresentao deles alongaria demais o trabalho. Seria preciso uma incurso, ainda que curta, aos domnios amplos da pragmtica e da anlise da conversao.
63
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Exemplos de textos que utilizam o recurso de implicitar contedos deixaro ao menos entrever a questo to fascinante das estratgias de persuaso. So textos em que se ouvem diferentes vozes. A propaganda da Cobal (Ministrio da Agricultura do Governo Jos Sarney) diz, entre outras coisas:
Com a Cobal tudo o que sai do campo chega melhor at voc.
A informao nova a de que, graas Cobal, melhoraram as relaes entre o produtor e o consumidor, pois se reduziram os efeitos da intermediao especulativa. Alm da voz que assim afirma e que assumida pelo enunciador do texto, outra, uma espcie de voz comum, est a dizer, implicitamente, que tudo que sai do campo chega at voc. Trata-se de uma espcie de conhecimento compartilhado e pressuposto no texto em exame: o agricultor produz e voc consome, a relao equilibrada e sem conflitos, porque h mercado para a produo agrcola, o agricultor tem para quem vender, e h bons produtos a serem consumidos, num pas em que nada falta. Esse contedo pressuposto o fundo comum sobre o qual se assenta o texto e que no pode ser negado, sob pena de interrupo do discurso. O uso dos pressupostos , muito claramente, uma das tticas do enunciado para aprisionar o enunciatrio num dado universo de valores e para deles persuadi-lo. Tina Turner, em entrevista, ao falar sobre seus artistas favoritos na msica pop, diz:
E gosto de Madonna no tanto de sua voz ou de suas msicas, mas de seu visual explosivo, de sua fora de vontade de ser uma estrela a qualquer custo. Ela quer ser maior que todo mundo (Veja, 06 jan. 1988).
Dois diferentes recursos para implicitar contedos so empregados no texto: os pressupostos e os subentendidos. So contedos pressupostos: Madonna faz qualquer coisa para atingir o estrelato e ela no a maior de todas (apenas quer ser). Ao enfatizar o visual explosivo e a fora de vontade de Madonna, Tina deixa tambm subentendido que no tem em grande conta a voz ou as msicas da rival. Esse efeito de sentido reforado por um trecho anterior da entrevista em que Tina critica o rock ingls:
O mais importante no a msica, mas a moda e o visual usados pelos msicos.
A crtica implcita a Madonna expe a grande astcia do subentendido, qual seja a de fazer o enunciatrio entender aquilo que o enunciador pretende dizer, mas que, por razes, em geral sociais, no deve dizer. Tina Turner sempre poder afirmar que s elogiou Madonna.
64
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Vrias vozes foram ouvidas no texto acima: a que afirma gostar de Madonna, a que diz que ela faz qualquer coisa para ser estrela, a que assegura que Madonna no canta nada e deve a fama, antes de tudo, a seu visual explosivo. Apresentou-se aqui uma viso de conjunto de como a semitica concebe a organizao sinttica do discurso. Ressaltaram-se, sobretudo, os laos estreitos que vigem entre procedimentos sintticos e efeitos de sentido e cuja anlise tem sido objeto de estudos semiticos.
65
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
5 Semntica discursiva
Os valores assumidos pelo sujeito da narrativa so, no nvel do discurso, disseminados sob a forma de percursos temticos e recebem investimentos figurativos. A disseminao dos temas e a figurativizao deles so tarefas do sujeito da enunciao. Assim procedendo, o sujeito da enunciao assegura, graas aos percursos temticos e figurativos, a coerncia semntica do discurso e cria, com a concretizao figurativa do contedo, efeitos de sentido sobretudo de realidade. So dois, portanto, os procedimentos semnticos do discurso, a tematizao e a figurativizao. Tematizao Tematizar um discurso formular os valores de modo abstrato e organiz-los em percursos. Em outras palavras, os percursos so constitudos pela recorrncia de traos semnticos ou semas, concebidos abstratamente. Para examinar os percursos devem-se empregar princpios da anlise semntica e determinar os traos ou semas que se repetem no discurso e o tornam coerente. Duas tiras de Quino ilustram os percursos temticos, a coerncia semntica e a redundncia de traos. Por razes didticas de apresentao do exemplo, no sero considerados os investimentos figurativos dos percursos temticos. Na primeira tira (1973) Mafalda abre uma porta e penetra na neblina. Vemse apenas vultos e estabelece-se o dilogo que segue, entre Mafalda e um vulto grande.
66
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Mafalda: Quem est aqui nesta neblina? Vulto: Eu, estou tomando banho. Mafalda: Quem eu? Ah! voc, Mame? Vulto: Claro. Quem voc esperava encontrar aqui? Mafalda: A Scotland Yard.
Na segunda historieta (1973), Mafalda e Susanita brincam sentadas no sof. Mafalda est de olhos fechados e Susanita comea o jogo:
Susanita: Vejo, vejo! Mafalda: O que voc v? Susanita: Uma coisa. Mafalda: De que cor? Susanita responde olhando para o telefone: Negro. Mafalda, espantada: O futuro?
As piadas fornecem, em geral, bons exemplos de coerncia semntica, pois, muitas vezes, a graa do chiste decorre da ruptura dessa coerncia e da proposio de outra leitura. Essa segunda leitura, inesperada, constri-se tambm a partir dos traos semnticos do discurso e liga-se freqentemente primeira, previsvel, por um elemento figurativo. Na primeira tira, a recorrncia de traos semnticos de limpeza permite organizar-se uma leitura com o tema do banho calor e umidade da neblina, banheiro, pessoa que se banha , a que Mafalda contrape outra leitura, de mistrio e de crime em Londres, fundada no na redundncia de semas mas na presena de um nico trao semntico, o da nvoa que oculta. Na segunda histria, o procedimento de contraposio de duas leituras tambm utilizado: o primeiro percurso, proposto por Susanita, uma leitura cosmolgica ou prtica, que resulta da repetio do trao cromtico de cor em negro e telefone; o segundo percurso, apresentado por Mafalda, uma leitura noolgica ou mtica em que se reitera o trao cognitivo mau, triste, em negro e futuro. Dois aspectos, ao menos, precisam ser considerados no exame dos procedimentos de tematizao: a organizao dos percursos temticos, em funo da estruturao narrativa, subjacente, e as relaes entre tematizao e figurativizao. Os percursos temticos resultam, pela definio proposta, da formulao abstrata dos valores narrativos. A recorrncia de um tema no discurso depende, assim, da converso dos sujeitos narrativos em atores que cumprem papis temticos e da determinao de coordenadas espcio-temporais para os percursos narrativos. O percurso narrativo do sujeito que transforma seu estado de sujeira em estado de limpeza converte-se no percurso temtico do banho, nos quadrinhos de Quino: h aquele-que-toma-banho, o local do banho e o calor e a gua que fazem o banho possvel.
67
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
No ator, juntam-se elementos da sintaxe narrativa (um papel actancial, ao menos) e da sintaxe discursiva (a projeo de um eu ou de um ele, por exemplo). O resultado desse casamento sinttico recebe preenchimento semntico, sob a forma de um ou mais papis temticos, e pode, dependendo do texto, ser especificado ou concretizado pelo revestimento figurativo. No exemplo acima, o sujeito narrativo transforma-se de sujo em limpo, projetado no discurso como ele e investido, pelo tema do banho, no papel temtico de aquele-que-se-banha. Tem-se, ento, um ator do discurso. Esse ator poderia ter sofrido maiores especificaes figurativas e ter-se tornado a Joana ou a Ana Maria. Na tira em exame a figurativizao ocorre, sobretudo, por meio de procedimentos visuais. A partir de um nico valor podem-se obter diferentes percursos temticos em um mesmo discurso. Isso acontece, por exemplo, no poema de Bandeira, Porquinho-da-ndia (1961, p. 71-2):
Quando eu tinha seis anos Ganhei um porquinho-da-ndia. Que dor de corao eu tinha Porque o bichinho s queria estar debaixo do fogo! Levava ele pra sala Pra os lugares mais bonitos, mais limpinhos, Ele no se importava: Queria era estar debaixo do fogo. No fazia caso nenhum das minhas ternurinhas... O meu porquinho-da-ndia foi a minha primeira namorada.
Pela anlise da narrativa, constri-se a histria de dois sujeitos: um, em busca de relaes afetivas; outro, por elas reprimido ou a elas indiferente. No nvel discursivo, esse valor ocorre sob a forma de tema amoroso-sexual, em que se trata de amores no correspondidos, ou mesmo impossveis, e de afetos que sufocam; de tema das carncias infantis e dos cuidados excessivos para com a criana; de tema socioeconmico, das diferenas marcadas pela oposio entre a sala e a cozinha. Para estudar a relao entre os procedimentos de tematizao e os de figurativizao, devem-se responder a duas questes: em primeiro lugar, se possvel prever-se a construo de discursos apenas temticos ou no-figurativos; em segundo, se podem ocorrer discursos com vrios temas e uma nica cobertura figurativa, e vice-versa. A segunda questo ser examinada durante a exposio do mecanismo de figurativizao. Quanto primeira, o exerccio da anlise textual no tem mostrado discursos no-figurativos e sim discursos de figurao esparsa. Em outras palavras, os discursos cientficos ou os discursos polticos, entre outros, considerados como discursos no-figurativos, so, na realidade, discursos de figurao espordica, que no chegam a constituir percursos figurativos completos. Dessa forma, a coerncia
68
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
dos discursos de figurao esparsa garantida pela recorrncia temtica. Tais discursos so, por isso mesmo, denominados discursos temticos. Nos discursos temticos enfatizam-se os efeitos de enunciao, isto , de aproximao subjetiva ou de distanciamento objetivo da enunciao, em detrimento dos efeitos de realidade, que dependem mais fortemente dos procedimentos de figurativizao. Um exemplo de figurao esparsa em discurso temtico pode ser encontrado no discurso cientfico.
Por outro lado parece-me que, atravs das leis do discurso, introduzi a guia no ninho da lingstica e gostaria que o uso dessa noo fosse mais controlado do que o atualmente (Ducrot, 1987, p. 13, nota de rodap).
O percurso figurativo formado pela reiterao semntica em guia e ninho interrompe-se no interior do discurso. No h uma leitura figurativa completa que atinja as dimenses do discurso, nem mesmo, no caso, as dimenses de uma pequena nota de rodap. Aos textos de figurao espordica opem-se aqueles em que ocorrem percursos figurativos duradouros, que se espalham pelo discurso inteiro e recobrem, totalmente, os percursos temticos. Figurativizao Pelo procedimento de figurativizao, figuras do contedo recobrem os percursos temticos abstratos e atribuem-lhes traos de revestimento sensorial. Uma narrativa de busca do poder-ser e fazer pode tornar-se um discurso temtico sobre a liberdade com algum recurso figurativo espordico, como nos discursos polticos ou nos textos filosficos, ou apresentar-se como um discurso figurativo, recoberto, em sua totalidade, por figuras. E o caso de Histria de uma gata, de Chico Buarque, texto j analisado, ou dos contos de Rubem Fonseca, em Os prisioneiros (1978). H nesses textos diferentes investimentos figurativos para a mesma busca narrativa tematizada pela liberdade. O objeto em que est investido o valor de poder-ser e fazer da liberdade aparece sob a figura da rua (em Histria de uma gata), do dinheiro, do prestgio ou da cura (em certos contos de Rubem Fonseca). A partir do revestimento figurativo do objeto-valor, todo o percurso do sujeito figurativizado: as transformaes narrativas tornam-se aes de sair de casa, matar, pintar, analisar-se, recusar acordos; o sujeito representa-se pelos atores gata, amante da Condessa, pintor Franz Potocki, cliente do psicanalista; o tempo e o espao determinam-se sob a forma de figuras do tipo de quando luz da lua, naqueles dias, em casa, em fevereiro ou maro, no consultrio do analista. Os exemplos, muito simplificados, mostram nveis diferentes de especificao: Franz Potocki est mais individualizado que gata, fevereiro ou maro marcam um tempo mais delimitado que naqueles dias, e assim por diante. H etapas diferentes na figurativizao: a figurao a instalao das figuras, ou seja, o primeiro nvel de especificao figurativa do tema, quando se passa do tema figura; a iconizao o investimento figurativo exaustivo final, isto , a ltima etapa da figurativizao, com o objetivo de produzir iluso referencial.
69
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Os efeitos da realidade, a que se fez referncia quando se examinaram os procedimentos de ancoragem, resultam, portanto, da iconizao do discurso. Na iconizao, mas tambm nas demais etapas da figurativizao, o enunciador utiliza as figuras do discurso para levar o enunciatrio a reconhecer imagens do mundo e, a partir da, a acreditar na verdade do discurso. O enunciatrio, por sua vez, cr ou no no discurso, graas, em grande parte, ao reconhecimento de figuras do mundo. O fazer-crer e o crer dependem de um contrato de veridico que se estabelece entre enunciador e enunciatrio e que regulamenta, entre outras coisas, o reconhecimento das figuras. O texto de Manuel Bandeira, Poema tirado de uma notcia de jornal (1961, p. 79), emprega fartamente o recurso da iconizao, tal como o fazem as notcias de jornal.
Joo Gostoso era carregador de feira-livre e morava no morro da Babilnia num barraco sem nmero Uma noite ele chegou no bar Vinte de Novembro Bebeu Cantou Danou Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado.
Joo Gostoso individualiza o ator atribuindo-lhe traos de nome prprio e de apelido, que vale pelo sobrenome; morro da Babilnia e barraco sem nmero fazem a localizao espacial concreta, assim como bar Vinte de Novembro e Lagoa Rodrigo de Freitas, entre outros. Os elementos de iconizao produzem, na notcia de jornal, a iluso de realidade dos fatos ocorridos. O poema de Bandeira, ao usar os mesmos recursos e ao dizer-se extrado de notcia de jornal, desmascara a iconizao e sua iluso de concretizao e individuao, ao mesmo tempo que fabrica tambm o efeito de realidade. Desse jogo entre o real e o fictcio surgem a realidade e, ao mesmo tempo, a generalizao das tragdias brasileiras. Procurou-se mostrar que h dois tipos distintos de textos, do ponto de vista dos procedimentos semnticos do discurso: textos temticos de figurao esparsa e textos figurativos. Nos textos figurativos empregam-se, por sua vez, graus diferentes de figurativizao, da figurao iconizao. Neles, o investimento figurativo goza de certa autonomia e ocupa as dimenses do discurso. Equilibramse, portanto, efeitos de realidade e efeitos de enunciao, na construo da verdade discursiva. Os textos figurativos desenvolvem um ou mais percursos figurativos, a partir de configuraes discursivas virtuais. As configuraes englobam vrios percursos e realizam-se por meio deles. Os motivos da etnoliteratura so exemplos de configurao discursiva. Veja-se a configurao do beijo, de que ocorrem percursos no conto da Branca de Neve, no da Bela Adormecida e no do Prncipe que vira sapo, entre outros. Os trs percursos citados tm traos figurativos comuns ou invariantes, tais como as caractersticas tteis do beijo, mas tambm apresentam variao figurativa, sobretudo auditiva e visual e at mesmo ttil. Na Branca de Neve, o prncipe atrado pelo som do choro dos anes ou do canto dos pssaros,
70
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
enquanto na Bela Adormecida tudo silncio. H cores e transparncias, nas flores e caixo de vidro do texto da Branca de Neve, de forte figurativizao cromtica (Branca de Neve, mas vermelhas etc.) e ausncia de cores na escurido do castelo da Bela Adormecida. No conto do Prncipe que vira sapo, acentuam-se os traos visuais e tteis que diferenciam a bela princesa do sapo nojento, frio e viscoso. Os percursos figurativos recobrem, como se sabe, percursos temticos e percursos narrativos. A figura do beijo reveste, na Bela Adormecida e na Branca de Neve, o percurso temtico de doao da vida ou de fazer renascer, comum aos dois textos em que o amor faz reviver. Podem-se ler neles tambm outros temas, tais como o da iniciao sexual ou da passagem da adolescncia idade adulta, na Bela Adormecida, ou o da ascenso social, na Branca de Neve. J em O Prncipe que virou sapo, o beijo recobre o tema da salvao ou da purificao: o amor salva. O Prncipe, tornado sapo como punio por seus pecados, transforma-se de novo em prncipe, redimido pelo beijo de amor. Os percursos temticos e figurativos mantm entre si relaes diversas, como nos exemplos acima apresentados. As relaes entre as leituras possveis de um texto e a coerncia textual sero objeto de exame no prximo item. Coerncia textual Os temas espalham-se pelo texto e so recobertos pelas figuras. A reiterao dos temas e a recorrncia das figuras no discurso denominamse isotopia. A isotopia assegura, graas idia de recorrncia, a linha sintagmtica do discurso e sua coerncia semntica. Distinguem-se dois tipos de isotopia, a isotopia temtica e a isotopia figurativa. A isotopia temtica decorre da repetio de unidades semnticas abstratas, em um mesmo percurso temtico. H, dessa forma, uma isotopia temtica de banho, nos quadrinhos da Mafalda analisados, resultante da retomada dos valores de limpeza ou de purificao em que se lava, onde se lava, ou na ao de lavar-se. Quando se l um texto, busca-se, em geral, o tema que costura os diferentes pedaos do texto, a isotopia temtica em suma. A isotopia figurativa caracteriza-se pela redundncia de traos figurativos, pela associao de figuras aparentadas. A recorrncia de figuras atribui ao discurso uma imagem organizada e completa da realidade. A anlise dos percursos ou linhas isotpicas faz-se pelo exame dos traos semnticos, abstratos e figurativos, que se repetem no discurso. Pode-se recorrer, assim, a princpios e mtodos da semntica estrutural que facilitem a determinao dos traos reiterados. Alm da construo, com esses ou outros princpios, dos percursos temticos e figurativos, necessrio examinar, na busca dos sentidos do texto, as relaes vigentes entre as vrias isotopias. Essas relaes estabelecem-se entre as isotopias figurativas de um mesmo texto, cada uma delas pressupondo uma linha de leitura temtica. Dessa forma, por meio das relaes verticais entre isotopias
71
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
figurativas, ligam-se tambm os diferentes percursos temticos do discurso. As relaes entre isotopias so denominadas metafricas ou metonmicas. Metfora e metonmia no esto sendo consideradas, no caso, como figuras de palavras ou de frases, mas como figuras de discurso. O poema de Melo Neto, O sol em Pernambuco (1975, p. 29), ser apresentado para ilustrar, em anlise rpida, as vrias isotopias temticas e figurativas de um texto e as relaes entre elas.
(O sol em Pernambuco leva dois sis, sol de dois canos, de tiro repetido; o primeiro dos dois, o fuzil de fogo, incendeia a terra: tiro de inimigo.) O sol ao aterrissar em Pernambuco, acaba de voar dormindo o mar deserto dormiu porque deserto; mas ao dormir se refaz, e pode decolar mais aceso; assim, mais do que acender incendeia, para rasar mais desertos no caminho; ou ras-los mais, at um vazio de mar por onde ele continue a voar dormindo. Pinzn diz que o cabo Rostro Hermoso (que se diz hoje de Santo Agostinho) cai pela terra de mais luz da terra (mudou o nome, sobrou a luz a pino); d-se que hoje di na vida tanta luz: ela revela real o real, impe filtros: as lentes negras, lentes de diminuir, as lentes de distanciar, ou do exlio. (O sol em Pernambuco leva dois sis, sol de dois canos, de tiro repetido; o segundo dos dois, o fuzil de luz, revela real a terra: tiro de inimigo.)
Constroem-se no poema diversas isotopias figurativas, entre elas a do fogo, a da luz e a da guerra. A isotopia do fogo delineia-se na primeira estrofe pela repetio dos traos sobretudo tteis de calor: sol, fogo, incendeia, deserto, aceso, acender. A de luz, na segunda estrofe, reitera traos visuais em sol, luz a pino, revela, real, filtros, lentes. Finalmente, a isotopia figurativa da guerra percorre o poema todo, marcada em dois canos, tiro repetido, fuzil, tiro, inimigo, aterrissar, decolar, rasar, di, exlio. Os percursos figurativos apontados recobrem percursos temticos. A figura do fogo que queima liga-se ao tema da seca no Nordeste, que incendeia a terra, acaba com a vida e faz da regio um deserto, um vazio de morte. A figura da luz investe o tema do saber, da revelao da verdade, das tristezas e das injustias encobertas e que doem (em quem?) quando postas mostra. Por sua vez, as figuras da guerra recobrem o tema da luta do homem contra a natureza que queima e contra o homem que oprime e exila e que esconde essa opresso.
72
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A guerra contra a natureza , assim, relida como luta poltica de causas socioeconmicas. A leitura poltica surge graas palavra exlio, principalmente, que tem, no poema, o papel de um desencadeador de isotopias. O desencadeador de isotopias aquele elemento que no se integra facilmente em uma linha isotpica j reconhecida e leva, dessa forma, descoberta de novas leituras. Outros procedimentos facilitam o reconhecimento das isotopias, tais como a determinao dos conectores de isotopias e das relaes intertextuais. Os conectores de isotopias so palavras ou sintagmas que podem ser lidos, sem dificuldades, em vrias isotopias e fazem, dessa forma, a passagem de uma leitura a outra. Aparecem como figuras localizadas no texto. O sol, no poema acima, um conector, com suas acepes possveis de luz, brilho, esplendor, calor etc. As leituras temtico-figurativas propostas, entre outras possveis, para o poema de Melo Neto, esto inter-relacionadas. As linhas de luz e de calor prendemse, entre si, por laos metafricos e ligam-se, metonimicamente, isotopia da guerra que as engloba. Os discursos, conforme foi dito e ilustrado, podem apresentar mais de uma leitura temtico-figurativa. So os discursos pluriisotpicos, de que O sol em Pernambuco um caso exemplar. As isotopias temticas e figurativas asseguram a coerncia semntica do discurso, uma das condies para que o texto seja coerente. A noo de coerncia , em geral, proposta como critrio de definio do texto, pelas diferentes teorias do texto e do discurso, muito embora tais teorias concebam diversamente a coerncia textual. Dessa forma, alm da coerncia semntica do discurso, acima examinada, h nas vrias propostas outros fatores a serem considerados. Entre eles, merecem lembrana a organizao narrativa, que costura o discurso, a argumentatividade, que lhe d direo, e a coeso textual, que emenda, mais superficialmente, as frases. Os fatores de coerncia do texto situam-se em nveis diferentes de descrio e explicao do discurso. A coerncia narrativa localiza-se no nvel das estruturas narrativas; a coerncia argumentativa e a coerncia das isotopias, no nvel das estruturas discursivas. Finalmente, a coeso interfrsica coloca-se fora do percurso gerativo do sentido, no nvel das estruturas textuais. Os quatro procedimentos apontados combinam-se e complementam-se na tarefa de tornar o texto coerente. Estruturas fundamentais Examinadas as estruturas narrativas e discursivas, passa-se ento ao estudo das estruturas fundamentais do texto, primeira etapa do percurso de gerao do sentido de um discurso, tal como o prope a teoria semitica. A ordem de apresentao deve-se ao fato prtico de que mais fcil examinar as estruturas fundamentais depois de apreendidas as organizaes narrativas e discursivas do texto.
73
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
No nvel das estruturas fundamentais, ponto de partida da gerao do discurso, determina-se o mnimo de sentido a partir de que o discurso se constri. Explica-se, nesse patamar, o modo de existncia da significao como uma estrutura elementar, isto , como uma estrutura em que a rede de relaes se reduz a uma nica relao. Trata-se da relao de oposio ou de diferena entre dois termos, no interior de um mesmo eixo semntico que os engloba, pois o mundo no diferena pura. Para tornar-se operatria, a estrutura elementar representada por um modelo lgico, o do quadrado semitico. A figura a seguir, preenchida semanticamente com os contedos fundamentais de dois textos anteriormente analisados, mostra o quadrado semitico e as relaes que representa:
(Histria de uma gata)
(O sol em Pernambuco)
relao entre contrrios relao entre contraditrios relao entre complementares
A representao pelo quadrado das estruturas elementares do texto permite visualizarem-se as relaes mnimas que o definem, o denominador comum de cada texto. Perde-se a especificidade do texto, a ser recuperada nos nveis das estruturas narrativas e discursivas j examinadas, e tambm no patamar textual, apenas entrevisto. Quando se diz de um texto que ele fala de liberdade, que trata da morte ou que se ocupa do amor, est-se examinando sua organizao fundamental, o mnimo de sentido sobre o qual ele se ergue. O contedo fundamental de um texto apresenta-se sob a forma no apenas das relaes acima apontadas mas de relaes orientadas. A orientao das relaes a primeira condio da narratividade. O poema Histria de uma gata constri suas diferentes leituras a partir da oposio entre liberdade e opresso, orientada no sentido da passagem da opresso liberdade. O texto comea pela afirmao da opresso (Me alimentaram... Fique em casa, no tome vento), para em seguida neg-la (Mas duro ficar na sua...) e afirmar a liberdade (Mas agora o meu dia-adia...).
opresso no-opresso liberdade 74
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
J o texto de Melo Neto, O sol em Pernambuco, tem um conjunto maior de operaes. O poema repete, em cada estrofe, a negao da vida pelo sol que rasa desertos e impe filtros e a afirmao da morte no vazio e no exlio. Sobre esse percurso, um outro possvel, em que, pela luta, se negue a morte e se afirme a vida.
vida no-morte morte (morte no-morte vida)
As categorias semnticas, como liberdade vs. opresso ou vida vs. morte, cujas relaes so representadas e operacionalizadas no quadrado semitico, constituem, portanto, o ponto de partida da gerao do discurso. Essas categorias sofrem modificao axiolgica tambm na instncia das estruturas fundamentais, quando determinadas pela categoria tmica que se articula em euforia vs. disforia. A categoria tmica estabelece a relao de conformidade ou de desconformidade do ser vivo com os contedos representados. No texto citado de Chico Buarque, a liberdade conforme ou eufrica, e a opresso, desconforme ou disfrica. A determinao contrria ocorre quando os pais dizem que pretendem tirar os filhos de uma dada escola porque l eles tm muita liberdade. Os textos sero, por conseguinte, euforizantes ou disforizantes, segundo caminhem para o plo conforme ou desconforme da categoria semntica fundamental. Histria de uma gata , por exemplo, um texto euforizante, pois seu percurso est orientado para a liberdade eufrica. Resumidamente, no nvel das estruturas fundamentais, procura-se construir o mnimo de sentido que gera o texto, a direo em que caminha e as pulses e timias que o marcam. Assim construdas, as estruturas fundamentais convertem-se em estruturas narrativas, a narrativa torna-se discurso, o plano de contedo casa-se com o da expresso e faz o texto, o texto dialoga com outros muitos textos, e essa conversa o situa na sociedade e na histria. Essa j , porm, uma outra histria, do prximo captulo.
75
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
6 Alm do percurso gerativo do sentido
Fez-se uma apresentao detalhada, ainda que incompleta, das etapas do percurso de gerao do sentido de um texto, do ponto de vista da teoria semitica. Procurou-se mostrar os passos necessrios para, com essa concepo de texto, construir-lhe os sentidos. Examinou-se, para tanto, principalmente a organizao interna do plano do contedo de um texto. Simplificou-se, assim, enormemente, a questo da anlise textual, e ao menos dois aspectos do problema, que foram at ento deixados de lado, precisam ser recuperados, se no se quiser empobrecer demais a anlise e invalidar o trabalho de construo de sentido. Para concluir esta apresentao da teoria semitica sero, portanto, examinados o ponto de vista da semitica sobre as relaes entre o plano da expresso e o do contedo e o modo como ela encara a instncia da enunciao. Semi-simbolismo O texto resulta da juno do plano do contedo, construdo sob a forma de um percurso gerativo, com o plano da expresso. Essa relao acarreta problemas especficos de linearizao, nos textos verbais, de ocupao do espao, na pintura, de escolha lexical, de coeso e de programao textual e muitos mais. As estruturas textuais esto fora do percurso gerativo do sentido, e o exame do plano da expresso no faz parte das preocupaes da semitica. Tal ponto de vista pode ser mantido sempre que a expresso transparente assume apenas o encargo de suportar o significado ou, como o nome o diz, de expressar o contedo. Em grande nmero de textos, no entanto, a posio da semitica no se sustenta, pois h, nesses textos, interesse em se explicarem as organizaes da expresso para a tarefa de construo dos sentidos. Parece paradoxal, mas, neles, a expresso produz sentido. Alm de cumprir o encargo acima mencionado de expressar o
76
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
contedo, o plano da expresso assume outros papis e compe organizaes secundrias da expresso. As organizaes secundrias da expresso, do mesmo modo que os percursos figurativos do contedo, tm o papel de investir e concretizar os temas abstratos e de fabricar efeitos de realidade. Essas figuras da expresso manifestam-se sob a forma de traos reiterados da expresso. Veja-se o poema de Drummond, Passatempo (1984, p. 89):
O verso no, ou sim o verso? Eis-me perdido no universo do dizer, que, tmido, verso, sabendo embora que o que lavra s encontra meia palavra.
No poema, entre outros recursos de expresso, repetem-se traos consonantais opostos de continuidade e de descontinuidade sonoras. A continuidade ocorre nas fricativas /v/, /s/ e /z/, nas vibrantes e laterais /r/ e /l/ e nas nasais /m/ e /n/. A descontinuidade manifesta-se nas oclusivas /p/, /b/, /t/, /d/ e /k/. Essa oposio da expresso correlaciona-se oposio do contedo que distingue o fluir, o passar, o verter, o correr do verso e do universo, do estancar, do parar, do interromper no perdido, no tmido, no encontra e no embora. As oposies correlacionadas da expresso e do contedo diluem-se na manifestao complexa do dizer (/d/ e /z/), do saber (Is/ e /b/) e, sobretudo, da palavra (/p/ e /v/). A palavra engloba no poema, fora de quaisquer ditames da lgica, os pares contrrios, a continuidade e a descontinuidade, a fluncia e o estancamento. O ttulo do poema retoma o jogo dessas oposies. A oposio sonora da expresso continuidade vs. descontinuidade correlaciona-se, como foi mencionado, com a oposio do contedo fluidez ou fluncia vs. estancamento. A relao entre os planos tem um carter semi-simblico. Em outros termos, uma categoria da expresso, no apenas um elemento, mas uma oposio de traos, correlaciona-se a uma categoria do contedo. Nesses casos, pode-se afirmar que a relao entre expresso e contedo no convencional ou imotivada. A expresso concretiza sensorialmente os temas do contedo e, alm disso, instaura um novo saber sobre o mundo. L-se o mundo a partir de novos prismas; ele repensado e refeito. No poema de Drummond, a continuidade sonora expressa o passar da vida, do tempo e do verso, e o estancamento do contnuo sonoro marca a ruptura ocasionada pela palavra e seu papel de ponto no universo. Os sistemas semi-simblicos podem ser denominados poticos e ocorrem no texto literrio, na pintura, no desenho, na dana, no quadrinho ou no filme, que procuram obter os efeitos acima mencionados de recriao da realidade, de adoo de um ponto de vista novo na viso e no entendimento do mundo. Os estudos semiticos no podem, portanto, deixar de lado, e no mais o fazem, os procedimentos da expresso que fabricam tais efeitos.
77
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Discurso, enunciao e contexto scio-histrico A teoria semitica examina a enunciao enquanto instncia pressuposta pelo discurso, em que deixa marcas ou pistas que permitem recuper-la. Chega-se ao sujeito pelo caminho do discurso, reconstri-se a enunciao por meio da anlise interna do texto: certos procedimentos do texto marcam, nos diferentes patamares do percurso gerativo, a relao entre o discurso e a enunciao pressuposta. Podem-se citar, entre outros, a determinao axiolgica, no nvel das estruturas fundamentais, o conflito ideolgico instalado na narrativa entre os destinadores do sujeito, os valores que o sujeito assume e suas paixes. Mas sobretudo no nvel das estruturas discursivas que a enunciao mais se revela, nas projees da sintaxe do discurso, nos procedimentos de argumentao e na escolha dos temas e figuras, sustentadas por formaes ideolgicas. A anlise interna do texto apreende esses aspectos e mostra que as escolhas feitas e os efeitos de sentido obtidos no so obra do acaso, mas decorrem da direo imprimida ao texto pela enunciao. Ressalta-se o carter manipulador do discurso, revela-se sua insero ideolgica e afasta-se qualquer ida de neutralidade ou de imparcialidade do texto. O exame interno do texto no suficiente, no entanto, para determinar os valores que o discurso veicula. Para tanto, preciso inserir o texto no contexto de uma ou mais formaes ideolgicas que lhe atribuem, no fim das contas, o sentido. Pode-se caminhar nessa direo e executar a anlise contextual, desde que o contexto seja entendido e examinado como uma organizao de textos que dialogam com o texto em questo. Assim concebido, o contexto no se confunde com o mundo das coisas, mas se explica como um texto maior, no interior de que cada texto se integra e cobra sentido. Reconstri-se a enunciao, por conseguinte, de duas perspectivas distintas e complementares: de dentro para fora, a partir da anlise interna das muitas pistas espalhadas no texto; de fora para dentro, por meio das relaes contextuais intertextuais do texto em exame. A enunciao assume claramente, na segunda perspectiva, o papel de instncia mediadora entre o discurso e o contexto sciohistrico. So muitas as dificuldades de delimitao do contexto a ser considerado em cada anlise textual, mas possvel resolv-las, em grande parte, e definir, pelo exame da intertextualidade, a enunciao e o texto que ela produz. A semitica, como se afirmou desde o incio, procura hoje determinar o que o texto diz, como o diz e para que o faz. Em outras palavras, analisa os textos da histria, da literatura, os discursos polticos e religiosos, os filmes e as operetas, os quadrinhos e as conversas de todos os dias, para construir-lhes os sentidos pelo exame acurado de seus procedimentos e recuperar, no jogo da intertextualidade, a trama ou o enredo da sociedade e da histria. Se os estudos do texto buscam, em
78
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
geral, os objetivos comuns de conhecimento do texto e do homem, a semitica pode, quem sabe, somar a outros os passos que tem dado nessa direo.
79
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
7 Vocabulrio crtico
Tendo em vista ser este um livro de introduo aos princpios e mtodos da teoria semitica, procuramos definir ou explicar sempre os termos tcnicos empregados. Retomamos, dessa forma, no vocabulrio crtico, apenas os termos cuja explicao nos pareceu estar muito diluda no corpo do trabalho. Ao: o percurso narrativo da ao ou percurso narrativo do sujeito constitui-se pelo encadeamento lgico dos programas da competncia e da perfrmance, ou seja, o sujeito adquire competncia para uma dada ao e executa-a. Actante: uma entidade sinttica da narrativa que se define como termo resultante da relao transitiva, seja ela uma relao de juno ou de transformao. O actante funcional, por sua vez, caracteriza-se pelo conjunto varivel dos papis que assume em um percurso narrativo. Ancoragem: o procedimento semntico do discurso por meio de que o sujeito da enunciao concretiza os atores, os espaos e os tempos do discurso, atando-os a pessoas, lugares e datas que seu destinatrio reconhece como reais ou existentes e produzindo, assim, o efeito de sentido de realidade ou de referente. Ator: uma entidade do discurso que resulta da converso dos actantes narrativos, graas ao investimento semntico que recebem no discurso. O ator cumpre papis actanciais, na narrativa, e papis temticos, no discurso. Categoria semntica: uma estrutura elementar, ou seja, dois termos de um mesmo eixo semntico, relacionados por oposio de contrrios. Competncia: um tipo de programa narrativo, em que o destinatrio- sujeito recebe do destinador a qualificao necessria ao. Configurao discursiva: , como o motivo da etnoliteratura, uma organizao virtual que engloba vrios percursos figurativos e que se realiza por meio deles.
80
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Contedo: um dos planos da linguagem (Hjelmslev) ou o plano do significado (Saussure) que veiculado pelo plano da expresso, com o qual mantm relao de pressuposio recproca. Desembreagem: a operao pela qual a enunciao projeta os actantes e as coordenadas espcio-temporais do discurso, utilizando, para tanto, as categorias da pessoa, do espao e do tempo. Destinador: o actante narrativo que determina os valores em jogo e que dota o destinatrio-sujeito da competncia modal necessria ao fazer (destinador-manipulador) e o sanciona, recompensando ou punindo-o pelas aes realizadas (destinador-julgador). Destinatrio: o actante narrativo manipulado pelo destinador, de quem recebe a competncia modal necessria ao fazer, e por ele reconhecido, julgado e punido ou recompensado, segundo as aes que realizou. Discurso: o plano do contedo do texto, que resulta da converso, pelo sujeito da enunciao, das estruturas smio-narrativas em estruturas discursivas. O discurso , assim, a narrativa enriquecida pelas opes do sujeito da enunciao que assinalam os diferentes modos pelos quais a enunciao se relaciona com o discurso que enuncia. Discurso figurativo: o discurso em que o investimento figurativo goza de certa autonomia e ocupa as dimenses do discurso, perpassando-o ou recobrindo-o todo, como ocorre nos discursos poticos ou nos religiosos, entre outros. Discurso temtico: o discurso de figurao esparsa ou espordica em que as figuras no chegam a constituir percursos figurativos completos que ocupem as dimenses do discurso. Disforia: um dos termos da categoria tmica euforia vs. disforia, categoria que modifica as categorias semnticas. A disforia marca a relao de desconformidade do ser vivo com os contedos representados. Enunciao: a instncia de mediao entre as estruturas narrativas e discursivas que, pressuposta no discurso, pode ser reconstruda a partir das pistas que nele espalha; tambm mediadora entre o discurso e o contexto scio-histrico e, nesse caso, deixa-se apreender graas s relaes intertextuais. Enunciado: o objeto-textual resultante de uma enunciao. Enunciado de estado: o enunciado narrativo em que dois actantes, sujeito e objeto, se relacionam por juno e que determina o estado ou a situao do sujeito em relao a um objeto qualquer.
81
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Enunciado de fazer: o enunciado narrativo em que dois actantes, sujeito e objeto, se relacionam pela funo de transformao e que representa a passagem de um estado a outro. Enunciado narrativo: a unidade sinttica mais simples da organizao narrativa, em que dois actantes, sujeito e objeto, mantm relao transitiva, de juno ou de transformao. Enunciador: desdobramento do sujeito da enunciao, o enunciador cumpre os papis de destinador do discurso e est sempre implcito no texto, nunca nele manifestado. Enunciatrio: uma das posies do sujeito da enunciao, o enunciatrio, implcito, cumpre os papis de destinatrio do discurso. Esquema narrativo: a unidade maior na hierarquia sinttica da narrativa, que se define pelo encadeamento lgico dos percursos narrativos da manipulao (ou do destinador-manipulador), da ao (ou do sujeito) e da sano (ou do destinadorjulgador). Estrutura elementar da significao: a estrutura em que a rede de relaes se reduz a uma relao de oposio ou de diferena entre dois termos, no interior de um mesmo eixo semntico que os engloba. Estruturas discursivas: o nvel das estruturas discursivas constitui o patamar mais superficial do percurso de gerao do sentido de um texto, o mais prximo da manifestao textual. As estruturas discursivas, enriquecidas semanticamente, so mais especficas e mais complexas que as estruturas narrativas e fundamentais. Estruturas fundamentais: o nvel das estruturas fundamentais o ponto de partida do percurso de gerao do sentido de um texto e, nele, determina-se o mnimo de sentido a partir de que o discurso se constri. Estruturas narrativas: o nvel das estruturas narrativas a etapa intermediria do percurso gerativo do sentido de um texto e, nele, representam-se ou simulam-se, como em um espetculo, o fazer do homem que transforma o mundo, suas relaes com os outros homens, seus valores, aspiraes e paixes. Euforia: um dos termos da categoria tmica euforia vs. disforia, categoria que determina as categorias semnticas. A euforia estabelece a relao de conformidade do ser vivo com os contedos representados. Expresso: um dos planos da linguagem (Hjelmslev) ou o plano do significante (Saussure), que suporta ou expressa o contedo, com o qual mantm relao de pressuposio recproca.
82
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Figura: um elemento da semntica discursiva que se relaciona com um elemento do mundo natural, o que cria, no discurso, o efeito de sentido ou a iluso de realidade. Figurao: a primeira fase do procedimento semntico de figurativizao do discurso, ou seja, a primeira etapa de especificao figurativa do tema, quando se passa, pura e simplesmente, do tema figura. Figurativizao: o procedimento semntico pelo qual contedos mais concretos (que remetem ao mundo natural) recobrem os percursos temticos abstratos. Iconizao: o investimento figurativo exaustivo da ltima fase do procedimento de figurativizao, com o objetivo de produzir iluso referencial ou de realidade. Isotopia: a reiterao de quaisquer unidades semnticas (repetio de temas ou recorrncia de figuras) no discurso, o que assegura sua linha sintagmtica e sua coerncia semntica. Isotopia figurativa: caracteriza-se pela redundncia de traos figurativos, pela associao de figuras aparentadas e correlacionadas a um tema, o que atribui ao discurso uma imagem organizada da realidade. Isotopia temtica: a repetio de unidades abstratas em um mesmo percurso temtico. Manipulao: o percurso narrativo da manipulao ou percurso narrativo do destinador-manipulador aquele em que o destinador atribui ao destinatrio-sujeito a competncia semntica e modal necessrias ao. H diferentes modos de manipular, e quatro grandes tipos de figuras de manipulao podem ser citados: a tentao, a intimidao, a provocao e a seduo. Modalidades veridictrias: as modalidades veridictrias determinam a relao do sujeito com o objeto, dizendo-a verdadeira ou falsa, mentirosa ou secreta. Modalizao: a determinao que modifica a relao do sujeito com os valores (modalizao do ser) ou que qualifica a relao do sujeito com o seu fazer (modalizao do fazer). Narrador: o simulacro discursivo do enunciador, explicitamente instalado no discurso, a quem o enunciador delegou a voz, ou seja, o dever e o poder narrar o discurso em seu lugar. Narratrio: o simulacro discursivo do enunciatrio, explicitamente instalado no discurso pelo narrador.
83
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Objeto: o actante sinttico da narrativa que se define pela relao transitiva de juno ou de transformao que o liga ao sujeito e que, enquanto posio actancial, pode receber investimentos de projetos e de aspiraes do sujeito. Objeto-valor: o objeto determinado pelas aspiraes e projetos do sujeito, por seus valores, em suma. Observador: da mesma forma que o narrador, o observador um delegado da enunciao no discurso, mas no lhe cabe contar a histria e sim determinar um ou mais pontos de vista sobre o discurso e dirigir o seu desenrolar. Paixo: entende-se a paixo como um efeito de sentido de qualificaes modais, que, na narrativa, modificam a relao do sujeito com os valores. O querer-ser, por exemplo, pode produzir o efeito de sentido da ambio. Papel actancial: cada um dos papis assumidos pelos actantes da narrativa e que variam segundo se altere a posio dos actantes no percurso (ex.: papel de sujeito competente, papel de sujeito realizador da ao) ou de acordo com suas relaes com os valores (ex.: papel de sujeito do querer-fazer, papel de sujeito do saber-fazer). Papel temtico: o papel assumido pelos actantes narrativos no interior de um tema ou de um percurso temtico, quando ento os actantes se convertem em atores discursivos. Em narrativa de busca do saber, exemplifique-se com o papel de pesquisador, no quadro temtico da investigao cientfica. Percurso gerativo: para construir o sentido do texto, a semitica concebe seu plano do contedo sob a forma de um percurso de engendramento do ou dos sentidos, que vai do mais simples ao mais complexo, do mais abstrato ao mais concreto e que se organiza em nveis ou lugares de articulao da significao, passveis, cada qual, de descrio autnoma. Percurso narrativo: uma seqncia de programas narrativos de tipos diferentes (de competncia e de perfrmance), relacionados por pressuposio simples. Perfrmance: o programa narrativo que representa a ao do sujeito que se apropria, por sua prpria conta, dos objetos-valor que deseja. Pluriisotopia: a pluriisotopia caracteriza os textos que apresentam mais de uma isotopia ou leitura temtico-figurativa. Programa narrativo: o sintagma elementar da narrativa, que integra estados e transformaes, e que se define como um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado. Quadrado semitico: o modelo lgico de representao da estrutura elementar, que a torna operatria. No quadrado representa-se a relao de contrariedade ou de
84
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
oposio entre os termos e, a partir dela, as relaes de contradio e de complementaridade. Sano: no percurso narrativo da sano ou percurso do destinador-julgador, o destinador interpreta as aes do destinatrio-sujeito, julga-o, segundo certos valores, e d-lhe a retribuio devida, sob a forma de punies ou de recompensas. Semntica: um dos componentes, com a sintaxe, da gramtica semitica e tem por tarefa estudar os contedos investidos nas relaes sintticas, nos diferentes nveis de descrio lingstica ou semitica. Semntica discursiva: cabe-lhe examinar a disseminao dos temas no discurso, sob a forma de percursos, e o investimento figurativo dos percursos. Semntica narrativa: estuda a seleo dos elementos semnticos, sua inscrio como valores nos objetos relacionados com sujeitos e a qualificao modal das relaes dos sujeitos com os valores e com seus fazeres. Semi-simbolismo: fala-se em semi-simbolismo quando uma categoria da expresso, e no apenas um elemento, se correlaciona com uma categoria do contedo. Nesse caso, a relao entre expresso e contedo deixa de ser convencional ou imotivada, pois os traos reiterados da expresso, alm de concretizarem os temas abstratos, instituem uma nova perspectiva de viso e de entendimento do mundo. Sintaxe: um dos componentes, com a semntica, da gramtica semitica e estuda as relaes e regras de combinao dos elementos lingsticos, tendo em vista a construo de unidades variveis (frase, discurso, texto, narrativa etc.), conforme o nvel de descrio lingstica ou semitica escolhido. Sintaxe discursiva: cabe sintaxe discursiva explicar as relaes do sujeito da enunciao com o discurso-enunciado e tambm as relaes argumentativas que se estabelecem entre enunciador e enunciatrio. Sintaxe narrativa: estuda o espetculo narrativo oferecido pelo fazer do sujeito que transforma o mundo, procura dos valores investidos nos objetos, e pela sucesso de estabelecimentos e de rupturas de contratos entre um destinador e um destinatrio, de que decorrem a comunicao e os conflitos entre sujeitos e a circulao de objetos-valor. Sujeito: o actante sinttico da narrativa que se define pela relao transitiva de juno ou de transformao que o liga ao objeto e graas a que o sujeito se relaciona com os valores. Enquanto actante funcional, o sujeito caracteriza-se por um conjunto varivel de papis actanciais, em que ocorrem algumas determinaes mnimas, tais como os papis de sujeito competente para ao e de sujeito realizador da perfrmance.
85
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Tema: um elemento da semntica narrativa que no remete a elementos do mundo natural, e sim s categorias lingsticas ou semiticas que o organizam. Tematizao: o procedimento semntico do discurso que consiste na formulao abstrata dos valores narrativos e na sua disseminao em percursos, por meio da recorrncia de traos semnticos. Texto: resultado da juno do plano do contedo, construdo sob a forma de um percurso gerativo, com o plano da expresso, o texto um objeto de significao e um objeto cultural de comunicao entre sujeitos. Valor: o termo de uma categoria semntica, selecionado e investido em um objeto com o qual o sujeito mantenha relao. a relao com o sujeito que define o valor. Veridico (ou dizer-verdadeiro): um discurso ou um texto ser verdadeiro quando for interpretado como verdadeiro, quando for dito verdadeiro.
86
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
8 Textos analisados
ALMEIDA, Guilherme de. 1982. O bilhete perdido. In: BARROS, Frederico O. P. de, org. Guilherme de Almeida. So Paulo, Abril. p. 24. _____.1982. Sem. In: _____._____. p. 52. ANDRADE, Carlos Drummond de. 1984. Passatempo. In: _____ Corpo. Rio de Janeiro, Record. p. 89. BANDEIRA, Manuel. 1961. Porquinho-da-ndia. In: _____. Antologia potica. 3. ed. Rio de Janeiro, Ed. do Autor. p. 71-2. _____. 1961. Poema _____._____.p.79. tirado de uma notcia de jornal. In:
______ .1961. Testamento. In: _____._____. p. 129. BRANDO, Igncio de Loyola. 1987. O ganhador. So Paulo, Global. BUARQUE, Chico, 1980. Histria de uma gata. In: ______. Chico Buarque. So Paulo, Abril. p. 40. ______. & PONTES, Paulo. 1975. Gota dgua. Rio de Janeiro, Civilizao Brasileira. CAPARELLI, Srgio. 1984. Dondinho d um jeito. Porto Alegre, L & PM. CARVALHO, Jos Cndido de. 1972. Toda honestidade tem sua fita mtrica. In: ______. O ninho de mafagafes. Rio de Janeiro, Jos Olympio. p. 4-5.
87
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
DUCROT, Oswald. 1987. O dizer e o dito. Campinas, Pontes. p. 13. FERNANDES, Millr. 1975. O gato e a barata. In: _____. Novas fbulas fabulosas. So Paulo, Crculo do Livro. p. 17. _____. 1978. O leo, o burro e o rato. In: ______. Novas fbulas fabulosas. 2. ed. Rio de Janeiro, Nrdica. p. 43-5. FONSECA, Rubem. 1978. Os prisioneiros. So Paulo, Codecri. LOBATO, Monteiro. 1947. Viagem ao cu e O saci. So Paulo, Brasiliense. MACHADO DE Pginas recolhidas. 133-45. Assis, Joaquim Maria. 1952. Papis velhos. In: 1 Rio de Janeiro, V. M. Jackson Editores. p.
MELO NETO, Joo Cabral de. 1975. Psicanlise do acar. In: _____. Antologia potica. 3. ed. Rio de Janeiro, Jos Olympio. p. 27. ______. 1975. O sol em Pernambuco. In: ______. ______. p. 29. REY, Marcos. 1985. No era uma vez... So Paulo, Pioneira. p. 1. TEXTOS DE JORNAL, REVISTA E PROPAGANDA. Folha de S. Paulo. 31 jan. 1988; entrevistas e notcias de Veja, 6 jan. 1988, 03 e 10 fev. 1988; propaganda da Cobal.
88
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
9 Bibliografia comentada
A bibliografia de semitica bastante extensa. Optou-se por comentar aqui as obras que apresentam uma viso de conjunto da teoria ou de algum de seus domnios (semitica literria, sociossemitica etc.). BARROS, Diana Luz Pessoa de. 1988. Teoria do discurso; fundamentos semiticos. So Paulo, Atual. A autora apresenta uma viso de conjunto da teoria, em que se incluem algumas das questes atualmente em estudo, tais como a modalizao da narrativa, os procedimentos sintticos do discurso, a organizao passional e as relaes entre o texto e o contexto. CHABROL, Claude, org. 1977. Semitica narrativa e textual. So Paulo, Cultrix/Edusp. Original francs de 1973. Confronto de diferentes modelos de anlise do texto. Vejam-se, sobretudo, o artigo de A. S. Greimas sobre os actantes, os atores e as figuras, e o de T. A. van Dijk sobre as gramticas textuais. COQUET, Jean-Claude, org. 1982. Smiotique; Lcole de Paris. Paris, Hachette. O livro contm uma longa apresentao da Escola Semitica de Paris, por J.-C. Coquet, e ensaios de diversos autores sobre alguns dos domnios da semitica: discursos folclricos e mticos, religiosos, literrios, polticos e linguagens planares.
89
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
COURTES, Joseph. 1976. Introduction la smiotique narrative et discursive. Paris, Hachette. O autor faz uma boa apresentao dos fundamentos tericos da semitica, em que faltam, porm, pela poca em que foi elaborada, noes bsicas, como a de percurso gerativo do sentido, e aplica o modelo s verses francesas do conto Cinderela. FIORIN, Jos Luiz. 1988. Linguagem e ideologia. So Paulo, tica. (Srie Princpios, 137.) Para examinar as relaes que a linguagem mantm com a ideologia, o autor distingue, com clareza, o discurso do texto e estuda principalmente as estruturas discursivas. _____. Elementos de anlise do discurso. 1989. So Paulo, Contexto/Edusp. (Col. Repensando a Lngua Portuguesa.) Introduo clara aos problemas da anlise semitica do discurso, em que o autor explicita os mecanismos de estruturao e de interpretao de textos e examina sobretudo os procedimentos sintticos e as figuras semnticas do discurso. FLOCH, Jean-Marie. 1985. Petites mythologies de loeil e de lesprit; pour une smiotique plastique. Paris Amsterd, Hads Benjamins. Rene estudos essenciais para o desenvolvimento da semitica do visual ou do visvel e apresenta anlises de pinturas, propagandas, fotografias etc. GREIMAS, Algirdas Julien. 1975. Sobre o sentido; ensaios semiticos. Petrpolis, Vozes. Original francs de 1970. Os ensaios reunidos em Sobre o sentido apresentam os elementos fundamentais da teoria e da metodologia semiticas. Vejam-se sobretudo a Introduo e os ensaios dedicados ao Jogo das restries semiticas, em que se desenha, pela primeira vez, o quadrado semitico, aos Elementos de uma gramtica narrativa e s Condies de uma semitica do mundo natural, em que se delineiam as relaes entre as lnguas naturais e o mundo natural e se examina a gestualidade. _____. 1976. Maupassant la smiotique du texte; exercices pratiques. Paris, Seuil. Anlise semitica exemplar do conto Deux amis, de Maupassant. Os princpios e os instrumentos metodolgicos da anlise mostram-se no decorrer da leitura. ______. 1983. Du sens II; essais smiotiques. Paris, Seuil.
90
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Como o primeiro, Sobre o sentido, rene ensaios fundamentais para o estgio atual de desenvolvimento da teoria semitica, tais como A modalizao do ser e Sobre a clera, estudos bsicos para o exame das paixes; La soupe au pistou, uma anlise narrativa de uma receita de cozinha, ou O saber e o crer, em que se examinam questes de veridico e de interpretao. _____. org. 1976. Ensaios de semitica potica. So Paulo, Cultrix. Original francs de 1972. Vejam-se principalmente o texto introdutrio de A. J. Greimas, em que se define a especificidade da semitica potica pelo postulado da correlao entre o plano da expresso e o do contedo, e o de F. Rastier, Sistemtica das isotopias, em que se desenvolve a noo de isotopia figurativa. _____ & LANDOWSKI, E., ds. 1979. Introduction lanalyse du discours en sciences sociales. Paris, Hachette. Contm estudos semiticos de discursos argumentativos ou no- figurativos, entre os quais se encontra o texto bsico de Greimas sobre o discurso cientfico. ______ & COURTS, J. s.d. Dicionrio de semitica. So Paulo, Cultrix. Publicado em francs em 1979, o Dicionrio de semitica faz a mais completa apresentao de conjunto da teoria, naquela data, e, principalmente, apresenta a concepo de engendramento do sentido sob a forma de um percurso gerativo. _____ & COURTS, J., ds. 1986. Smiotique. Dictionnaire raisonn de la thorie du langage; complments, dbats, propositions. Paris, Hachette. v. II. Rene contribuies de diferentes semioticistas que revem, completam, modificam e discutem verbetes do Dicionrio 1. GROUPE dEntrevernes. 1979. Analyse smiotique des textes; introduction, thorie, pratique. Lyon, PUL. Iniciao aos mtodos da anlise semitica, com aplicao em um texto de A. Daudet. O livro no conta, no entanto, com os desenvolvimentos mais recentes da semitica, sobretudo em relao s estruturas discursivas. HNAULT, Anne. 1979 et 1983. Les enjeux de la smiotique; 1 et 2. Paris, PUF. A autora apresenta e discute os princpios gerais da teoria semitica. LANDOWSKI, Eric. 1989. La socit rphchie; essais de sociosmiotique. Paris, Seuil.
91
Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
A partir do exame de domnios diversos como o poltico, o jurdico, o ideolgico e o das relaes quotidianas, o autor procura apreender as interaes realizadas, por meio do discurso, entre sujeitos individuais ou coletivos e propor uma semitica das interaes sociais. LATELLA, Graciela. 1985. Metodologias y teoria semitica; anlisis de Emma Zun de J. L. Borges. Buenos Aires, Hachette. A autora apresenta rapidamente os princpios gerais da teoria semitica e demorase, um pouco mais, nos desenvolvimentos recentes da sintaxe modal e da semitica da manipulao. Aplica o modelo a um conto de J. L. Borges, em que examina sobretudo a figura de manipulao da astcia. ZILBERERG, Claude. 1981. Essai sur les modalits tensives. Amsterd, Benjamins. O autor rev o percurso gerativo do sentido e prope, entre outras contribuies, as modalidades tensivas, fundamentais para o desenvolvimento das questes da aspectualizao dos discursos e da semitica das paixes. Revistas ACTES SMIOTIQUES. Bulletin do GRSL (Grupo de Investigaes Smiolingsticas da Escola de Altos Estudos em Cincias Sociais); quatro nmeros anuais, desde 1978. ACTES SMIOTIQUES. Documents do GRSL; dez nmeros anuais, desde 1979. SIGNIFICAO. Revista Brasileira de Semitica, publicao do Centro de Estudos Semiticos, So Paulo; sete nmeros publicados, desde 1973.
92
Você também pode gostar
- Elementos de Semiótica da Comunicação: 3ª ediçãoNo EverandElementos de Semiótica da Comunicação: 3ª ediçãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2)
- AS RELAÇÕES LÓGICO-SEMÂNTICAS DE PROJEÇÃO EM TEXTOS ACADÊMICOSNo EverandAS RELAÇÕES LÓGICO-SEMÂNTICAS DE PROJEÇÃO EM TEXTOS ACADÊMICOSAinda não há avaliações
- Introdução à linguística: fundamentos epistemológicosNo EverandIntrodução à linguística: fundamentos epistemológicosAinda não há avaliações
- Quem mexeu no meu texto?: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualNo EverandQuem mexeu no meu texto?: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualAinda não há avaliações
- Referenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemNo EverandReferenciação e ideologia: a construção de sentidos no gênero reportagemAinda não há avaliações
- Em busca do texto perfeito: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualNo EverandEm busca do texto perfeito: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Pensadores da análise do discurso: Uma introduçãoNo EverandPensadores da análise do discurso: Uma introduçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Linguagem, tradução, literatura: Filosofia, teoria e críticaNo EverandLinguagem, tradução, literatura: Filosofia, teoria e críticaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Análise do Discurso e Literatura: A Constituição de Sentidos e Sujeitos em "As Horas Nuas" de Lygia Fagundes TellesNo EverandAnálise do Discurso e Literatura: A Constituição de Sentidos e Sujeitos em "As Horas Nuas" de Lygia Fagundes TellesAinda não há avaliações
- Obra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneasNo EverandObra aberta: Forma e indeterminação nas poéticas contemporâneasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Linguística Textual: Diálogos InterdisciplinaresNo EverandLinguística Textual: Diálogos InterdisciplinaresAinda não há avaliações
- Primeiras impressões: O nascimento da cultura impressa e sua influência na criação da imagem do BrasilNo EverandPrimeiras impressões: O nascimento da cultura impressa e sua influência na criação da imagem do BrasilAinda não há avaliações
- Hjelmslev, Louis - Prolegômenos A Uma Teoria Da LinguagemDocumento158 páginasHjelmslev, Louis - Prolegômenos A Uma Teoria Da LinguagemBeatriz Bastos100% (6)
- A Semiótica e o Círculo de Bakhtin: A Polifonia em DostoiévskiNo EverandA Semiótica e o Círculo de Bakhtin: A Polifonia em DostoiévskiAinda não há avaliações
- No ritmo do texto: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualNo EverandNo ritmo do texto: Questões contemporâneas de edição, preparação e revisão textualNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- MAINGUENEAU, Novas Tendências em Análise Do Discurso (1993) PDFDocumento190 páginasMAINGUENEAU, Novas Tendências em Análise Do Discurso (1993) PDFmilton_mauadc100% (4)
- Estudos de Linguagem: Léxico e DiscursoNo EverandEstudos de Linguagem: Léxico e DiscursoAinda não há avaliações
- Literatura e subjetividade: Aspectos da formação do sujeito nas práticas do ensino médioNo EverandLiteratura e subjetividade: Aspectos da formação do sujeito nas práticas do ensino médioAinda não há avaliações
- Introdução à linguística: domínios e fronteiras - volume 1No EverandIntrodução à linguística: domínios e fronteiras - volume 1Nota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Atos de Fala Generos TextuaisDocumento23 páginasAtos de Fala Generos Textuaisapi-3768299100% (6)
- Leitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensNo EverandLeitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensAinda não há avaliações
- Introdução à linguística: domínios e fronteirasNo EverandIntrodução à linguística: domínios e fronteirasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Representações do outro: Discurso, (des)igualdade e exclusãoNo EverandRepresentações do outro: Discurso, (des)igualdade e exclusãoAinda não há avaliações
- Discursos, identidades e letramentos: Abordagens da análise de discurso críticaNo EverandDiscursos, identidades e letramentos: Abordagens da análise de discurso críticaAinda não há avaliações
- Linguística & Direito: a Polifonia na Petição InicialNo EverandLinguística & Direito: a Polifonia na Petição InicialAinda não há avaliações
- Semiotica e Midia EbookDocumento257 páginasSemiotica e Midia Ebookpati4c80% (5)
- As Ciências Do LéxicoDocumento13 páginasAs Ciências Do LéxicoAlexandre Melo de Sousa100% (2)
- A Geolinguística no Brasil: caminhos percorridos, horizontes alcançadosNo EverandA Geolinguística no Brasil: caminhos percorridos, horizontes alcançadosAinda não há avaliações
- A Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanNo EverandA Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanAinda não há avaliações
- Estudos SemióticosDocumento350 páginasEstudos SemióticosNoemi Marx100% (3)
- Análise do discurso: caracterização discursiva de um sermão de C. H. SpurgeonNo EverandAnálise do discurso: caracterização discursiva de um sermão de C. H. SpurgeonAinda não há avaliações
- VOLCHINOV - Marxismo e Filosofiapdf-1Documento187 páginasVOLCHINOV - Marxismo e Filosofiapdf-1Michelle100% (1)
- Dicionário de Lingüística e FonéticaDocumento276 páginasDicionário de Lingüística e FonéticaVania Laube BomfimAinda não há avaliações
- PINTO Milton Comunicacao e Discurso Introducao Analise DiscursoDocumento64 páginasPINTO Milton Comunicacao e Discurso Introducao Analise DiscursoClaudia GomesAinda não há avaliações
- BAKHTIN, M. Problemas Da Poética de Dostoiévski. 3 Ed. 2002Documento145 páginasBAKHTIN, M. Problemas Da Poética de Dostoiévski. 3 Ed. 2002GabrielAinda não há avaliações
- Dicionario de Semiotica GREIMAS Algirdas J COURTES JosephDocumento247 páginasDicionario de Semiotica GREIMAS Algirdas J COURTES Josephguilhermewr100% (3)
- O Signo Da Poesia e Da Prosa-ECO UmbertoDocumento12 páginasO Signo Da Poesia e Da Prosa-ECO UmbertoJoana Junqueira100% (1)
- Enunciação e Semiótica - FiorinDocumento29 páginasEnunciação e Semiótica - FiorinLevi MerencianoAinda não há avaliações
- Kenedy Linguística GerativismoDocumento268 páginasKenedy Linguística GerativismoTayse MarquesAinda não há avaliações
- Interpretação e Superinterpretação. Umberto EcoDocumento194 páginasInterpretação e Superinterpretação. Umberto EcoDirceu Maués100% (5)
- 3B - Prova - 9 Ano PDFDocumento5 páginas3B - Prova - 9 Ano PDFFlavia NascorAinda não há avaliações
- Teste Portugues 8 Ano Texto Poetico RedacaoDocumento4 páginasTeste Portugues 8 Ano Texto Poetico RedacaoPaula SantosAinda não há avaliações
- Novo Acordo Ortografico Da Lingua PortuguesaDocumento21 páginasNovo Acordo Ortografico Da Lingua PortuguesaLuciana NoronhaAinda não há avaliações
- Exames - Mensagem: Exame 2022 1 FaseDocumento8 páginasExames - Mensagem: Exame 2022 1 FaseSara AlvesAinda não há avaliações
- Inventário Nacional de Referências CulturaisDocumento42 páginasInventário Nacional de Referências CulturaisLilianBritoAlvesAinda não há avaliações
- Velho e o MarDocumento8 páginasVelho e o MarMarina PeriniAinda não há avaliações
- TOPA, Francisco. de Luuanda A Luandino, VeredasDocumento198 páginasTOPA, Francisco. de Luuanda A Luandino, VeredasPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- Literatura e Gêneros Literários 2° SemestreDocumento3 páginasLiteratura e Gêneros Literários 2° SemestremarcioAinda não há avaliações
- Lições de Boemia - Paulo Mendes CamposDocumento4 páginasLições de Boemia - Paulo Mendes CamposjohnfauAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto Literatura de Cordel 5 AnoDocumento2 páginasInterpretacao de Texto Literatura de Cordel 5 AnoGarden Diaverdinho0% (1)
- A Arte Como ProcedimentoDocumento10 páginasA Arte Como ProcedimentoNeide JallageasAinda não há avaliações
- Sobre o Livro Maranhão Sobrinho - Poesia EsparsaDocumento2 páginasSobre o Livro Maranhão Sobrinho - Poesia EsparsaKissyan CastroAinda não há avaliações
- Figuras de EstiloDocumento10 páginasFiguras de Estiloletícia sílva100% (2)
- Fuv2010 2fase Prova1Documento14 páginasFuv2010 2fase Prova1marlisemachadoAinda não há avaliações
- Cicatrizes Textuais e Um Encontro EscuroDocumento27 páginasCicatrizes Textuais e Um Encontro EscuroJoão Guilherme DayrellAinda não há avaliações
- Esboço Programa 16dez Tarde2Documento2 páginasEsboço Programa 16dez Tarde2VILMA MOTA QUINTELAAinda não há avaliações
- Obatala e A Criacao Do Mundo Ioruba AmostraDocumento53 páginasObatala e A Criacao Do Mundo Ioruba AmostraLuísinhoAndradeAinda não há avaliações
- Aula Costa Lima - Das Belas-Letras Ao Uso Do Termo LiteraturaDocumento61 páginasAula Costa Lima - Das Belas-Letras Ao Uso Do Termo LiteraturaVitor CeiAinda não há avaliações
- Caderno Leituras Carlos Drummond de Andrade PDFDocumento160 páginasCaderno Leituras Carlos Drummond de Andrade PDFBaruch BronenbergAinda não há avaliações
- Avaliação 3bimestre CasadioDocumento2 páginasAvaliação 3bimestre CasadioProfa. Leidiane LeiteAinda não há avaliações
- Análise Do Poema CalmaDocumento5 páginasAnálise Do Poema CalmaMargarida FontesAinda não há avaliações
- Estrutura D'os LusÍadasDocumento11 páginasEstrutura D'os LusÍadasRosalina Simão Nunes100% (4)
- Guia DomCasmurroDocumento30 páginasGuia DomCasmurrokaoriAinda não há avaliações
- Unidade 3 - Capítulo 1 - Som e Letra: Letra de Música, Canção e PodcastDocumento27 páginasUnidade 3 - Capítulo 1 - Som e Letra: Letra de Música, Canção e PodcastAndressa RochaAinda não há avaliações
- Tendo em Conta A Sua Experiência de Leitura de Os Lusíadas de Luís de CamõesDocumento2 páginasTendo em Conta A Sua Experiência de Leitura de Os Lusíadas de Luís de CamõesAmelia SousaAinda não há avaliações
- 7. Atividade - ClassicismoDocumento2 páginas7. Atividade - ClassicismoRaquel MoreiraAinda não há avaliações
- Experiências - Bernadette MayerDocumento2 páginasExperiências - Bernadette MayerTayná SaezAinda não há avaliações
- PROVA UESB - Primeiro Dia - PROVA 4Documento25 páginasPROVA UESB - Primeiro Dia - PROVA 4Jonas SalaAinda não há avaliações
- Auto Do Fidalgo Aprendiz - 0001Documento38 páginasAuto Do Fidalgo Aprendiz - 0001Carolina LosaAinda não há avaliações
- Projeto Paulo FreireDocumento7 páginasProjeto Paulo FreireFatima AlvesAinda não há avaliações