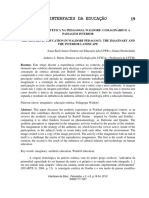Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Ilusão Teórica Da Comunicação
A Ilusão Teórica Da Comunicação
Enviado por
AndersonTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Ilusão Teórica Da Comunicação
A Ilusão Teórica Da Comunicação
Enviado por
AndersonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
COMUNICAO, TEMPO E ENUNCIAO
A iluso terica no campo da comunicao
RESUMO
Uma forma possvel de iniciar esta discusso beira o
Este artigo compara o contedo de livros intitulados
Teoria da Comunicao publicados por autores brasileiros
nos ltimos dez anos. O estudo mostra que h uma
coincidncia de apenas 23,25% a respeito dos modelos,
teorias e autores considerados teoria da comunicao.
Isso leva a dois outros problemas, a indefinio do objeto e a perspectiva interdisciplinar da epistemologia da
comunicao.
trusmo: existem livros de Teoria da Comunicao, bem
como nos cursos superiores dessa rea existe uma disciplina de mesmo nome, ocupando geralmente dois semestres. Portanto, deve haver algum tipo de conhecimento agrupado sob o nome de Teoria da
Comunicao, que ensinada e sobre o qual se publicam livros. A existncia nos cursos de Comunicao de
uma disciplina com esse nome torna razovel supor,
tambm, que alunos tenham aulas dessa matria e professores se preparem para lecionar. No entanto, uma
anlise comparativa dos livros que levam o nome dessa
disciplina mostram que h pouco consenso sobre a
noo. Isso indica que no existe um consenso sobre o
que teoria da comunicao. Um crtico apressado poderia concluir que os professores esto ensinando algo
que ningum sabe exatamente o que .
No entanto, para alm dessa ironia superficial, esconde-se um problema referente ao prprio status do
campo da comunicao. No existe unidade conceitual nas bibliografias que costumamos qualificar de comunicao, e em cada territrio geogrfico-cultural os
estudos de comunicao assumem feies diferentes
(Felinto, 2007, p. 47).
O objetivo deste texto delinear o que se entende por
teoria da comunicao a partir do contedo das publicaes recentes assim intituladas. Com isso possvel ter uma viso panormica dos problemas epistemolgicos e histricos que perpassam o trabalho terico.
Pertencem ao corpus desta pesquisa os livros intitulados Teoria da Comunicao (ou Teorias) publicados por
autores brasileiros nos ltimos dez anos.
No est em pauta, seno de maneira tangencial,
uma anlise das condies de produo e dinmicas
das foras em jogo para a definio do que comunicao. A idia no observar o campo de fora, com a
iluso, tantas vezes cultivada, de ser o nico indivduo
objetivado e capaz de ter uma viso panormica. Ao
contrrio, justamente como participante do jogo e,
portanto, compartilhando dvidas e questionamentos
a respeito da prtica terica e docente que se procura
discutir algumas questes relativas Teoria da Comunicao.
O estudo da teoria da comunicao evidentemente
no se restringe s obras publicadas sob esse ttulo.
Alis, seria possvel dizer que a maior parte dos estudos assim reconhecidos no se agrupam sob essa rubrica. No entanto, o aspecto de sistematizao histrica
ou classificatria desses livros permite a compreenso, em uma viso externa e por isso mesmo mais abrangente, dos estudos especficos agrupados sob a rubrica
Teoria da Comunicao.
PALAVRAS-CHAVE
comunicao
teoria
epistemologia
ABSTRACT
This paper compares the contents of Communication Theory books published by brazilian authors in the past 10 years.
Comparing the models, authors or theories presented as communication theories, there is a coincidence of only 23,35% of
all theories presented in the books. This article also discusses
tow related problems: object indefinition and the interdisciplinar perspective of communication epistemology.
KEY WORDS
communication
theory
epistemology
Lus Mauro S Martino
Professor da Faculdade de Comunicao Social Csper Libero/SP/BR
lmsamartino@uol.com.br
RevistaFAMECOS Porto Alegre n 36 agosto de 2008 quadrimestral
111
Lus Mauro S Martino 111117
O exame dos livros mencionados mostra dois problemas inter-relacionados, que de certa forma so reflexos,
em menor escala, de problemas do campo e estruturam
este texto. Em primeiro lugar, nota-se uma indefinio
doutrinria a respeito de quais teorias so da comunicao, problema que remete questo da autonomia e
existncia do campo. Ser o tema da parte I. Essa questo
tem suas razes em duas questes metodolgicas, vistas
no item II: a indefinio do objeto, de um lado, e a idia
de um campo de estudos interdisciplinar, de outro. Para
efeito de clareza, as citaes dos livros pertencentes ao
corpus esto em destaque no texto.
O problema doutrinrio e a autonomia do campo
Em um estudo sobre os ltimos cinqenta anos de pesquisa em Comunicao nos Estados Unidos, Bryant e
Miron constatam, com ampla base emprica, que uma
considervel poro das teorias da comunicao utilizadas na pesquisa so derivadas da psicologia e da
sociologia, com importantes contribuies do direito e
da poltica (Bryant e Miron, 2004). Mais do que um
aspecto interdisciplinar positivo, tal fato pode indicar
para uma completa indefinio do que uma teoria da
comunicao e, por extenso, uma falta de definio
do objeto de estudos do campo da comunicao. Parece
existir uma certa dificuldade em reconhecer a comunicao como um campo do conhecimento possuidor de
contornos prprios, voltado para a produo, difuso e
consumo de bens simblicos (Melo, 1983, p. 7).
A autonomia do campo
A dimenso acadmica de um campo do conhecimento
tende a objetivar-se na produo de um conjunto doutrinrio prprio, decorrente das pesquisas especficas na
rea e destinado a reforar a importncia especfica desse estudo pela possibilidade do estabelecimento de um
conhecimento que se legitima na prtica auto-referencial (Lazar, 1992).
A grade curricular dos cursos de comunicao geralmente dividida em uma parte terica humanstica
ou cultural e um elemento tcnico prtico. Sem
entrar no mrito do precrio equilbrio existente entre
essas duas vertentes, vamos nos concentrar na questo
das disciplinas tericas. Na maior parte dos cursos, a
disciplina Teoria da Comunicao est ao lado de
outras que, em essncia, no deixam de ser estudos
tericos da Comunicao, aumentando ainda mais a
confuso a respeito do que seja Teoria da Comunicao. Qual a especificidade que a diferencia das outras
disciplinas tericas de um curso de comunicao? A
princpio, se Teoria da Comunicao de fato um
campo interdisciplinar, ento todas as disciplinas tericas de um curso de comunicao so Teoria da Comunicao, e no faz sentido, portanto, mant-la no currculo como disciplina isolada, uma vez que abrange ou
engolfada por todas as outras. Por outro lado, se
existe uma especificidade dessa disciplina , necessrio
112
Revista FAMECOS Porto Alegre n 36 agosto de 2008 quadrimestral
que ela seja amparada por um mnimo consenso relativo aos contedos e auxiliada por um suporte conceitual
onde igualmente existam princpios comuns (Barbosa,
2002, p. 73).
Nesse sentido, Vencio Lima aponta uma relao
inversa entre a expanso institucional da rea e o desenvolvimento terico. A comunicao passou a ser entendida e definida em termos das profisses e do espao
institucional que ocupa nas universidades e no de forma terico-conceitual (Lima, 1991, p. 160). Em outro
texto, Lima destaca que a formao terica em comunicao teve incio a partir da aglutinao ao redor de
prticas profissionais, de um lado, e necessidades polticas, de outro (Lima, 1983, p. 86).
A existncia de produo bibliogrfica sobre um assunto permite entrever, mesmo ao mais ctico dos crticos, que o tema tem algum tipo de relevncia. Sobretudo
quando se pensa em uma disciplina controversa. A quantidade de livros significativa, sobretudo quando se
pensa no dilema epistemolgico que envolve a prpria
legitimidade do campo.
H entre as obras estudadas uma certa unidade formal: todos os livros comeam com discusses a respeito
das noes de teoria, conceito e modelo, alm de,
conforme o caso, digresses sobre o que cincia e porque se pode falar em uma cincia da comunicao.
A proximidade das datas mostra a incorporao tardia ao campo da comunicao de um referencial terico
sistematizado. No corpo de dados deste trabalho, o primeiro livro escrito por autor brasileiro sob esse ttulo,
Pedro G. Gomes, data de 1997, quando os cursos de
Comunicao j estavam regulamentados, desde 1969.
Ou seja, quase trinta anos separam a elevao da Comunicao ao status de rea acadmica autnoma de suas
primeiras sistematizaes tericas1.
A partir da possvel pensar em algo chamado teoria da comunicao.
O problema do referencial terico
preciso notar que o reconhecimento da existncia de
uma reflexo terica sobre comunicao no significa,
nem de longe, consenso sobre o que Teoria da Comunicao e os livros sobre o assunto deixam isso bem claro
tanto nas afinidades quanto nas discrepncias quanto
s teorias, escolas e idias que pertencem ou no rea.
O livro de Costa, Siqueira e Machado deixa isso claro ao
afirmar que: a comunicao um conceito amplo e
complexo que pode ser estudado das mais diferentes
formas e sob a luz das mais diversas perspectives tericas. Essa amplitude, no entanto, no a torna menos
instigante pelo contrrio (Costa, 2006, p. 7).
A questo doutrinria, assim, emerge claramente nos
consensos e contradies a respeito de quais teorias e
vindas de onde podem ser apropriadas para o estudo
da comunicao e, em que medida podem ser efetivamente chamadas de teorias da comunicao. No falta, inclusive, o reconhecimento prvio desta situao.
A iluso terica no campo da comunicao 111117
Figura 1: Livros intitulados Teoria da comunicao.
Para Luiz Martins,
preciso, desde logo, advertir para o fato de que o
campo da Comunicao difuso quanto sua natureza epistemolgica. Tanto que pode ser recortado enquanto campo cientfico (cincias sociais aplicadas) quanto pode ser encarado como um conjunto
de segmentos prtico-corporativos, composto por
profissionais de comunicao.
Nos vrios livros h distines entre modelo, teoria e paradigma. Na medida em que essas questes
relativas teoria da cincia fogem ao escopo deste trabalho, considera-se, para efeitos prticos, que sejam usados com o mesmo sentido de um conjunto relativamente
organizado de idias.
Por mais que nmeros enganem, talvez pertinente
notar algumas propores. H um total de 43 autores/
escolas/modelos apresentados como pertencentes teoria da comunicao, dos quais apenas 10 so citados em
mais de um livro. Um grau de coincidncia de 23,35%.
Dito de outra maneira, h menos de de consenso entre
os livros intitulados Teoria da Comunicao a respeito dos
problemas doutrinrios de suas disciplinas. Cerca de
so escolhas particulares de cada autor.
Os mais citados, em ordem decrescente, so:
Funcionalismo (8) - Escola de Frankfurt (8) - Marshal McLuhan (7) - Estruturalismo/Pensamento
francs (4) - Semitica (3) - Latino-Americanos (3) Comunicao na ps-modernidade (3) - O modelo
terico dos Cultural Studies. (3) - Os autores brasileiros (2) - Estudos de Recepo (2).
Com uma nica meno:
A Escola de Chicago e o interacionismo simblico -
Modelo Crtico - Mead - Duncan - Pross - Comunicao e trabalho - Comunicao e linguagem - Enzensberger - Lucien Sfez - Pragmatismo lingstico Positivismo emprico - Teoria das materialidades
em comunicao - Teorias dos Sistemas - Antonio
Gramsci - Armand Matterlart - Cultura de massa e
Folkcomunicao: os conceitos de Morin e Beltro Opinio pblica: de Homero a Marx e de Gallup a
Lazarsfeld - Comunicao, tradio e modernidade: as teorias de Lerner e sua aplicabilidade ao
Brasil - Hipteses contemporneas de pesquisa:
Agenda Setting e Espiral do silncio - Modelo terico-matemtico da comunicao - Berlo - Schramm O modelo terico da proposio marxista - O modelo terico da dependncia - O modelo terico neomarxista - O modelo terico-cultural - O modelo
terico da midiologia francesa - O modelo tericomediativo - Novos modelos tericos da Comunicao - Paradigma horizontal-interacionista - A nova
tecnologia da internet - O modelo terico da virtualizao - O modelo terico-crtico da fissura tecnolgica
As divergncias entre as escolas tericas citadas, bem
como aos autores no interior de cada corrente mostram a
indefinio do que Teoria da Comunicao, bem
como os tpicos consagrados e presentes no circuito de
apreenso de mtodos, modelos e conceitos. Essa disparidade fica visvel, bem como as coincidncias.
Assim, o Estruturalismo apontado como corrente
terica da comunicao apenas no livro de Costa, Machado e Siqueira. O mesmo acontece com a chamada
Escola de Chicago, mencionada apenas por Francisco
Rdiger. A perspectiva semitica estudada no livro de
Pedro Gomes, mas no aparece em nenhum dos outros
textos.
O Funcionalismo, a Escola de Frankfurt e Marshall
McLuhan so citados como parte do campo da comunicao em 100% dos livros. So as unanimidades tericas
Revista FAMECOS Porto Alegre n 36 agosto de 2008 quadrimestral
113
Lus Mauro S Martino 111117
entre as obras. Essa presena permite vislumbrar um
dos elementos da fragilidade do campo: o consenso a
respeito de pensadores que, no caso do Funcionalismo e
da Teoria Crtica, no se identificavam prioritariamente
como tericos da comunicao.
Esse problema se repete no tocante a outras teorias,
cujo grau de presena no to alto. Vrias das correntes tericas apresentadas nos livros de teoria da comunicao e, portanto, incorporadas a priori como tal so
oriundas de estudos de outras reas que no a prpria
comunicao. O campo da comunicao se alimenta de
teorias, conceitos e metodologias provenientes de outras
reas. A ausncia de conjunto terico prpria um dos
indicadores da fragilidade que alguns autores chamariam de riqueza do campo. Os estudos de comunicao
apresentados apropriam-se de teorias, mtodos e conceitos da sociologia, da lingstica, da antropologia e da
filosofia para a constituio de um corpus terico prprio. Essa dependncia de outros campos do saber mina,
primeira vista, a possibilidade de constituio de um
estatuto epistemolgico particular.
Vale notar que mesmo dentro da teoria crtica, no entanto, h algumas discrepncias. Habermas o nico representante da Escola de Frankfurt estudado no livro de Francisco Rdiger, est presente no livro de Costa, Machado e
Siqueira mas desaparece no livro de Pedro Gomes.
Alm da Teoria Crtica, Marshal McLuhan e Harold
Lasswell so discutidos em todos os livros, embora em
diferentes propores. Outros estudos norte-americanos
de comunicao ganham diferentes espaos. No livro de
Rdiger e Costa et alli h uma diferenciao maior entre
escolas, autores e formulaes tericas. J no livro de
Pedro Gomes o Funcionalismo colocado a partir de
Lasswell. A perspectiva crtica em todos os casos. No
h menes s novas tecnologias, exceto no livro de
Ferreira e Martino.
Essa disparidade entre o que ou deixa de ser pertencente teoria da comunicao, seja como disciplina,
seja como campo do conhecimento, rea do saber ou
qual outro nome se utilize a parte mais externa do
problema. Esse problema epistemolgico, na base da
questo doutrinria, ser discutido a seguir.
O problema epistemolgico
As teorias da comunicao existem a despeito de todo e
qualquer obstculo colocado sua definio. Cremos
em sua existncia e isso parece nos bastar (Martino,
2007, p. 14). Destaca-se o uso da expresso cremos na
frase. De fato, possvel pensar, seguindo uma tradio
da sociologia fenomenolgica, que a crena, aceitao
plena e tcita da existncia de algo por um grupo uma
das condies de existncia de algo.
A idia de apresentar a comunicao como sendo um
campo interdisciplinar de pesquisas est presente na
maioria dos livros, reforando a dependncia de teorias
aliengenas bem como evitando a discusso sobre a
possibilidade de um estatuto epistemolgico prprio e,
114
Revista FAMECOS Porto Alegre n 36 agosto de 2008 quadrimestral
mais ainda, deixa o caminho livre para a exposio de
doutrinas de outras reas uma aps a outra, sem nenhuma soluo de compromisso entre elas, mas apenas com a justaposio de modelos tericos. No por
acaso, ainda em 1979, quando da definio de parmetros curriculares para a comunicao, Lins da Silva
questionava a existncia de tal teoria (Lins da Silva,
1979, p.191). Um ano depois, o mesmo autor menciona
o incipiente estgio da reflexo terica na rea de
comunicao (Lins da Silva, 1980, p.167).
No mesmo sentido, Alberto Maldonado aponta a
existncia de um paradoxo entre o crescimento das
pesquisas em comunicao na Amrica Latina a partir
dos anos 80 e o pouco desenvolvimento no debate das
questes epistemolgicas, tericas e metodolgicas
(Maldonado, 2004, p.42).
Essa indefinio epistemologica se reflete na composio curricular dos cursos de comunicao e na razo
de ser de sua existncia. Desprovido das fronteiras da
tradio que por vezes funcionam como garantia de
legitimidade, o campo da comunicao alvo constante de dvidas sobre a necessidade de sua existncia a
infindvel querela sobre a necessidade do diploma
para as habilitaes uma de suas faces visveis.
A indefinio do objeto
O problema do objeto da comunicao pode ser dividido em duas vertentes. De um lado, os que vem a Comunicao como um campo interdisciplinar sem objeto definido. De outro, como uma prtica social. Essa
pluralidade leva a questionar a existncia de um local
prprio comunicao (Santos, 2005, p. 163).
De um lado, defende-se que o objeto mltiplo, plural, e que a caracterstica fundante da comunicao
justamente a inexistncia de um objeto nico. Assim,
haveria um ponto de flutuao nas concepes sobre
comunicao que teriam como elemento principal a
multiplicidade. Assim, a singularidade da comunicao seria no ter singularidade. Ou, conforme caracterizam Trinta e Politshuk,
Aquelas proposies cientficas que muitos tm
chamado de Cincias da Comunicao compe um
conjunto de conhecimentos de ordem inter e pluridisciplinar em permanente processo de atualizao, ao qual os tericos da Comunicao recorrem
para identificar, definir, conceituar, descrever e
analisar a ao social do comunicador (Trinta e
Politschuk, 2003, p. 26).
O outro ponto de vista caracterizado pela tentativa
de definir o objeto da Comunicao e encerra em si
duas outras posies conflitantes. Qual esse objeto?
A opo comum pelo estudos dos meios de comunicao de massa, sua produo, mensagem e recepo.
No entanto, h tambm opes pela comunicao interpessoal e, em termos mais restritos, pelas aborda-
A iluso terica no campo da comunicao 111117
gens psicolgicas da comunicao (Felinto, 2007, p. 43).
No que diz respeito a essa questo epistemolgica,
Rdiger aponta o esvaziamento do conceito de comunicao por conta de sua amplitude.
No limite, a expresso no designa mais nada, transformando-se no simples rtulo, posto em um campo
de estudos multidisciplinar para o qual convergem
ou se confrontam os mais diversos projetos de pesquisa, mas do qual no se tem o conceito (Rdiger,
1998, p. 10).
O livro de Pedro Gomes confirma esse fenmeno apontando que ao lado de um enfoque etimolgico do conceito de comunicao, outros so possveis, o biolgico,
pedaggico, histrico, sociolgico, antropolgico, psicolgico e estrutural (Gomes, 1997, p. 13).
O tamanho do recorte necessrio para a criao do
objeto prprio de estudos tambm apontado quando
afirma que: O ser humano est, em comunicao.
Existe uma interao e uma interdependncia entre a
comunicao e o homem no processo de mudana social
e cultural. A comunicao inerente condio humana (Gomes, 1997, p. 13).
O mesmo apontado por Vilalba: Como so os indivduos e os grupos que comunicam? Quais so suas
motivaes? Quais so os dispositivos implicados no
processo de comunicao e como so gerados? E, levando em considerao a amplitude desse processo, o que
no seria comunicao? (Vilalba, 2007, p. 9).
Rdiger, nesse sentido, faz uma distino metodolgica clara em relao ao objeto do que seria teoria da
comunicao. Ele designa o estudo especfico das comunicaes mediadas os meios de comunicao ,
associados mass communication research ou media studies como publicstica, em contraste com o
que seria uma teoria da comunicao, interessada na
interao entre seres humanos (Rdiger, 1998, p. 11).
Pedro Gomes parte da centralidade do conceito em sentido mais amplo. Em seu livro, antes de mencionar modelos e escolas, deixa a seu leitor a pergunta-chave que
justifica o texto: Por que estudar Teoria da Comunicao? Em primeiro lugar porque hoje, mais do que nunca,
a comunicao social envolve o mundo. O domnio da
informao torna-se imprescindvel para o domnio do
mundo (Gomes, 1997, p. 8).
Essa viso corroborada, de outra forma, por Rodrigo
Vilalba:
Uma teoria da comunicao procura sistematizar
hipteses e estudos sobre as experincias e as realizaes de um comunicador ou de um grupo de
comunicadores. Igualmente, aceitvel declarar que
uma teoria da comunicao se ocupa da definio
dos dispositivos que viabilizam e influenciam algumas etapas ou todas as etapas da ao de comunicar: da organizao mental necessria para a
transmisso de uma mensagem at a elaborao
fsica, a transmisso e a recepo dessa mensagem
inclundo a a criao, a operao e a manuteno dos meios materiais que permitem a existncia
da dinmica comunicacional (Vilalba, 2007, p. 9).
No entanto, Jos Marques de Melo prope uma diviso entre cincias da informao e da comunicao, alterando o foco do problema: Ora, certo que a
comunicao constitui um processo de que a informao um dos elementos; mas, o elemento fundamental.
A informao o objeto da comunicao (Melo, 1998,
p. 60).
Afonso de Albuquerque, em um trabalho sobre o assunto, pontua a questo tambm a partir da relao
tecnolgica. Caso contrrio, o campo de estudos da
comunicao se confundiria com o das Cincias Sociais
como um todo (Albuquerque, 2002, p. 30). Essa indefinio do objeto remete a um problema decorrente: para
um objeto mltiplo, mltiplos mtodos e conceitos, mltiplas sero as anlises e teorias (Rocha e Coelho, 1994,
p.13).
Isso renova o paradoxo: por que existe uma disciplina chamada teoria da comunicao, se fazer teoria
no campo da comunicao exige saberes oriundos de
mais de uma disciplina? E, no entanto, por mais fronteiras que o campo demande serem quebradas, a disciplina e os livros permanecem, mostrando o aspecto de
crena fundante dessa rea. Assim, a idia de ultrapassar as fronteiras serve ao mesmo tempo como pressuposto epistemolgico e justificao poltica da realidade do campo.
A indefinio das fronteiras simblicas
A apresentao do campo da comunicao como interdisciplinar parece ser quase um consenso entre as
pesquisas na rea. Torna-se, portanto, necessrio entender um pouco melhor essa definio presente em
vrias discusses sobre a validade terica e os limites
epistemolgicos da Comunicao. Conforme aponta Jos
Marques de Melo,
Realmente, o processo da comunicao, como processo social bsico, est inserido no objeto de todas
as cincias sociais. Assim, por exemplo, a Psicologia estuda as intenes do comunicador, ou o comportamento do receptor, a Sociologia estuda os hbitos do receptor ou a credibilidade dos canais, o
Direito estuda a estrutura normativa do comunicador institucionalizado, a Antropologia estuda os
padres culturais difundidos na mensagem (Melo,
1998, p. 63).
Um primeiro problema a fluidez do conceito: uma
pesquisa (inter-multi-trans)disciplinar refere-se efetiva
a que tipo de procedimento? Se a utilizao de referncias tericas oriundas de vrios campos, corre-se o risco
Revista FAMECOS Porto Alegre n 36 agosto de 2008 quadrimestral
115
Lus Mauro S Martino 111117
de usar mtodos/autores/conceitos conflitantes. Alm
disso, prev o domnio simultneo de vrias epistemologias, problemas tericos e prticos. Se o cruzamento de
experincias, nem sempre o que vlido em um campo
do saber vlido em outro. Assim, o conceito de inconsciente, crucial na psicologia, pouco utilizado como
explicao sociolgica ou poltica.
Estudar a comunicao , portanto, uma tarefa que
exige rigor e sistematizao tanto no campo terico
como no metodolgico. Seu objeto () interdisciplinar e tem despertado um interesse crescente em
diversas reas do conhecimento (Costa, 2006, p. 7).
Nesse sentido, talvez a possibilidade de se pensar a
comunicao no como objeto mas como processo, como
algo acontecendo e, portanto, um dos princpios bsicos
de interao humana, possibilite a abertura de novas
fronteiras a partir das quais seja possvel no mais pensar a comunicao a partir das prticas sociais, mas, ao
contrrio, pensar as prticas sociais a partir da comunicao, a partir de uma perspectiva esttica da comunicao tomando a palavra em seu sentido original grego
para compreender no mais comunicao como um
ato acabado, mas o ato comunicacional, o ser-em-relao de Husserl (Husserl, 2006), a percepo (aesthesis) da
realidade social a partir relaes mltiplas do ato comunicativo (Marcondes Filho, 2005; Martino, 2007, p. 28 e
Martino, L. M., 2007).
Concluses prticas de uma indefinio terica
A questo permanece em aberto, assim como o debate.
O problema da ausncia de uma definio tem uma
conseqncia na prtica acadmica: qual fronteira decide o que um trabalho de comunicao? Na hora de
solicitar um auxlio de pesquisa ou submeter um texto
para avaliao, qual o critrio para classific-lo entre
os estudos de comunicao? Afinal, boa parte daquilo
que se publica em nossos peridicos de comunicao
poderia, sem grandes dificuldades, ser catalogado dentro da rea dos cultural studies (Felinto, 2007, p. 45). O
resultado a crena compartilhada na interdisciplinaridade como marco de distino das pesquisas deste campo (Barros Filho, e Martino, 2003, p. 230). No dizer de
Moragas Spa, Sociologia, Antropologia, Semitica, Psicologia, Cincia Poltica, Economia, etc. seguem sendo
instrumentos indispensveis para uma teoria da comunicao que possa responder a complexidade de seu
prprio objeto de estudos (Moragas, 1997, p. 32).
Se tudo isso teoria da comunicao, ento os professores dessa disciplina precisam lidar com vrias reas
do conhecimento, capaz de dar conta de todos os domnios mencionados, alm de transitar entre diversas reas, mtodos e bibliografias. Em suma, ser o prottipo do
humanista medieval, capaz de ir da fsica metafsica
sem ruptura. No entanto, no currculo dos cursos de
comunicao existe uma disciplina especfica chamada
116
Revista FAMECOS Porto Alegre n 36 agosto de 2008 quadrimestral
Teoria da Comunicao seja qual for seu mtodo,
doutrina e objeto nFAMECOS
NOTAS
1
Vale assinalar a existncia de um nico livro anterior a 1997. Teoria da Comunicao: Ideologia e Utopia,
de Roberto Moreira. Escrito em 1979, insere-se na
tradio crtica com a apropriao do repertrio conceitual e analtico do marxismo filtrado pela Escola
de Frankfurt para elaborar uma teoria da comunicao. O trabalho usa o conceito de ideologia como
categoria de anlise para compreender a mdia e
efetuar uma leitura crtica dos veculos de comunicao de massa, foco principal do trabalho.
REFERNCIAS
ALBUQUERQUE, A. Os desafios epistemolgicos da
comunicao mediada por computador. Revista Fronteiras. Porto Alegre, vol. IV, n. 2, dezembro 2002.
BARBOSA, M. Paradigmas de construo do campo comunicacional. In: HOHFELDT, A. et alli. Tenses e
Objetos da Pesquisa em Comunicao. Porto Alegre: Sulina, 2002.
BARROS FILHO, C. e MARTINO, L. M.S. O habitus na
comunicao. So Paulo: Paulus, 2003.
BRYANT, J. e MIRON, D. Theory and Research in Mass
Communication. Journal of Communication. Vol. 54, n.
4, december 2004.
COSTA, R. M. et alli. Teoria da Comunicao na Amrica
Latina. Curitiba: Ed. UFPR, 2006.
FELINTO, E. Patologias no sistema da comunicao: ou
o que fazer quando seu objeto desaparece. In: FERREIRA, G. e MARTINO, L. C. Teorias da Comunicao.
Salvador: Ed. UFBA, 2007.
FERREIRA, J. Campo acadmico e epistemologia da comunicao. In: LEMOS, A. et alli. (orgs). Mdia.br. Porto Alegre: Sulina, 2003.
FRANA, V. R. V. Representaes, mediaes e prticas
comunicativas. In: PEREIRA, M. et alli. Comunicao,
representao e prticas sociais. Rio de Janeiro: Idias e
Letras/PUC-RJ, 2004.
FUENTES NAVARRO, R. La investigacin de la comunicacin en Amrica Latina. Comunicacin y Sociedad.
Guadalajara: Universidad de Guadalajara, n. 36, julio-deciembre 1999.
GOMES, P.G. Tpicos de Teoria da Comunicao. So Leopoldo: Ed. Unisinos, 1997.
A iluso terica no campo da comunicao 111117
HUSSERL, E. The shorter logical investigations. London:
Routledge, 2006.
MERTON, R. K. Social Theory and Structure. New Cork:
Free Press, 1957.
LAZAR, J. La science de la communication. Paris: PUF,
1992.
MORAGAS, M. Las ciencias de la comunicacin en la
sociedad de la informacin. Revista Dia-Logos de la
Comunicacin. N. 49, outubro 1997.
LIMA, V. Profisses e formao terica em comunicao.
Revista Intercom. No. 62/63, 1991
___. Repensando as Teorias da Comunicao. In: MELO,
J. M. (org.) Teoria e Pesquisa em Comunicao. So Paulo: Intercom/Cortez, 1983.
LINS DA SILVA, C. E. Teoria da Comunicao. In: MELO,
J. M. et alli. Ideologia e Poder no Ensino de Comunicao.
So Paulo: Cortez e Moraes, 1979.
___. Indstria Cultural e Cultura Brasileira: pela utilizao do conceito de hegemonia cultural. In: Revista
Encontros com a Civilizao Brasileira, n. 25, julho 1980,
p.167.
LOCKER, Kitty. The Challenge of Interdisciplinary Research. Journal of Business Communication. Vol. 2, n.
31, 1994.
MALDONADO, A. Amrica Latina bero de transformao comunicacional no mundo. In: MELO, J. M. e
GOBBI, M. C. Pensamento Comunicacional Latino-Americano. So Bernardo do Campo: Ed. Metodista, 2004.
MARCONDES FILHO, C. Apresentao. In: LUHMANN,
N. A realidade dos meios de comunicao. So Paulo:
Paulus, 2005.
MARTINO, L. C. Apontamentos epistemolgicos sobre a
fundao e a fundamentao do campo comunicacional. In: CAPPARELLI, S. et alli. A Comunicao Revisitada. Porto Alegre: Sulina, 2005.
ROCHA, E. A sociedade do sonho. Rio de Janeiro: Mauad,
1995.
ROCHA, E. e COELHO, M. C. De projetos, armadilhas e
objetos: notas em Teoria da Comunicao. In: FAUSTO NETO, A. et alli (orgs.). Brasil: comunicao, cultura
e poltica. Rio de Janeiro: Diadorim, 1994.
RDIGER, F. Introduo Teoria da Comunicao. So
Paulo: Edicon, 1998.
SANTAELLA, L. Comunicao e Pesquisa. So Paulo: Hacker, 2001.
SANTOS, T. C. Teoria da Comunicao e suas interconexes com o corpo e com a cultura. Comunicao Miditica, n.6, 2006.
___. Teorias da Comunicao: caminhos, buscas e interseces. Revista Famecos. Porto Alegre, n. 28, dezembro 2005.
TRINTA, A. R. e POLITSCHUK, I. Teorias da Comunicao. Rio de Janeiro, Elservier, 2003.
TRIVINHO, E. O mal-estar na teoria. So Paulo: Quartet,
2003.
VILALBA, R. Teoria da Comunicao. So Paulo: tica,
2007.
___. Interdisciplinaridade e Objeto de Estudos da Comunicao. In: FAUSTO NETO, A. et alli. O Campo da
Comunicao. Joo Pessoa: Ed. UFPB, 2001.
___. Teorias da Comunicao: muitas ou poucas? Cotia (SP):
Ateli Editorial, 2007.
MARTINO, L. M. Esttica da Comunicao. Petrpolis:
Vozes, 2007.
MELO, J. M. Apresentao. In: MELO, J. M. (org). Pesquisa
em Comunicao no Brasil: Tendncias e Perspectivas.
So Paulo: Intercom/Cortez, 1983.
MELO, Jos Marques. Teoria da Comunicao. Petrpolis:
Vozes, 1998.
Revista FAMECOS Porto Alegre n 36 agosto de 2008 quadrimestral
117
Você também pode gostar
- Processo Tradutorio Heloisa BarbosaDocumento16 páginasProcesso Tradutorio Heloisa BarbosaZubalo100% (1)
- O Que É LeituraDocumento20 páginasO Que É LeiturageovaneAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios - Método Científico: REALIZE - TUTORIA EDUCACIONAL © Todos Os Direitos ReservadosDocumento2 páginasLista de Exercícios - Método Científico: REALIZE - TUTORIA EDUCACIONAL © Todos Os Direitos ReservadosUmbertoAinda não há avaliações
- A Educação Estética Na Pedagogia Waldorf o Imaginário e A Paisagem InteriorDocumento16 páginasA Educação Estética Na Pedagogia Waldorf o Imaginário e A Paisagem InteriorTiago Caetano MartinsAinda não há avaliações
- Como Deve Ser A Elaboracao de Um Artigo CientificoDocumento3 páginasComo Deve Ser A Elaboracao de Um Artigo CientificoA.Ainda não há avaliações
- Semiologia Saussure e Levi-Strauss - ConceituaçãoDocumento7 páginasSemiologia Saussure e Levi-Strauss - ConceituaçãofriendbrasilshuAinda não há avaliações
- Fichamento Saber AmbientalDocumento2 páginasFichamento Saber AmbientalAmanda Sâmela AlencarAinda não há avaliações
- Por Que A Psicanalise HojeDocumento11 páginasPor Que A Psicanalise HojedserraAinda não há avaliações
- Texto de Bernadete CampelloDocumento15 páginasTexto de Bernadete CampelloEliete CarvalhoAinda não há avaliações
- A Questão Do Gozo em Lacan e o Conceito deDocumento5 páginasA Questão Do Gozo em Lacan e o Conceito deJoao AlbertoAinda não há avaliações
- As Pedagogias Do Aprender A Aprender... Newton Duarte ScieloDocumento7 páginasAs Pedagogias Do Aprender A Aprender... Newton Duarte Scielomoura_sj2526Ainda não há avaliações
- Palestra de Leopoldo de MeisDocumento81 páginasPalestra de Leopoldo de MeisescolatematicaAinda não há avaliações
- Santillana - Repensar As TIC Na EducacaoDocumento147 páginasSantillana - Repensar As TIC Na EducacaoJoaquim SantosAinda não há avaliações
- HegelDocumento14 páginasHegelElton LimaAinda não há avaliações
- Abstração Real, Dinheiro e Valor em Sohn-Rethel PDFDocumento38 páginasAbstração Real, Dinheiro e Valor em Sohn-Rethel PDFPaulo MasseyAinda não há avaliações
- A Mente em HumeDocumento9 páginasA Mente em HumeCaio SarackAinda não há avaliações
- Artigo de Investigação - Comunicação Dos Resultados em Investigação/comunidade CientificaDocumento7 páginasArtigo de Investigação - Comunicação Dos Resultados em Investigação/comunidade CientificaTamára MarçalAinda não há avaliações
- ARAUJO - A Ciencia Como Forma de ConhecimentoDocumento25 páginasARAUJO - A Ciencia Como Forma de ConhecimentoIvy Marins0% (1)
- Fenomenologia e Escola Da Gestalt - Muller-GranzottoDocumento15 páginasFenomenologia e Escola Da Gestalt - Muller-GranzottoUlisses Heckmaier CataldoAinda não há avaliações
- Objectivos de Filosofia para o Teste 1Documento9 páginasObjectivos de Filosofia para o Teste 1bebeioAinda não há avaliações
- Referencias - Etica, Politica e SociedadeDocumento6 páginasReferencias - Etica, Politica e SociedadeDeiseNatchaAinda não há avaliações
- Jürgen Habermas: Algumas Considerações em Torno Do Conceito de Verdade e Outras Descobertas Na Prática Reflexiva Da Sala de AulaDocumento10 páginasJürgen Habermas: Algumas Considerações em Torno Do Conceito de Verdade e Outras Descobertas Na Prática Reflexiva Da Sala de AulaRobson PandolfiAinda não há avaliações
- O Despertar Do ConhecimentoDocumento2 páginasO Despertar Do ConhecimentoCaio LucasAinda não há avaliações
- A Relação Professor-Aluno No Processo Ensino - AprendizagemDocumento6 páginasA Relação Professor-Aluno No Processo Ensino - AprendizagemJoao Luis Wagner100% (1)
- Breves Considerações Sobre o Conceito de Liberdade Na Filosofia e Sua Possível Efetivação Na Práxis Social Da Vida HumanaDocumento13 páginasBreves Considerações Sobre o Conceito de Liberdade Na Filosofia e Sua Possível Efetivação Na Práxis Social Da Vida Humanagtv92Ainda não há avaliações
- Fases de Porchat e o NaopirronismoDocumento4 páginasFases de Porchat e o NaopirronismoCeleste CostaAinda não há avaliações
- Livro 4 Filosofia Como Sistema PDFDocumento339 páginasLivro 4 Filosofia Como Sistema PDFdarcioluiz100% (1)
- Antonio Machado - Agamenon e Seu Porqueiro PDFDocumento10 páginasAntonio Machado - Agamenon e Seu Porqueiro PDFLuiz Gustavo SerqueiraAinda não há avaliações
- 03 - Modelo PiajetianoDocumento14 páginas03 - Modelo PiajetianodirleneaAinda não há avaliações