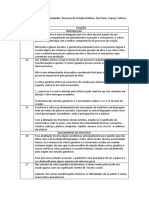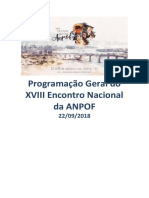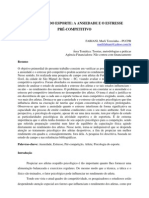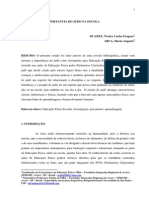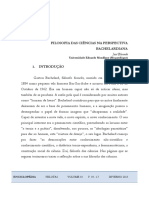Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
CN012 2 PDF
CN012 2 PDF
Enviado por
Marcos GoulartTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CN012 2 PDF
CN012 2 PDF
Enviado por
Marcos GoulartDireitos autorais:
Formatos disponíveis
cadernos
Nietzsche
So Paulo 2002
No 12
ISSN 1413-7755
Os artigos publicados nos
cadernos
Nietzsche
so indexados por Clase
cadernos
Nietzsche
no 12 So Paulo 2002
ISSN 1413-7755
Editor / Publisher: GEN Grupo de Estudos Nietzsche
Editor Responsvel / Editor-in-Chief
Scarlett Marton
Editor Adjunto / Associated Editor
Fernando de Moraes Barros
Conselho Editorial / Editorial Advisors
Ernildo Stein, Gerd Bornheim, Paulo Eduardo Arantes, Rubens Rodrigues Torres Filho
Comisso Editorial / Associate Editors
Alberto Marcos Onate, Andr Lus Mota Itaparica, Clademir Lus Araldi, Ivo da Silva Jnior,
Sandro Kobol Fornazari, Vnia Dutra de Azeredo, Wilson Antnio Frezzatti Jnior
Endereo para correspondncia / Editorial Offices
cadernos Nietzsche
Profa. Dra. Scarlett Marton
A/C GEN Grupo de Estudos Nietzsche
Departamento de Filosofia Universidade de So Paulo
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315
05508-900 So Paulo SP Brasil
Tel.: 55-11-3818.3761 Fax: 55-11-3031.2431
e-mail: gen@edu.usp.br Home page: www.fflch.usp.br/df/gen/gen.htm
Endereo para aquisio / Administrative Offices
Av. Prof. Luciano Gualberto, 315 Sala 1005
01060-970 So Paulo SP Brasil
Tel./FAX: 55-11-3814.5383
discurso@org.usp.br
www.discurso.com.br
cadernos Nietzsche uma publicao do
GEN
Apoio:
Projeto grfico e editorao / Graphics Editor: Logaria Brasil
Foto da capa / Front Cover: C. D. Friedrich Der Wanderer ber dem Nebelmeer, 1818
1.000 exemplares / 1.000 copies
Fundado em 1996, o GEN Grupo de Estudos
Nietzsche persegue o objetivo, h muito acalentado, de reunir os estudiosos brasileiros do pensamento de Nietzsche e, portanto, promover a discusso acerca de questes que dele emergem.
As atividades do GEN organizam-se em torno dos
Cadernos Nietzsche e dos Encontros Nietzsche, que tm
lugar em maio e setembro sempre em parceria com
diferentes departamentos de filosofia do pas.
Procurando imprimir seriedade aos estudos nietzschianos no Brasil, o GEN acolhe quem tiver interesse, por
razes profissionais ou no, pela filosofia de Nietzsche.
No exige taxa para a participao.
Scarlett Marton
GEN Grupo de Estudos Nietzsche was founded in
1996. Its aim is to gather Brazilian researchers on
Nietzsches thinking, and therefore to promote the discussion about questions which arise from his thought.
GENs activities are organized around its journal and
its meetings, which occurr every May and September
in different Brazilian departments of philosophy.
GEN welcomes everyone with an interest in Nietzsche,
whether professional or private. No fee for membership is required.
Scarlett Marton
Sumrio
Os desafios da Filosofia da Interpretao
Clademir Lus Araldi
Verdade e Interpretao
15
Equvocos marxistas
33
Nossas virtudes.
Indicaes para uma moral do futuro
53
A interpretao em Nietzsche:
perspectivas instintuais
71
Interpretao: arbitrariedade
ou probidade filolgica?
91
Gnter Abel
Mazzino Montinari
Antonio Edmilson Paschoal
Vnia Dutra de Azeredo
Luca Piossek Prebisch
Os desafios da Filosofia da Interpretao
Os desafios da Filosofia
da Interpretao
Clademir Lus Araldi*
Resumo: Este artigo, suscitado pela leitura de Verdade e Interpretao, pretende apresentar ao pblico brasileiro aspectos relevantes da
abordagem de Gnter Abel da filosofia de Nietzsche. Ao ressaltar a importncia da compreenso nietzschiana da verdade a partir da vontade de
potncia e da interpretao, o autor prope a formulao de um novo sentido do discurso da verdade, a saber, da verdade como interpretao, como
criao que se d a partir dos processos efetivos de interpretao e da
prxis do emprego dos signos.
Palavras-chave: Interpretao verdade vir-a-ser linguagem
inegvel que a Verdade ocupou um lugar central e determinante na tradio filosfica ocidental, de cunho preponderantemente
metafsico. No h como negar tambm que a compreenso metafsica da verdade sofra uma profunda crise na filosofia moderna e
contempornea. Em vrias reformulaes modernas da questo da
verdade (p. ex. em Descartes, em Espinosa e em Hegel) no h,
contudo, um mero abandono da Verdade; mesmo na problematizao e na crtica da verdade h ainda o esforo de salvaguardar e
justificar seu cerne metafsico.
Nietzsche se coloca nesse cenrio de questionamento como o
pensador que quer levar at o fim a crtica da Verdade metafsica.
* Doutorando do Departamento de Filosofia da Universidade de So Paulo e
professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Pelotas.
cadernos Nietzsche 12, 2002
Abel, G.
As conseqncias dessa crtica so, por um lado, negativas, visto
que interditam todo e qualquer acesso a uma Verdade transcendente, atemporal e nica, bem como a qualquer mundo metafsico.
O mundo que diz respeito ao homem, o mundo do vir-a-ser, no
mais, na tica nietzschiana, o oposto do mundo metafsico: a verdade e o erro, o bem e o mal, desse modo, s podem ser considerados
de modo imanente. Por outro lado, ao criticar a noo de verdade
da tradio ocidental, Nietzsche procede a uma nova formulao da
questo da verdade. No se trata mais, nessa tica, de uma verdade
fixa, atemporal, mas da vontade de verdade, da vontade humana
de veracidade, ou seja, de tornar fixo, de assegurar, de conferir
estatuto de permanncia ao que est em fluxo.
A verdade compreendida por Nietzsche, por fim, como uma
expresso da vontade de potncia, da luta infindvel entre os impulsos e foras, entendidos como processos imanentes ao mundo e como
condio de todo o efetivar-se. Desse modo, s se poderia falar da
verdade a partir da vontade de potncia; o nico critrio de verdade residiria na intensificao do sentimento de poder. A vontade de potncia mesma um interpretar 1, no sentido prprio em
que ele compreende a essncia da interpretao: como o sobrepujar, impelir, abreviar, suprimir, preencher, poetizar e falsificar
(GM/GM III 24).
A partir dos esforos nietzschianos de destruir internamente a
compreenso metafsica da Verdade Una e nica, abrem-se novos horizontes e perspectivas para se pensar um novo sentido da
verdade.
No texto Verdade e Interpretao, G. Abel busca em Nietzsche
o ponto de partida para repensar e reformular a relao entre verdade e interpretao. Abel procura fundamentar a posio de que a
verdade sempre depende da interpretao, contudo, no somente a
partir das estratgias e dos recursos argumentativos de Nietzsche.
A preocupao central da Filosofia da Interpretao (Interpreta-
8 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Os desafios da Filosofia da Interpretao
tionsphilosophie) est em ressaltar o carter perspectivstico e interpretativo do entendimento humano do mundo, do outro e de si mesmo (Abel 2, prefcio). Nessa abordagem visada a colocao crtica da questo da verdade, a qual est intimamente ligada ao
entendimento da linguagem, bem como ao carter interpretativo do
emprego dos signos e da prxis da vida. A concepo metafsica da
verdade , nessa perspectiva, autodestrutiva, na medida em que busca transcender ou negar a perspectividade e a interpretatividade
constitutivas da percepo, da linguagem, do pensamento e das
aes humanas.
O perigo com que depara a filosofia que busca compreender a
verdade como relaes de interpretao o de recair no relativismo.
Pode-se ainda falar ou tratar da verdade aps a perda dos referenciais transcendentes do conceito de verdade e aps o abandono
do esquema mais antigo da verdade?
Com o intuito de elaborar de um modo conseqente uma abordagem interpretativa da questo da verdade, eximindo-se do relativismo, Abel procede a uma diferenciao no interior do conceito de
interpretao. So propostos trs nveis de interpretao: 1) as interpretaes com funo categorializante (os conceitos lgicos, p. ex.);
2) as interpretaes entendidas como modelos uniformizadores (as
formas da intuio sensvel, p. ex.) e 3) as interpretaes apropriadoras (os elementos normativos da prxis da interpretao, p. ex.)
(cf. Abel 3, p. 26-28). Os trs nveis esto intimamente relacionados, constituindo a lgica, a esttica e a tica da interpretao.
A lgica, a esttica e a tica, no entanto, possuem os mesmos
limites, a saber, os limites da forma da prxis da interpretao (cf.
Abel 3, p. 30-31). Os limites da interpretao so, nessa perspectiva, os limites do mundo. No possvel ir alm dos limites da interpretao, nem antepor aos processos efetivos de interpretao uma
verdade originria e fundante. Tais processos so marcados, segundo Abel, por uma relatividade conceitual fundamental, so mor-
cadernos Nietzsche 12, 2002
Abel, G.
tais. No h, nessas consideraes, contudo, a pretenso de se
abandonar o discurso sobre a verdade. Na medida em que as pretenses de verdade podem ser justificadas e explicadas de um modo
coerente, a partir do horizonte da interpretao, h a construo de
um novo sentido da verdade2. At mesmo a pergunta pela verdade de um juzo se situaria j no horizonte da interpretao.
Os desafios da Filosofia da Interpretao dizem respeito, por
um lado, exigncia de no conferir um estatuto ontolgico s interpretaes, visto que no se trata mais de relacion-las s coisas puras, ou aos fatos. Haveria, com isso, somente relaes de interpretaes. Por outro lado, a Filosofia da Interpretao pretende ir alm
do relativismo da preferncia (der Relativismus der Beliebigkeit). A
verdade no s depende de uma linguagem reconhecida, mas est
tambm intrinsecamente ligada a normas e valores, e criada em
processos determinados e efetivos de interpretao. Assim sendo,
no se pode definir a verdade a partir de um determinado esquema
conceitual. Reformular a questo da verdade significa, ento, admitir
o seu carter interpretativo irredutvel. H muitas verdades, porque
h muitos processos efetivos de interpretao; h tambm muitos
mundos da interpretao, na medida em que h diferentes relaes
entre as interpretaes.
A verdade da interpretao deve levar em conta, segundo
Abel, os traos semnticos e pragmticos dos signos e das interpretaes, bem como o seu carter temporal e a sua projetabilidade
(cf. Abel 4, III). No se trata mais, nesse sentido, do dualismo metafsico de verdade e erro. Recorrendo a Nietzsche, Abel enfatiza a
necessidade de se considerar a verdade a partir do valor que ela
tem para a vida humana. S se poderia falar, ento, de graus de
aparncia; do mesmo modo, haveria tambm somente graus de verdade, dependendo da capacidade das verdades de ampliarem o
horizonte humano da interpretao. So retomadas tambm consideraes nietzschianas acerca da remisso das interpretaes ao fluxo
10 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Os desafios da Filosofia da Interpretao
incessante do vir-a-ser, ao corpo como organizao, como relao
entre impulsos, a saber, como relaes de vontades interpretativas
de potncia.
Como conciliar a afirmao Tudo o que , interpretao, e
interpretao tudo o que (Abel 3, p. 55) com o carter de vira-ser do mundo? Para Abel, no se trata mais do da identidade, da metafsica tradicional, mas do da determinao espaotemporal, na qual todo objeto ou evento j o resultado de uma
interpretao. Com a Filosofia da Interpretao, Abel no pretende
apenas dar conta do problema da verdade no mbito de temas da
filosofia da linguagem e da epistemologia, mas aponta tambm para
a possibilidade de construo de uma tica da interpretao.
Abstract: This article roused from the reading of Truth and interpretation aims at showing to Brazilian public the most important aspects of
Gnter Abels approach to Nietzsches philosophy. Revealing the relevance
of Nietzschean comprehension of truth from the perspective of will to power
and interpretation, the author formulates a new meaning to the speech of
truth, i. e., the truth as interpretation, as creation risen from the very
processes of interpretation e practical application of signs.
Key-words: interpretation truth becoming language
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 11
Abel, G.
notas
Num fragmento pstumo de 1885, Nietzsche afirma que a
interpretao atua em todo o mundo orgnico: a vontade
de potncia interpreta: na formao do orgnico trata-se de
uma interpretao: ela (a vontade de potncia) delimita,
determina graus e diferenciaes de potncia. (...) Em
verdade, a interpretao mesma um meio para se tornar
senhor sobre algo. (O processo orgnico pressupe continuamente um interpretar) (KSA XII, 2 (148)).
2
Na obra Nietzsche: Die Dynamik der Willen zur Macht und
die ewige Wiederkehr, Abel procurava mostrar a coerncia
da noo de interpretao no interior da filosofia de
Nietzsche, na medida em que ele compreendia a vontade
de potncia e o eterno retorno do mesmo enquanto interpretaes que dizem respeito efetividade do mundo e
que se eximem do discurso metafsico da verdade (Cf. Abel
1, cap. VI). Nas obras Interpretationswelten e Sprache,
Zeichen, Interpretation, ele formula a sua compreenso filosfica prpria da interpretao de um modo mais amplo:
a interpretao entendida ainda como um processo fundamental, mas necessita ser analisada e compreendida a
partir das propriedades sintticas, semnticas e pragmticas dos signos lingsticos e no-lingsticos, bem como a
partir da gramtica e das regras dos sistemas conceituais e
lingsticos empregados. Abel no se serve nessas obras
somente dos recursos analticos e metodolgicos da filosofia da linguagem para fundamentar a filosofia da interpretao, mas visa, sobretudo, tratar de modo interpretativo
temas e problemas da filosofia da linguagem, da filosofia
da cincia, da esttica e da filosofia moral (cf. Abel 2,
introduo; cf. tb. Abel 3, parte I).
1
12 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Os desafios da Filosofia da Interpretao
referncias bibliogrficas
1. ABEL, Gnter. Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur
Macht und die ewige Wiederkehr. 2a. edio. Berlim/
New York, Walter de Gruyter, 1998.
2. _______. Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie
jenseits von Essentialismus und Relativismus. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1995.
3. _______. Sprache, Zeichen, Interpretation. Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1999.
4. _______. Verdade e interpretao. In: Cadernos Nietzsche
12, 2002. So Paulo, Departamento de Filosofia/USP.
5. NIETZSCHE, Friedrich W. Smtliche Werke. Kritische
Studienausgabe em 15 volumes. Berlim/New York,
Walter de Gruyter, 1988.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 13
Verdade e Interpretao
Verdade e Interpretao*
Gnter Abel**
Resumo: A partir da crtica compreenso tradicional de verdade e da
distino entre o seu sentido amplo e o seu sentido estrito, prope-se estabelecer um novo sentido da verdade, qual seja, da verdade como interpretao. Buscando apoio na filosofia de Nietzsche, a reformulao da questo da verdade se coloca no texto a partir da verdade da interpretao,
que se situa para alm da dicotomia entre essencialismo e relativismo.
Palavras-chave: verdade interpretao perspectividade signos
I. Interpretao da verdade
Verdade a palavra-chave da filosofia ocidental, que no mago foi a metafsica. Atingir a verdade uma meta pela qual so prometidas elevadas recompensas intelectuais, morais, religiosas e
metafsicas. Por isso, a crise do conceito de verdade pode ser
vista como a crise da metafsica mesma.
Duas distines ajudam a aclarar esse cenrio. Em primeiro
lugar, a distino entre um sentido amplo e um sentido estrito de
verdade. Em segundo lugar, a distino entre o esquema mais
antigo e tradicional de verdade e um sentido novo do discurso sobre
a verdade. O presente texto se baseia nessas duas distines.
Conferncia proferida em 17 de outubro de 2000 no Instituto Goethe de So
Paulo. Traduo de Clademir Lus Araldi, reviso de Andr Lus Mota Itaparica.
**
Professor do Instituto de Filosofia da Universidade Tcnica de Berlim.
*
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 15
Abel, G.
1. O sentido amplo da verdade
No mbito da questo da verdade, podem-se distinguir trs representaes basilares: (i) Verdade como concordncia e adequao
entre o pensamento e os objetos; (ii) verdade como automanifestao,
ou seja, como o mostrar-se da natureza pura e essencial das coisas
e (iii) verdade como atividade de tal procedimento.
Em todas as trs perspectivas pressuposto, alm disso, que
no h muitas, mas Uma nica Verdade.
A crtica dessas concepes e, portanto, do mago da metafsica
ocidental, radicaliza-se, sobretudo, com Nietzsche. No pensamento
de Nietzsche, no se trata simplesmente de substituir as representaes anteriores de verdade por uma outra. Ao contrrio, a
arquitetura do questionamento mesma, ou seja, do sentido da verdade, que reinterpretada. No somente o contedo, mas tambm
o esquema fundamental se modifica. Isso ocorre no s por meio
de uma crtica externa, mas de uma crtica interna. Quando
pensada at o fim, a concepo metafsica da verdade, assim parece,
corre perigo de se destruir a si mesma. Como se pode entender isso?
Se ao discurso sobre a verdade fosse ligada a exigncia de
obter conhecimento, poder-se-ia, ento, assegurar que h muitas
vias de conhecimento e, portanto, muitas verdades. De um lado, h
vias de conhecimento muito distintas (a via cotidiana, cientfica, artstica, religiosa, por exemplo). Por outro lado, podem ocorrer resultados conflitantes e distintos no interior de um nico modo e/ou relacionados a um mesmo estado de coisas (Sachverhalt). Nem as vias de
conhecimento nem os seus resultados podem ser reduzidos a uma
base comum a todos. Mas, se se pode partir de muitas verdades,
no se pode mais partir, ento, de Uma e nica Verdade. Alm disso, cada uma das trs representaes basilares so autodestrutivas.
Em primeiro lugar: No se pode explicar, rigorosamente falando, a idia de concordncia e adequao entre pensamento e
objetos. Uma tal tentativa fracassa j no primeiro passo. Sem o
16 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
emprego de signos, sem pensamento, portanto, no se pode sequer
apontar para aquilo com que se deve concordar. Toda tentativa nessa
direo conduz, no melhor dos casos, a uma regresso ao infinito.
Segundo Nietzsche e Kant, j a exigncia de concordncia absurda, disparatada (cf. KSA XIII, 14 [122]). No possvel pensar
que haja um mundo pr-fabricado e um sentido prvio, que simplesmente estejam disposio, aguardando por sua representao
e espelhamento em nossa conscincia.
Em segundo lugar: A idia de automanifestao, ou seja, do
mostrar-se da natureza pura e essencial das coisas, problemtica. Para seres humanos (menschliche Geister) finitos e perspectivsticos, algo somente pode ser um objeto individualizado ou um
evento se estiver sob as condies dos esquemas, dos signos e das
interpretaes que ns empregamos enquanto seres finitos. Caso
contrrio, h a ameaa da mitologia das coisas (Sachen) e dos estados de coisas (Sachverhalten).
Em terceiro lugar: Nietzsche acentuou que a tradicional vontade de chegar verdade, numa considerao mais atenta, no leva
a apreender os traos caractersticos da realidade (como, por exemplo, a troca e a transformao contnuas, a multiplicidade e o carter
processual do que acontece). Segundo Nietzsche, a vontade de verdade mostra-se, ao contrrio, como uma estratgia do a-firmar, do
tornar fixo, da reinterpretao do fluxo contnuo das coisas no ente.
Ela leva a uma produo de mundos fictcios, verdadeiros, essenciais, incondicionados e que permanecem iguais a si mesmos.
Nesse sentido, a verdade no dada, em si e preestabelecida; ao
contrrio, ela criada por meio de processos de determinao de
signos e de interpretaes. Aqui descobrir e produzir vo de mos
dadas. A verdade, segundo Nietzsche, o nome para a vontade
de dominao que em si no tem fim. Ela , nesse sentido, uma
palavra para a vontade de potncia (KSA XII, 9 [91]).
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 17
Abel, G.
Alm disso, uma vontade de verdade hipostasiada tem conseqncias niilistas. Isso visvel, to logo a perspectividade e a relatividade conceitual fundamental do entendimento humano do mundo, do outro e de si mesmo devam ser transcendidas ou eliminadas.
Perspectividade e relatividade conceitual fundamental que no
deve ser confundida com um relativismo da preferncia so, contudo, elementos indispensveis de todo entendimento humano do mundo, de outras pessoas e de ns mesmos. Quem quisesse eliminar
esses elementos suprimiria, com isso, precisamente a efetividade
do mundo.
Conseqentemente, aniquilar-se-ia tambm, com isso, a verdade. Ao final, pois, da realizao estrita desta vontade de verdade,
restaria, segundo Nietzsche, no o Ser Puro e Pleno, mas, ao contrrio, o nada vazio. (cf. KSA XII, 9 [91]) Por isso, a vontade de
verdade aparece na viso de Nietzsche como uma vontade de nada
no transparente a si mesma.
Do mesmo modo, a dicotomia entre o mundo verdadeiro e o
aparente vai abaixo. Quando se dissolve o mundo verdadeiro,
tambm o discurso do mundo aparente perde seu sentido (cf. GD/
CI, Como o verdadeiro mundo acabou por se tornar em fbula;
cf. tb. Abel 1, p. 324-341). Desse modo, a dicotomia verdade-aparncia reconhecida no seu todo como defeituosa. A questo que
resta, portanto, a de que aspecto poderia ter uma filosofia para
alm dessa dicotomia.
2. O sentido estrito de verdade
Verdade, em sentido estrito, significa uma propriedade das proposies, dos juzos mais prximos em que se expressa algo sobre a
constituio dos objetos, dos eventos, dos estados e dos fenmenos.
A questo acerca de quais critrios de verdade podem ser empregados desempenha um papel central. diferena das questes da verdade h pouco discutidas, trata-se aqui do mbito das teorias da
18 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
verdade em sentido estrito (por exemplo, da teoria da correspondncia, da teoria da coerncia, ou da teoria da redundncia da verdade).
A forma defendida e dominante mais corrente da teoria da verdade a teoria da correspondncia. Ela est mais prxima tambm
de nosso entendimento do cotidiano. A posio fundamental da teoria da correspondncia a de que uma proposio (um juzo, uma
representao) s e somente s verdadeira quando concorda com
a parte correspondente da realidade quando, portanto, h correspondncia entre a proposio (o juzo, a representao) e o mundo,
no importando se essa relao pensada como isomorfismo ou
como reproduo de qualquer tipo.
Entretanto, a dificuldade da teoria da correspondncia no consiste em encontrar a Relao nica e Correta entre proposio e
mundo, ou seja, entre proposio e estados de coisas. Ao contrrio,
a dificuldade da teoria da correspondncia consiste no fato de que
h demasiadas relaes que podem valer legitimamente, de certo
modo, como relaes que correspondem bem. Para poder discriminar, a partir de fora, uma relao determinada enquanto correta e
metafisicamente una, necessitar-se-ia ter anteriormente um acesso
ao mundo independente da linguagem e do esprito. Seres finitos
no dispem, evidentemente, de um acesso a um mundo inteiramente no interpretado.
Em nossos dias, esse ponto se apia sobretudo na assim chamada
teoria do modelo, particularmente nos argumentos desenvolvidos
por Hilary Putnam (cf. Putnam 8, p. 1-25; cf. tb. idem 7, cap. II).
Segundo a teoria do modelo, um predicado, sobretudo um predicado vago, pode manter uma relao com mais do que um nico
membro de uma totalidade de estados de coisas. Deve-se admitir,
por isso, que quando ocorrer um desses estados de coisas e no
outros, o predicado no verdadeiro nem falso. Isso significa que a
bivalncia estrita de verdadeiro e falso minada. Desse modo, o
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 19
Abel, G.
conceito de verdade no sentido estrito da teoria da correspondncia
se dissolve a si mesmo.
II. Verdade como interpretao
1. O modelo da interpretao
As dificuldades esboadas da concepo metafsica da verdade
no podem ser resolvidas somente com uma mera modificao no
plano do conceito de verdade. Ao contrrio, parece haver a exigncia de que o antigo esquema no seu todo seja submetido a uma
reinterpretao. Seguindo a linha de Nietzsche, pode-se fazer a
tentativa de compreender a verdade no mais como aquilo que
preexiste independentemente da sua interpretao. Ao contrrio, a
verdade poderia ser vista como o nome para a produo nos processos interpretativos. Com esses processos no se chega, definitiva
e universalmente, a um fim obrigatrio. Neles surge a verdade, que
serve tambm classificao de proposies (juzos, representaes)
enquanto verdadeiro ou falso. Nesse sentido, pode-se conceber
a verdade como interpretao. Nos processos de interpretao no
se trata, portanto, primariamente, de des-cobrir, de desvelar uma
verdade preexistente e pronta. No mais a interpretao que depende da verdade, mas antes a verdade que depende da interpretao.
Desse modo, a questo da verdade perde sua posio central,
em proveito da problemtica da interpretao. Isso no significa e
esse um ponto muito importante! que a questo da verdade tenha se tornado obsoleta, nem que ela desaparea no conceito de
interpretao, pois ns fazemos, enfim, a distino entre verdadeiro e falso e a entendemos com evidncia. No se trata, portanto,
da destruio, mas da re-concepo do sentido da verdade. E esta
re-concepo pode resultar da base dos processos de interpretao
20 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
fundamentais e continuamente compreendidos em contraposio ao
discurso da Verdade.
Em tais discursos sobre a interpretao, empregado um
determinado conceito de interpretao. No ocorre nele o entendimento estrito de interpretao no sentido da exegese (Auslegung) e
da explicao (Deutung) hermenuticas de algo dado previamente,
por exemplo, de um texto ou de uma ao. No sentido amplo, todas
essas relaes, cujos componentes so centrais, podem ser vistas
como relaes de interpretao, podendo ser caracterizadas como
perspectivsticas, esquematizadoras, construcionais, projetveis e
interpretantes. Isso ocorre em todos os processos em que discriminamos, identificamos e reidentificamos fenomenalmente algo como
Algo determinado. Temos, ento, em relao ao mundo e s configuraes de sentido assim formados, opinies, convices e um saber pragmtico. Interpretao no significa, portanto, somente um
procedimento complementar do explicar e do conhecer, nem meramente uma ars interpretandi. Desse modo, sobretudo os processos
da percepo, da fala, do saber, do pensar e do agir humanos podem ser caracterizados como interpretativos. O sentido predicativo,
adjetivo e adverbial de interpretativo particularmente importante
em vista da caracterizao dos respectivos processos.
Diante desse pano de fundo, pode-se distinguir diferentes tipos
e nveis de interpretao. Pode-se nomear aqui, pelo menos, trs
nveis: em primeiro lugar (a) o j mencionado nvel da apreenso e
da explicao, em resumo, as chamadas interpretaes3 (como,
por exemplo, a explicao de uma palavra, bem como a formao
de hipteses e teorias); destas interpretaes pode-se, ento, distinguir (b) os modelos interpretativos que esto apoiados em nossos
hbitos e formas de relao (como, por exemplo, as convenes
estabelecidas e as prticas culturais), em suma, as tambm chamadas interpretaes2; e, de ambas, por sua vez, pode-se distinguir
aqueles componentes interpretativos que j so efetivos nas funes
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 21
Abel, G.
categorizantes de nossos sistemas de linguagem e de signos, bem
como de nosso ser-no-mundo (Heidegger), enfim, as ditas interpretaes1. Nesse ltimo plano leva-se em conta, por exemplo, o
emprego dos conceitos existncia e pessoa, os princpios de localizao espao-temporal e da individuao1.
2. Reformulao da questo da verdade
Tendo em vista a relao entre verdade e interpretao, esse
modelo de interpretao em nveis permite uma nuance na descrio. Com sua ajuda pode-se precisar a tese fundamental, segundo a
qual no a interpretao que depende da verdade, mas a verdade
que depende da interpretao. Isso possvel no sentido estrito da
concepo da verdade (a saber, na verdade das afirmaes discursivas, e em vista das teorias da verdade). Isso possvel tambm para
o sentido amplo da concepo de verdade (a saber, em relao
questo do que, como se diz, na verdade ).
Dois aspectos constituem o ponto de partida: (i) no plano fundamental das relaes de interpretao1, facticidade e interpretatividade no esto ainda separadas, ou seja, esto fundidas; (ii) as
relaes de interpretao1 so logicamente anteriores verdade
discursiva.
Toda esfera individualizada pode ser vista, diante desse pano
de fundo, como um mundo da interpretao. Sem os processos precedentes de interpretao1 e seus resultados no haveria nada a
descrever, a esclarecer, a fundamentar, a explicar, a conhecer e a
entender, portanto, nenhuma exigncia de interpretaes, ou seja,
de explicaes nos trs planos. Nos processos dos planos de interpretao1 somente assegurado, em geral, o que vale como ente
ou como no-ente e o que vale como verdadeiro ou falso e, portanto, o que pode ser tambm objeto da interpretao3 explicativa e
apropriadora.
22 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
A questo da verdade no sentido estrito e discursivo do termo se
coloca somente depois que (i) aqueles objetos e eventos, sobre os
quais as proposies (juzos, representaes) entram em relao, so
formados nos processos de interpretao1, e depois que (ii) algum
tenha perguntado explicitamente pela verdade ou falsidade de uma
proposio (de um juzo, de uma representao). A respectiva proposio (juzo, representao), bem como a pergunta por sua verdade ou falsidade esto localizadas no terceiro plano das relaes de
interpretao.
A questo da verdade discursiva consiste, portanto, no interior
do modelo de interpretao em trs nveis, na relao entre: a) os
juzos no plano 3 das interpretaes, (b) outros juzos, que j so
tidos por verdadeiros, e (c) os objetos e eventos que foram identificados e individualizados nos processos de interpretao no plano 1.
Isso mostra, alis, que a verdade discursiva, a verdade em sentido estrito e ligada gramtica do juzo, no basta para caracterizar
a vida humana em suas figuras fundamentais.
Consideremos agora a concepo de verdade no sentido amplo
e essencial do termo. Tambm aqui a dependncia esboada da verdade em relao interpretatividade conduz concepo da verdade como interpretao. Segundo Nietzsche, da concepo mais
antiga da verdade no resta nada mais a considerar, a no ser os
processos mltiplos e irredutveis de interpretao, aquilo que, como
se diz, na verdade . Isso vale ainda mais na medida em que a
mais antiga concepo de verdade estava comprometida com a veracidade enquanto sua lei moral. Em conseqncia dessa imbricao,
a busca da verdade provoca, justamente, a dissoluo do mais antigo esquema da questo da verdade.
O carter interpretativo dos processos vitais e, em geral, de tudo
o que ocorre, obstruiu sistematicamente o caminho para um
essencialismo renovado atrs dos processos de interpretao. Segundo Nietzsche, o interpretar mesmo tem existncia, no en-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 23
Abel, G.
quanto um ser, porm enquanto um processo (KSA XII, 2 [151]).
importante acentuar isso, pois tanto o sentido estrito quanto o amplo
de verdade somente podem ser tratados e considerados enquanto
modos da interpretatividade na medida em que os processos de interpretao recuam a essas posies fundamentais e irredutveis.
Alm disso, esse carter interpretativo dos processos que nos
leva a afirmar que as verdades nasceram e se tornaram fortes,
mas tambm que elas podem envelhecer e morrer. Tanto a vitalidade quanto a mortalidade das verdades, inclusive a sua
historicidade, so conseqncias de seu carter interpretativo. Desse modo, o tempo entra na verdade. A metafsica clssica havia esquecido o tempo e a histria.
A posio central da problemtica da interpretao no conduz,
de modo algum, a um relativismo, no sentido de que toda interpretao seria vlida para cada um de ns em igual medida. H uma
diferena fundamental entre a relatividade conceitual fundamental
(que indispensvel e no-eliminvel) e um relativismo da preferncia (que no pode ser explicitado de modo coerente). Alm disso,
no podemos, de modo algum, modificar voluntariamente a estrutura das relaes de interpretao1, ou troc-la por uma outra. Por
isso, depara-se facilmente, por exemplo, com estruturas duradouras de interpretao1, que dificilmente se modificam no suceder das
geraes. Nesse sentido, h uma necessidade interna ligada aos
processos reais de interpretao. Os processos vitais repousam nessa necessidade. Do mesmo modo, a vida tambm se delimita no
relativismo.
De nossos dois primeiros passos (interpretao da verdade, verdade como interpretao), deve seguir um terceiro: a verdade da
interpretao. No se trata mais, em realidade, de posicionar-se
novamente atrs dos processos fundamentais de interpretao. A
questo da verdade da interpretao deve desdobrar-se de modo
que ela no recaia no mbito da metafsica da essncia.
24 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
III. A verdade da interpretao
1. Erro e verdade
Algumas das mais antigas respostas questo da verdade da
interpretao no esto mais disponveis. A elas pertence tambm
o recurso verso tradicional da oposio verdadeiro-falso, sobretudo no sentido de uma relao de correspondncia. No falar, no
pensar e no representar no comparamos nossas interpretaes (palavras, juzos, representaes) com coisas puras, transcendentes
s interpretaes. Sempre podemos compar-las somente com outras
interpretaes tidas j por verdadeiras. Nesses casos, no se trata
nem da relao entre interpretao e coisa pura nem da relao
entre signos e coisas. Ao contrrio, trata-se das relaes entre os
signos, bem como das interpretaes entre si, das formaes mais
prximas de signos sobre signos, a saber, das formaes de interpretaes sobre interpretaes. Nietzsche acentuou que a funo de
representao dos signos remonta inveno de signos para espcies inteiras de signos (KSA XII, 1 [28]), principalmente abreviao de muitos signos por meio de outros signos almejados.
Tais processos de signos e de interpretao podem ser aplicados, segundo Nietzsche, no plano do orgnico. Nos processos do
organismo humano, trata-se de funes altamente especializadas e
da mais elevada complexidade do arranjo dos sistemas compostos.
Com a complexidade e com a especializao das funes, cresce
tambm a perspectividade (cf. FW/GC 354). Esta se manifesta
nas formaes de constructos fixadores, simplificadores e representantes das mais distintas espcies. E, justamente nesses casos, surge tambm o erro.
Ocorrendo isso, torna-se claro, ento, em que sentido os erros
so paradoxalmente indispensveis e no-eliminveis em nossa vida.
Sem os erros, por exemplo, do tornar igual e do tornar simples no
poderamos, como Nietzsche acentua, manter-nos na existncia. Ns
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 25
Abel, G.
nos difundiramos, ao contrrio, no fluxo das coisas, mais precisamente, desapareceramos no fluxo indiscreto dos processos de
interpretaes mltiplos. Nesse sentido, estamos em certa medida
presos ao erro, necessitados do erro (GD/CI, A razo na filosofia, 5).
Verdade, na clebre formulao de Nietzsche, a espcie
de erro sem o qual uma determinada espcie de seres vivos no
poderia viver (KSA XI, 34 [253]). O erro tomado aqui como
genus; a verdade, como species. E a differentia specifica consiste na
relao com as condies de vida: o valor para a vida decide finalmente (ibidem). Com isso, depara-se com a questo de se a
inverdade pode ou no ser admitida como condio de vida (cf.
JGB/BM 4). Desse modo, verdade e falsidade aparecem no
mais como opostos com origens metafsicas prprias e separadas.
Nietzsche questiona se no bastaria talvez, em vez da dicotomia
essencialista entre verdade e falsidade, supor graus de aparncia
(JGB/BM 34).
2. Verdade como propriedade
A verdade da interpretao no pode mais ser concebida como
uma propriedade atemporal que uma interpretao no pode perder. Uma tal perspectiva se oporia ao carter de interpretao enquanto tal, bem como temporalidade e historicidade de um entendimento humano do mundo, do outro e de si mesmo.
Nossos signos e interpretaes possuem traos semnticos (ou
seja, significao, referncia e condies de satisfao); eles possuem tambm traos pragmticos (ou seja, uma relao com o tempo,
com a situao, com o contexto e com pessoas). Esses traos no
podem ser concebidos como propriedades supratemporais dos signos e das interpretaes. Ao contrrio, eles dependem, usando a
expresso de Wittgenstein (cf. Wittgenstein 9, 1-64 e 198-242), da
prxis do emprego dos signos. Entretanto, se os traos semnticos e
26 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
pragmticos no so propriedades supratemporais, como poderia a
verdade, ento, ser uma propriedade supratemporal de um signo e
de uma interpretao?
Isso s seria possvel se a semntica e a pragmtica das interpretaes pudessem ser concebidas mais ou menos no sentido das
condies objetivas de verdade de Donald Davidson (cf. Davidson
4). Uma tal prova deve, contudo, fracassar. Ela teria, em primeiro
lugar (i), que explicitar um realismo sem relatividade conceitual fundamental; e deveria, em segundo lugar (ii), mostrar que uma expresso s e somente s tem significado quando e porque ela verdadeira, de modo que sua verdade objetiva pudesse ser suposta,
em toda interpretao plena de significado, como certa. Evidentemente, esse no o caso. Tambm no se tm em vista critrios
independentes da interpretao nem pressuposies internas interpretao que permitissem conceber a verdade da interpretao
enquanto uma propriedade atemporal e objetiva construda antes
da interpretao.
3. Tempo e verdade
Deve-se notar que a questo da verdade da interpretao no
est obrigatoriamente vinculada a um essencialismo. Pode-se agora
substituir a pergunta o que verdade? pela pergunta Quando
ocorre a verdade?. Desse modo, a pragmtica e a temporalidade
ingressam decisivamente na problemtica da verdade. A verdade
mesma torna-se temporal.
Certamente, a ligao entre interpretao e tempo existe j
previamente ao cruzamento entre tempo e verdade. O tempo
determinado pelas interpretaes que nele ocorrem. Com auxlio
dos modos temporais (durao, seqncia, simultaneidade), o tempo serve, por sua vez, determinao das interpretaes no tempo.
O tempo , assim poder-se-ia dizer, na linha de Kant, (cf. Kant 5,
B34 ss, e 49 ss) forma da interpretao. O tempo no , sob condi-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 27
Abel, G.
es crticas e kantianas, algo que exista por si s e fora das interpretaes, das quais ele forma. Alm disso, ele no subsistiria se
se afastassem dele todas as interpretaes ou se se abstrasse delas.
4. Projetabilidade e compatibilidade
Como foi ressaltado, a verdade da interpretao no consiste
mais na correspondncia ou adequao prpria coisa externa.
Ao contrrio, ela diz respeito projetabilidade de signos e de interpretaes e compatibilidade recproca, isto , possibilidade de
acordo e de combinao do modelo e do standard das interpretaes, bem como sua posio no sistema, que vale por ora como
norma na prxis do tempo. Por isso, a verdade da interpretao
pode ser concebida como uma posio regulada da interpretao
em relao a outras interpretaes j tidas por verdadeiras no interior de uma rede e, portanto, como funo de coerncia face rede
de interpretaes.
As normas da interpretao asseguram, antes de mais nada,
quando e sob que condies uma interpretao pode ser considerada
como verdadeira ou como falsa. Essas normas no so definveis
ou dadas previamente por um conjunto a-histrico e fixo de princpios. Isso no quer dizer que os processos de interpretao transcorram sem regra. Antes, quer dizer que as regras do interpretar
efetivo podem ser reconstrudas apenas internamente; elas no
certificam previamente, mas determinam o uso efetivo dos signos.
5. Complexidade e individualidade
Nietzsche formula a hiptese de que as interpretaes humanas
tm sua sede j no organismo, na organizao corporal, a qual no
somente escolhemos, mas somos individualmente. Com isso, a organizao corporal pode ser vista, por sua vez, como um sistema altamente complexo de diferentes processos de interpretao.
28 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
Ocorrendo esse sinal distintivo, cada um de ns pode ser visto,
ento, enquanto organizao corporal, que existe individualmente
enquanto fundo interpretativo da verdade de suas interpretaes.
Correspondentemente, a questo da verdade da interpretao to
complexa quanto o homem como complexo de interpretaes. Sob
essa complexidade e individualidade, no se pode mais possuir agora
a verdade. Ela no , por exemplo, o que resta quando ordenamos
nossas proposies com auxlio da sintaxe lgica da linguagem. Na
questo da verdade da interpretao, trata-se, por fim, da posio
que ns mesmos ocupamos, enquanto sistemas interpretativos que
somos, no acontecer da interpretao que no pode ser vislumbrado em sua totalidade e que se encontra em fluxo.
6. Gradao da verdade
A verdade da interpretao possui uma gradao. No lugar da
Verdade de uma interpretao, ocorrem graus de verdade. O grau
de verdade de uma interpretao medido segundo a proximidade
ou a distncia entre as interpretaes3 (nas quais levantada uma
pretenso de verdade na forma de um juzo) e as interpretaes1 (s
quais se devem os objetos de referncia, para os quais se orientam
as pretenses de verdade dos juzos).
O grau de verdade de uma interpretao depende: (i) da relevncia da interpretao para o indivduo; (ii) da consolidao e da
firmeza da interpretao no interior do corpo de interpretaes; (iii)
da capacidade de coalizo com outras interpretaes; (iv) da aptido de poder ser adotada na rede existente de interpretaes; (v)
da capacidade de poder organizar nossa experincia de um modo
mais abarcante e simples do que o vigente; (vi) da fora de poder
contribuir para a intensificao da experincia; (vii) da entrega a
perspectivas distintas e tambm conflitantes; e (viii) do ultrapassamento de horizontes de interpretao restritos e da capacidade de
abertura de novos.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 29
Abel, G.
Os cinco primeiros aspectos podem servir, ao mesmo tempo,
para reformular o conceito de verdade no sentido do esquema mais
antigo (a saber, da verdade no sentido do fixar, ou seja, do tornar
fixo). Em contrapartida, os trs ltimos aspectos nomeados se referem ao novo sentido do discurso da verdade da interpretao. Esse
novo sentido est relacionado ao fluxo no-fixvel das interpretaes, ao fluxo contnuo das coisas do mundo e da vida. Se o horizonte da interpretao puder ser intensificado e ampliado, sem prejudicar a capacidade de viver, ser possvel, ento, a intensificao
tanto da potncia quanto da verdade. Quem, por exemplo, pode
permitir e admitir contradies e no-identidades, em vez de reprimi-las ou torn-las iguais, este poderoso por isso e est, no novo
sentido, na verdade.
Essa possibilidade se d de um modo mais enftico antes nas
artes do que no mbito da gramtica do juzo e dos conceitos. Por
isso, segundo Nietzsche, a arte mais valiosa que a verdade (KSA
XIII, 17 [3]), mais precisamente: ela mais valiosa que o esquema
da verdade mais antigo.
Para Nietzsche a verdade ltima do fluxo das coisas (KSA
IX, 11 [162]) ambivalente e perigosa para a continuidade e sobrevivncia do tipo, tanto para o indivduo quanto para a espcie.
Aqui instituem-se, agora para Nietzsche, as questes centrais em
relao ao novo sentido da verdade: Quanto de verdade suporta,
quanto de verdade ousa um esprito?, e: Em que medida a verdade suporta a incorporao? esta a questo, este o experimento (FW/GC 110).
30 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Verdade e Interpretao
Abstract: Beginning with the critique to the traditional apprehension of
truth and the distinction between its wide and restrict meanings, the article
aims at introducing a new conception of truth, i. e., the truth as
interpretation. Based on Nietzsches philosophy, the reformulation of the
question of truth appears within the text in view of the truth of interpretation,
which settles itself beyond the dichotomy between essentialism and
relativism.
Key-words: truth interpretation perspectiveness signs
notas
1
Desenvolvi essas relaes em pormenor nos livros: Mundos
da interpretao: A filosofia contempornea para alm do
essencialismo e do relativismo, 1993, 2. ed. 1995; e Linguagem, signos, interpretao, 1999. No quero me deter
aqui nos pormenores. Por ora importante somente salientar que se trata de um modelo de interpretao de trs
nveis, e que este modelo pode se tornar tambm frutfero
para reformular a relao entre verdade e interpretao.
referncias bibliogrficas
1. ABEL, G. Nietzsche. Die Dynamik der Willen zur Macht
und die ewige Wiederkehr. Berlim/New York, Walter
de Gruyter, 1984.
2. _______. Interpretationswelten. Gegenwartsphilosophie
jenseits von Essentialismus und Relativismus. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1993.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 31
Abel, G.
3. ABEL, G. Sprache, Zeichen, Interpretation. Frankfurt am
Main, Suhrkamp, 1999.
4. DAVIDSON, D. Inquiries into truth und interpretation.
Oxford, Clarendon Press, 1984.
5. KANT, I. Kritik der reinen Vernunft. Editado por R.
Schmidt, Hamburgo, 1956.
6. NIETZSCHE, F. Werke. Kritische Gesamtausgabe, (KGW).
Edio de Colli e Montinari. Berlim, Walter de Gruyter,
1967 ss.
7. PUTNAM, H. Truth and History. Cambridge/New York,
Cambridge University Press, 1981.
8. _______. Realism and Reason. In: Philosophical Papers,
vol. 3. Cambridge/New York, Cambridge University
Press, 1983.
9. WITTGENSTEIN, L. Philosophische Untersuchungen. In:
Schriften, vol. I. 4a. Edio, Frankfurt am Main, 1980.
32 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
Equvocos marxistas*
Mazzino Montinari **
Resumo: Em A destruio da razo, Lukcs interpreta Nietzsche como
um pensador anti-socialista par excellence e apologista indireto da burguesia. Apontando o cristianismo com a via pela qual o filsofo alemo critica
o socialismo e analisando filologicamente alguns fragmentos pstumos nos
quais Lukcs apoia sua interpretao, Montinari procura, nesse texto, desfazer a assimilao do pensamento nietzschiano, decorrente de uma leitura equivocada, ideologia fascista e imperialista.
Palavras-chaves: socialismo cristianismo interpretao
Seja-me permitido, antes de tudo, constatar uma coisa que j
est presente na conscincia de todos aqueles que decidiram, inclusive na Itlia, ocupar-se criticamente de Nietzsche. Quer dizer,
parece-me que hoje no se volta mais s obras desse filsofo para
delas extrair, aqui e ali, alguma inspirao circunscrita, por exemplo, a respeito de algumas questes de histria da literatura alem
(como fazia com incontestvel fineza Vittorio Santoli em sua Storia)
e que tambm no se limita somente a considerar Nietzsche um esplndido artista ou como o grande e prfido agressor da palavra
(Gramsci), ou, quem sabe, investigar a importncia de sua crtica
civilizao burguesa. Tudo isto no mais suficiente para ns hoje.
Na realidade, inclusive na Itlia, busca-se uma nova medida que
*
Traduo de Dion Davi Macedo. Mestre em filosofia pela PUC-SP
O ensaio aqui recolhido (Equivoci marxist) foi originalmente publicado em
Su Nietzsche, Roma, ed. Riuniti, 1981, p. 90-103.
**
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 33
Montinari, M.
permita aproximar-se dessa figura complexa e ainda carregada de
um fascnio demonaco, que simultaneamente atrai e afasta. Querse, em suma, na maioria das vezes, fazer justia a Nietzsche, recriar
uma imagem, um Nietzsche-Bild como dizem os alemes que o
situe em uma nova luz.
No grande infortnio que a assim chamada fortuna de
Nietzsche, so sempre mais estimulantes para uma nova reelaborao crtica no os seus vulgarizadores fascistas ou estetizantes
(como Mussolini e dAnnunzio, ou, para apresentar nomes mais
srios, Alfred Bumler e Ernst Bertram), mas os escritores, filsofos, romancistas, os grandes intelectuais, em suma, os que sempre
reconheceram seu dbito em relao a Nietzsche e que certamente
no se encontram ao lado de seus utilizadores fascistas: pensamos,
em primeiro lugar, em Heinrich, Thomas Mann, Robert Musil, Karl
Jaspers, Edgar Salin e em Karl Lwith, para o mundo alemo, em
Gide, Camus, Sartre e Valry para o francs. E outros nomes poderiam ser apresentados nessa linha, que a linha da assimilao original e frtil da problemtica nietzschiana. Sem contar o fato de que
praticamente no h hoje autor ou corrente literria, artstica e filosfica dos primeiros 50 anos do sculo XX que no seja examinado
em sua relao com o fenmeno Nietzsche.
Na Itlia sintomtico que vrios estudiosos prximos ao marxismo, como Paolo Chiarini e Ferruccio Masini, sintam a mesma
exigncia de um reexame crtico da herana de Nietzsche. Tudo
isto explica, entre outras coisas se lcito j interpretar historicamente a prpria atividade , porque se sentiu a necessidade de
uma nova edio crtica das obras de Nietzsche. Decerto, h uma
dezena de anos, quando se comeou a falar da edio italiana das
obras de Nietzsche, esta no foi geralmente sentida como um fato,
no dizemos positivo, mas ao menos novo para a nossa cultura: viuse nisto antes de tudo o perigo de um reflorescimento de velhos
vcios da cultura, ou melhor, da subcultura italiana. Temia-se um
34 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
perigoso retorno ao assim chamado irracionalismo de que a edio
das obras de Nietzsche seria um sintoma. J naquele momento, Delio
Cantimori tomou posio quanto aos temores expressos por Cesare
Vasoli em relao a isto, ressaltando, ao contrrio, a necessidade
de uma boa edio italiana das obras de Nietzsche e o valor libertador de um conhecimento filologicamente adequado de seu pensamento. Que se tratava de uma exigncia atual e reconhecida, demonstrou-o ainda mais posteriormente a transformao daquela que
deveria ser simplesmente uma boa edio italiana em uma edio
crtica do texto original.
No confronto crtico com Nietzsche de que tanto se falou, assume uma particular importncia a interpretao que deu deste pensador um dos mximos crticos marxistas do nosso tempo: Georg
Lukcs. E isso pelas seguintes razes: 1) antes de tudo pela prpria
importncia que o marxismo, enquanto filosofia ou concepo de
mundo, tem no nosso presente, no mundo inteiro; 2) porque a interpretao de Lukcs influenciou profundamente estudiosos marxistas e no marxistas, e, em geral, porque as agudas aplicaes
lukacsianas do mtodo marxista ao terreno da histria da cultura
(pense-se em sua interpretao de Goethe ou Thomas Mann e, mais
geralmente, em sua viso da histria da literatura alem) so ainda
hoje largamente aceitas e utilizadas, at l onde na seqncia dos
acontecimentos polticos hngaros de 1956 se evita proferir o
nome de Lukcs, quer dizer, na maior parte daqueles pases que
costumamos chamar de socialistas.
As dificuldades intrnsecas da aplicao do mtodo marxista aos
fatos pertinentes superestrutura so conhecidas. Uma discusso
de princpio sobre o modo estabelecido por Lukcs para interpretar
a literatura, a filosofia e a arte em geral no deve ser anteposta s
nossas consideraes, talvez, ao contrrio, delas possam derivar alguns elementos que esclaream a questo geral de mtodo. Alm
disso, seja-me permitido uma especificao de carter pessoal, no
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 35
Montinari, M.
modo menos convencional possvel: eu no me considero marxista
e naturalmente sequer nietzschiano, mas, de maneira bem diferente, um estudioso de Nietzsche e tambm de Marx e de Engels.
Se deixarmos de lado as freqentes referncias ocasionais a
Nietzsche que se encontram em todas as obras de Lukcs, inclusive
a partir dos ensaios pr-marxistas de Die Seele und die Formen,
referncias que testemunham um conhecimento aprofundado e um
debate contnuo que valeria a pena reconstruir por inteiro , os
escritos nos quais Lukcs dedica-se interpretao de Nietzsche
so trs: o primeiro, agora includo nas Contribuies histria da
esttica, foi escrito em 1934 sob o ttulo de Nietzsche como precursor
da esttica fascista; o segundo, escrito durante a guerra em 1943,
tinha por ttulo O fascismo alemo e Nietzsche e reapareceu, por sua
vez, na coletnea Schicksalswende (Reviravolta do destino), uma
srie de ensaios que deveriam ser como diz o subttulo dessa
coletnea em 1948 contribuies para uma nova ideologia alem; a nova ideologia alem, no sentido atualizado da obra
homnima de Marx e de Engels, converteu-se em seguida, em 1952,
na grande obra intitulada A destruio da razo que, um pouco repetindo o ttulo de uma obra de Peter Viereck, Dos romnticos a
Hitler, tinha como subttulo O caminho do irracionalismo de
Schelling a Hitler; nesta obra, o captulo central o terceiro, cujo
ttulo Nietzsche como fundador do irracionalismo do perodo
imperialista. Os trs trabalhos sobre Nietzsche so igualmente etapas de um requisitrio contra o prprio Nietzsche, que se torna sempre mais rgida e conseqencial. Se, especialmente no terceiro ensaio, Lukcs procurava conservar as diferenas entre Nietzsche e a
ideologia fascista, personalizada particularmente no tanto por Hitler
quanto por Alfred Rosenberg e ainda mais por Alfred Bumler,
justamente porque ele admitia que, tudo somado, a incorporao
da herana espiritual de Nietzsche ao Terceiro Reich era, se no
totalmente ilegtima, pelo menos grosseira. No captulo mencionado
36 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
de A destruio da razo, a condenao era global na mesma medida em que o pensamento de Nietzsche era praticamente assimilado
ideologia do fascismo e do imperialismo, enquanto antecipao
ideal, no sentido da apologia indireta do capitalismo, desses dois
fenmenos polticos do nosso tempo.
Em certos casos, ao contrrio, como a propsito da averso de
Bumler a uma das idias fundamentais de Nietzsche, a saber, em
relao idia do eterno retorno do mesmo, Lukcs era solcito em
esclarecer ao prprio Bumler que, na realidade, essa teoria pseudoreligiosa e pseudo-cientfica harmonizava-se muitssimo bem com a
teoria da vontade de potncia naturalmente muito apreciada por
Bumler. A ser assim, o Nietzsche de Lukcs tornava-se, sem dvida, mais fascista do que o Nietzsche de Bumler.
Ao Nietzsche de A destruio da razo pretendemos voltar, portanto, a nossa ateno, justamente porque aqui o ajuste de contas
o mais radical possvel e porque esta interpretao nos parece ser a
ltima palavra que Lukcs deu sobre Nietzsche. Posso tambm testemunhar que, tendo sido convidado para colaborar com um peridico internacional dedicado ao estudo de Nietzsche, os NietzscheStudien, Lukcs fez saber aos meus colegas redatores e a mim que
no sentia nenhuma necessidade de acrescentar nada mais quilo
que j havia dito a respeito.
Dados os limites inerentes a uma interveno como esta, no
poderei fornecer seno alguns elementos que devero ser os mais
concretos possveis e, simplesmente, encaminhar uma discusso
sobre as interpretaes marxistas de Nietzsche. O tema, com efeito,
muito mais vasto do que nos parece primeira vista, j que ele
no apenas prope em termos gerais como j indicamos o problema das relaes entre a base econmica-social e a superestrutura, mas e em conexo com isto o problema ainda mais geral das
relaes entre filosofia e concepo materialista da histria, isto ,
aquele problema que era vislumbrado por Gramsci quando escre-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 37
Montinari, M.
via, a propsito da historicidade do materialismo histrico ou da
filosofia da prxis, que esta, nascida como manifestao das ntimas contradies que dilaceram a nossa sociedade, no pode subtrair-se ao atual terreno das contradies, todavia, tambm provisria, graas historicidade de toda concepo de mundo e de
vida. Ou melhor, pode-se at chegar a afirmar escrevia ainda
Gramsci que, enquanto todo o sistema da filosofia da prxis pode
tornar-se caduco em um mundo unificado, muitas concepes idealistas, ou pelo menos alguns aspectos dessas concepes, que so
utpicas no reino da necessidade, podero tornar-se verdade.
Uma das estruturas indicadoras da interpretao lukacsiana de
Nietzsche o que Lukcs chama de a apologia indireta da sociedade burguesa. O mtodo da apologia indireta consiste na difamao de toda ao social, particularmente da tendncia de mudar a
sociedade. Os representantes da apologia indireta do sistema burgus (como Schopenhauer, Kierkegaard e, posteriormente,
Nietzsche) isolam o indivduo e aparentemente criticando a sociedade existente colocam ideais to altos e em contraste com a realidade a ponto de dispensar o prprio indivduo de sua atuao e
induzi-lo a deixar tudo como est: a crtica, portanto, aparente
porque se resolve na defesa ou ao menos na aceitao do sistema
existente.
Desse modo, Lukcs impede qualquer tentativa de referir-se a
Nietzsche como crtico da civilizao burguesa, como, por exemplo,
havia feito Thomas Mann em seu discurso Nietzsche luz da nossa experincia, em 1947. Assim Nietzsche, mais ainda do que por
aquilo que dissera concretamente em seu tempo, julgado por aquilo
que o seu discurso poderia produzir como efeito sobre os intelectuais de uma poca posterior. Lukcs critica Franz Mehring por este
ter afirmado uma vez que o nietzschianismo poderia constituir para
os jovens de provenincia burguesa uma etapa na passagem para as
idias socialistas.
38 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
Lukcs quer demonstrar que a obra de Nietzsche no seno
uma contnua polmica contra o marxismo, contra o socialismo,
ainda que Nietzsche, como Lukcs admite, jamais tenha lido uma
linha de Marx e de Engels.
A apologia indireta refinada por Nietzsche com novos meios.
Antes de tudo, mediante o mito. Lukcs considera que se deva falar, para todos os componentes do pensamento de Nietzsche, de
mitologia, de mitizao. E quem sabe a mais de um leitor de
Nietzsche parecer que o termo mito deva ser aplicado a concepes como: vontade de potncia, eterno retorno do mesmo, alm do
homem, etc.
Karl Lwith observou justamente, em polmica com Bertram, a
importncia do conhecimento adquirido, diz ele, de Hegel e de
Jacob Burckhardt segundo o qual nada nos distingue, homens
modernos, dos antigos quanto falta de uma verdadeira mentalidade mstica, de um autntico modo de pensar mtico. Mas, se isso se
aplica com plena razo contra qualquer tentativa de Bertram de
extrair das trevas da lenda a vida e o pensamento de Nietzsche,
deve-se ressaltar ainda mais o fato de que o conhecimento do fim
irremedivel de todo mito foi uma conquista do prprio Nietzsche,
isto , a partir do momento em que ele se libertou definitivamente
das suas iluses wagnerianas e schopenhauerianas (por volta de
1875-76) e nunca mais pensou na restaurao do mito germnico a
que havia dedicado pginas entusisticas no Nascimento da tragdia. Deve ser lida nesta chave a Segunda extempornea sobre a histria: referindo-se conscincia de Nietzsche de que no mais
possvel recuperar o horizonte inconsciente, circunscrito pelo mito,
uma conscincia desabrochava nele entre 1873 e 1874. O prprio
Nietzsche disse mais tarde, de resto, que criticou a doena histrica
estando, ao mesmo tempo, bem decidido a no renunciar ao sentido histrico. Aquele sentido histrico que, na quarta parte de Assim falava Zaratustra, na personificao do mais feio dos homens
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 39
Montinari, M.
ou mais srdido, exatamente o assassino do mito dos mitos: de
Deus.
Quando, em 1883, Nietzsche escrevia: Antes do meu primeiro perodo (a saber, exatamente antes do perodo wagneriano-mtico),
zomba o rosto do jesuitismo, quero dizer, o crescente agarrar-se
iluso (sabendo que ela iluso) e a forada assimilao da prpria
iluso como fundamento da cultura, o que ele queria manifestar
seno o seu distanciamento de qualquer mito? O mito obra dos
intrpretes de Nietzsche: de Bertram, Bumler e do prprio Lukcs,
os quais vem no eterno retorno do mesmo, na vontade de potncia
e no alm do homem outros tantos mitos, enquanto que, para
Nietzsche, estas idias eram derivadas de sua paixo pelo conhecimento: no importa se posteriormente ele recorria ao estratagema de coloc-las na boca de personagens mais ou menos mticas
como Zaratustra e o deus Dioniso. O eterno retorno, como desenvolvimento conseqente ao menos aos olhos de Nietzsche de
uma rgida concepo determinista e imanentista de mundo depois
da morte de Deus, uma teoria filosfica, no um mito, uma conquista cognitiva, no uma inveno lendria. E, quanto ao alm do
homem, pode-se dizer que ele uma espcie de postulado moral,
que deriva justamente daquela teoria que sanciona a condenao
eterna do homem finitude. Mal informados dos delrios, estes sim
realmente mitolgicos, principalmente de Peter Gast em sua introduo a Assim falava Zaratustra (1893), posteriormente de Bertram
e de todos os menores intrpretes mticos de Nietzsche, terminase por esquecer a origem real de suas idias, como, por exemplo, a
sua relao, no que se refere ao eterno retorno, com as teorias
cosmolgicas de seu tempo, de que se encontra um eco na Dialtica
da natureza de Engels, um autor ao qual certamente ningum poder censurar ter fraqueza por mitos de qualquer tipo.
E mesmo a frmula da vontade de potncia no pode ser considerada um mito, mas como um resultado que contanto que as
40 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
intenes de um autor sejam vlidas , para Nietzsche, era filosfico e cientfico. O filosofar de Nietzsche se desdobrava justamente
no interior dos limites de um mundo que no admitia transcendncia alguma, atravs do qual foram destrudos todos os mitos, todas
as iluses, a comear pelas iluses morais, um mundo ao qual
Nietzsche acreditava dever restituir como parte integrante inclusive
os aspectos como ele diz mais caluniados: apenas por esse caminho possvel explicar o imoralismo de Nietzsche, que tema da
genealogia da moral, crtica e desmascaramento de todo costume e
tica.
Para Lukcs, ao contrrio, o contedo da filosofia de Nietzsche
reduz-se luta contra a concepo proletria de mundo. Onde
estava essa concepo de mundo para que Nietzsche pudesse
conhec-la e combat-la? Lukcs j o disse: sem conhec-la,
Nietzsche a combatia.
Quanto a ns, gostaramos de observar que tudo o que Nietzsche
disse sobre os problemas polticos e sociais de seu tempo somente
ganha sentido se referido realidade em que ele vivia, ou melhor,
parte da realidade que ele conhecia.
Neste sentido, Nietzsche conhecia muito pouco o movimento
socialista de seu tempo, ou, melhor dizendo, compartilhava mais ou
menos todos os preconceitos do limitado ambiente luterano-provincial da Saxnia particularmente da cidade de operrios de
Naumburg e posteriormente acadmico de Leipzig e de Basilia,
e, enfim, vagamente cosmopolita de Nizza, Sils-Maria, etc., a respeito do socialismo.
Ainda na Quarta extempornea, Richard Wagner em Bayreuth
escrita entre 1875-76 , encontram-se sinais de uma utopia vagamente socialista, mas ser o mximo das concesses feitas por
Nietzsche opinio pblica genericamente humanitria que (apesar do anti-semitismo, ou, melhor ainda, justamente de acordo com
o anti-semitismo) era prpria do movimento wagneriano.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 41
Montinari, M.
A partir de Humano, demasiado humano, isto , a partir de
1876, Nietzsche acentua o seu individualismo antipoltico e visto
que, segundo os esquemas da polmica liberal anti-socialista, que
ele aceita acriticamente, o socialismo representa o mximo de Estado possvel eis que lana contra os socialistas a palavra de ordem
menos Estado possvel! (que, de resto, assume de Paul de Lagarde). Mas como no recordar, neste ponto, que justamente em 1875,
em sua Crtica ao programa de Gotha, Marx criticava a f da seita
lassalliana no Estado, que juntamente com a f nos milagres da
democracia, prpria dos eisenachianos havia empesteado o programa do congresso de unificao dos dois troncos (os lassallianos,
justamente, e os eiseinachianos) do movimento socialista alemo?
E, a este respeito, no ter o seu peso a circunstncia de que o
nico expoente importante da social-democracia alem de algum
modo conhecido por Nietzsche fosse Lassalle? Das cartas trocadas
em 1867-68 entre Gersdorff e Nietzsche, sabemos que os dois jovens amigos nutriam grande simpatia por Lassalle. Nietzsche considerava ter vislumbrado a irracional grandeza entre as linhas de
um libreto impregnado de catolicismo e reao (como escrevia,
justamente, ao amigo Gersdorff, o qual, por sua vez, o convidava a
ler o texto de Lassalle contra Schulze-Delitzsch).
Em seguida, certamente tero sido importantes, para a imagem
que Nietzsche fez do socialismo, os colquios realizados com Cosima
e Richard Wagner em Tribschen, entre 1869 e 1872. De Cosima,
sabemos que, na poca de sua convivncia matrimonial com Hans
von Bllow em Berlim (1858), seu salo era freqentado no apenas por Bruno Bauer e Hoffmann von Fallersleben, mas tambm
por Lassalle, Lothar Bucher e Georg Herwegh. Todos os trs estes ltimos ligados histria do prprio movimento socialista. E
quanto ao prprio Wagner, recorde-se de que justamente naqueles
anos ele escrevia a sua autobiografia, a qual Nietzsche organizou a
publicao privada na Basilia e que, portanto, conhecia a pgina
42 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
que passou pela censura de Cosima na qual Wagner narra a sua
experincia revolucionria de 1849 em Dresden e, sobretudo, o seu
encontro com Bakunin. Como no supor que tambm aqui, atravs
dos colquios com Wagner, tenham-se aberto para Nietzsche outras
fontes de conhecimento do socialismo na Alemanha da poca?
No se negligencie, ainda, entre as fontes por assim dizer pessoais de Nietzsche sobre o socialismo e sobre os movimentos polticos em geral de seu tempo, o conhecimento travado com Malwida
von Meysenburg, a idealista, que viveu com o revolucionrio democrtico russo Herzen. E tampouco um colquio confirmado para
1875 por meio de uma amiga dos anos de Basilia, a alsaciana
Marie Baumgartner , com um certo Cook, um proudhoniano at
hoje no muito bem identificado por ns.
Apesar de tudo, Nietzsche no se inclinou nunca a um conhecimento cientfico nem da economia poltica burguesa nem do movimento operrio europeu. De Marx, Nietzsche provavelmente leu, a
custo, o nome: a sua fonte era, em geral, especialmente ruim, j
que se chamava Eugen Dhring! Mas Nietzsche v, precisamente
em Dhring, um expoente do comunismo e do anarquismo os dois
termos so, para Nietzsche, intercambiveis , e leitura de suas
obras, junto com a do Manual de economia poltica de Carey por
sugesto de Dhring , reduz-se praticamente tudo quanto Nietzsche
fez para conhecer a questo por excelncia de seu tempo, a assim
chamada questo social.
Deste modo, no podemos nos espantar com o fato de Nietzsche
concentrar a sua polmica anti-socialista na questo da igualdade
que, no seu entender, era a principal reivindicao do movimento
socialista. Antes de passarmos ao motivo de fundo dessa polmica
antiigualitria, observemos que devia mesmo haver alguma razo
para tanto, j que Marx, na Crtica ao programa de Gotha, demolia
a velharia das frases antiquadas sobre a igualdade ainda correntes nas fileiras do socialismo alemo e que justamente Dhring, cuja
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 43
Montinari, M.
concepo abstrata de igualdade (emprestada de Rousseau) era
criticada por Engels alguns anos depois, teve tanta fortuna na social-democracia alem. Decerto, Nietzsche no estava suficientemente nem correntemente informado sobre o movimento socialista
de seu tempo e este um grave limite; todavia, deveramos ento
nos perguntar aps termos visto as suas razes concretas se por
acaso no h um outro modo de explicar esta lacuna. O fato que
no era o socialismo o alvo central da polmica antiigualitria de
Nietzsche, mas o prprio cristianismo que, pregando a teoria da
igualdade das almas diante de Deus, havia acrescentado, aos seus
olhos, uma outra calnia a todas as outras filosficas e religiosas
dirigidas contra o mundo aparente, sendo que este constitui, para
o filsofo alemo, o nico mundo verdadeiro pois, segundo uma
clebre passagem do Crepsculo dos dolos, o mundo aparente acaba por completo quando acaba o assim chamado mundo verdadeiro, transcendente (cf. GD/CI Como o verdadeiro mundo acabou
por se tornar em fbula).
Desta perspectiva anticrist, pode-se chegar a: 1) compreender
o porqu do anti-socialismo de Nietzsche (com os limites de conhecimento sobre o socialismo comuns a todos os intelectuais de seu
tempo e de seu ambiente, de que j falamos); 2) estabelecer o que
era primrio no pensamento de Nietzsche: a luta contra o cristianismo (ou contra o que ele chama de niilismo, pessimismo) ou, ento,
a polmica poltica, em muitos aspectos absolutamente limitada,
amesquinhada e com os estigmas da provenincia pequeno-burguesa de Nietzsche. (E talvez no haja nenhuma necessidade de referir-se queles traos socialistas que Thomas Mann, em 1947, queria ver no pensamento de Nietzsche).
Lukcs, portanto, exagera ao colocar no centro do pensamento
e da vida de Nietzsche a sua polmica contra o socialismo, ao interpret-la a partir de dentro a propsito, inclusive, de problemas de natureza no estritamente poltica como os de conhecimen-
44 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
to ou de esttica. A sua reconstruo de Nietzsche tem o preo de
todas as coisas unilaterais, coerente, liqida o problema.
Mas que me seja permitido, agora, deter-me em um par de particularidades filolgicas.
Na Destruio da razo, a polmica de Nietzsche contra Bismarck interpretada como uma polmica de direita. Para fazer isso,
Lukcs cita alguns textos. O primeiro destes uma passagem da
carta de Nietzsche irm Elisabeth, datada por volta da metade ou
do fim de outubro de 1888 (veremos, posteriormente, por que as
datas podem oscilar tanto!). Lukcs fala de uma tomada de posio
de Nietzsche a favor de Guilherme II e contra Bismarck e menciona
a seguinte passagem da carta citada: O nosso novo imperador me
agrada cada vez mais a vontade de potncia como princpio j
seria compreensvel para ele. Em alemo: Der Wille zur Macht
als Prinzip wre ihm schon verstndlich!.
Alm do fato de que, no plano geral to discutvel e contingente
dos desabafos epistolares, Lukcs poderia ter recordado das simpatias de Nietzsche por Frederico III, o imperador liberal dos 99 dias1
(como se recordou Thomas Mann, com o desejo de fazer parecer
politicamente mais aceitvel o filsofo de sua juventude), deve-se
dizer que ele negligencia as razes que Nietzsche assume pela sua
simpatia por Guilherme II a saber, o distanciamento (provisrio)
do jovem imperador da crtica anti-semita de Adolf Stcker, o
pregador da corte. Mas, como se isto no bastasse, a ironia da sorte
quis justamente que as palavras decisivas a vontade de potncia
como princpio j seria compreensvel para ele fossem uma dupla
falsificao. Isso resultado de uma carta de Peter Gast a Ernst
Holzer, de 26 de janeiro de 1910 (naquele momento Gast tinha h
pouco e definitivamente encerrado a sua colaborao no NietzscheArchiv de Weimar, por diferenas com a irm de Nietzsche).
Nessa carta, Gast escreve: Quanto ao captulo sentido de verdade da senhora Frster, devo contar-lhe um dos exemplos que me
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 45
Montinari, M.
vm mente neste momento e que me faz sorrir. Sorrir visto
quantas coisas se podem sustentar como ex-pessoa do Arquivo e
que, ao contrrio, como pessoa de bem no se podero sustentar!
Em 1904, quando publicavam o segundo volume da Biografia [de
Nietzsche], foi nela introduzida, inclusive, a carta em que o nosso
imperador nesse momento com vinte e nove anos louvado por
certas declaraes suas desfavorveis aos anti-semitas e ao
Kreuzzeitung. Ora, o senhor deve saber como a senhora Frster ardia
de desejo de atrair o interesse do imperador por Nietzsche e possivelmente induzi-lo a alguma declarao positiva a favor do mesmo.
O que ela faz com esse objetivo? escreve esta frase: a vontade
de potncia como princpio j seria compreensvel para ele (ao imperador)!. Ela se recordar de onde vem esta frase: do esboo do
prefcio Vontade de potncia, publicado no XIV volume [da
Grossoktavausgabe]. A redao desse esboo representa uma das
tarefas mais difceis de decifrao da escritura de Nietzsche. Os
Horneffer j haviam tentado fazer isso antes de mim; mas a sua
decifrao tinha mais lacunas do que palavras. Mas justamente esta
frase se acha escrita por inteiro em sua decifrao. Quem se dedica
a decifrar de novo o que outros j tentaram decifrar, encontra mais
obstculos do que contribuies nas tentativas de seus predecessores. Em suma: eu, que decifrei o fragmento at o fim, no tinha
notado naquele momento que a decifrao dos Horneffer, A vontade
de potncia como princpio j poderia ser compreensvel para eles
(para os alemes), no pode, em absoluto, harmonizar-se com o
resto do esboo do prefcio. E quando, em abril do ano passado,
tive de novo entre as mos aquele caderno, a minha suspeita foi
confirmada: em vez de j compreensvel [schon verstndlich], devese ler indiscutivelmente dificilmente compreensvel [schwer
verstndlich]! Agora, se a senhora Frster quisesse ser exata, deveria
fazer publicar: a vontade de potncia como princpio seria para ele
(para o imperador) dificilmente compreensvel no divertido?.
46 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
Aprendamos, portanto, que a frase citada por Lukcs para colocar concretamente prximos e neste sentido a nica o imperador Guilherme II (de resto, apenas no incio) e a vontade de potncia de Nietzsche, no apenas no existe na carta (que, seja dito
entre parnteses, uma falsificao do incio ao fim e existe somente em uma cpia de Elisabeth Frster-Nietzsche), mas, ao contrrio, derivada de uma frase mal decifrada de um dos tantos prefcios que Nietzsche escreveu na ltima fase de seu empreendimento
em a Vontade de potncia antes de renunciar definitivamente
publicao de uma obra sob este ttulo. Para Nietzsche, portanto,
os alemes pois deles de que se fala no estariam em condies de compreender a vontade de potncia como princpio, isto ,
como momento terico, mas apenas e, precisamente, a vontade de
potncia como expresso poltica do Reich (e este , de fato, o sentido do prefcio agora publicado em seu texto autntico, inclusive
na edio italiana).
Contudo, como ele mesmo afirma, esta frase seria apenas uma
invectiva polmica e, por isso, Lukcs passa a citar na mesma pgina um fragmento pstumo de Nietzsche que deveria explicar ainda
melhor no sentido imperialista a assim chamada grosse Politik,
a grande poltica de que ele fala nesse perodo com freqncia.
Lukcs cita estas palavras: ruptura com o princpio ingls de
representao popular: ns temos necessidade da representao dos
grandes interesses. E comenta: Aqui Nietzsche antecipou o Estado fascista corporativo. O fragmento citado por Lukcs um daqueles tpicos testemunhos de diletantismo poltico e que poderiam,
pois, ser reduzidos s suas justas dimenses: 1) se fossem tornados
conhecidos como so; 2) se se encontrassem no interior de uma
edio que reproduzisse integralmente o movimento das reflexes
de Nietzsche, que, com freqncia, so o fruto de inspirao instantnea, de experimentos. Nesse fragmento de 1884 (publicado entre
outros apenas parcialmente na Grossoktavausgabe), Nietzsche diz que
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 47
Montinari, M.
poderia interessar-se pela realidade do Reich alemo de Bismarck
somente se ele personificasse um novo pensamento, ou melhor, o
pensamento supremo, para lev-lo vitria, e, aps ter falado da
mesquinharia inglesa, acrescenta: eu vejo mais inclinao grandeza nos sentimentos dos niilistas russos do que nos utilitaristas ingleses. E ainda: Uma fuso da raa alem e da eslava alm
disso, ns tambm temos necessidade dos financistas mais hbeis,
dos judeus, de modo absoluto, para conseguir o domnio sobre a
terra. Depois, segue o programa: 1) sentido de realidade; 2) ruptura com o princpio ingls de representao popular: ns temos
necessidade da representao dos grandes interesses; 3) ns temos
absoluta necessidade de nos unirmos Rssia, e com um novo programa comum, que no deixe predominar na Rssia esquemas ingleses. Nenhum futuro norte-americano; 4) uma poltica europia
insustentvel e a submisso s perspectivas crists , igualmente,
uma grandssima desgraa. Na Europa, todas as pessoas inteligentes so cticas, quer o digam ou no. E enfim: Eu penso que no
gostaramos de nos submeter s perspectivas crists e tampouco
norte-americanas. Como se v, um belo pastiche de poltica visionria! Mas, por que Lukcs preferiu citar apenas a passagem
corporativa exatamente quando no mesmo pargrafo cita, de Para
alm de bem e mal, uma passagem que conteria uma crtica poltica filo-russa de Bismarck? Por que ento no falar tambm das simpatias de Nietzsche pelos niilistas russos? Certo, no lcito reduzir
a estas simpatias ou s simpatias pela Rssia a assim chamada grande poltica de Nietzsche. Nem se pode negar que as declaraes
polticas privadas nos pstumos ou pblicas das ltimas obras no
apresentem uma decidida tendncia conservadora. Mas, pode-se se
limitar a esta constatao? No se dever procurar reconstruir em
toda a sua ilusoriedade e contraditoriedade inclusive a assim chamada grande poltica? No se dever procurar explic-la de um
modo que seja imanente ao pensamento de Nietzsche, isto , que
48 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
d conta daquilo que nesse pensamento primrio e daquilo que ,
ao contrrio, secundrio? Na nascente da assim chamada grande
poltica est, antes de tudo, a conscincia do fim da tradio crist,
de todos os mitos da humanidade e o desejo j condenado ao
extremo de Nietzsche de ser o legislador do futuro.
Enquanto as obras parecem prometer naqueles momentos,
na verdade, no freqentes em que Nietzsche se v s voltas com a
problemtica do futuro a prxima transvalorao de todos os valores (que deve, portanto, ser tambm a fundao de valores novos), nos planos e nos fragmentos pstumos para a Vontade de potncia a transvalorao, a legislao do futuro no tem lugar. E no
por acaso. Tome-se como exemplo toda a teorizao da mentira dos
fundadores de uma religio no Anticristo e no Crepsculo dos dolos:
intil que Nietzsche se dedique a demonstrar quo decisivo o
objetivo pelo qual os padres mentem e que por exemplo o
objetivo dos brmanes de Manu cem vezes superior ao de Paulo.
A conscincia de que a pia fraus, a mentira e o mito so igualmente necessrios para fundar a nova tradio que ele gostaria de
nos dar, detm, em ltima anlise, a tentativa de Nietzsche que
no pode e no quer retornar ao mito. A presumida destruio
do cristianismo sob o fulgor do Anticristo , pois, bem pouca coisa
se comparada ao tema de uma transvalorao de todos os valores.
As razes do jogo de Nietzsche so, portanto, intrnsecas sua prpria honestidade intelectual. Mas, para ver isto necessrio ler
Nietzsche com olhos diferentes dos de Lukcs, necessrio reconstruir realmente os seus problemas. E, para reconstruir o curso do
pensamento de Nietzsche em todas as suas possibilidades e impossibilidades, necessrio tambm destruir o presumido sistema
Nietzsche que Lukcs, juntamente com outros intrpretes, acreditaram encontrar em suas obras e, em primeiro lugar, na obra que
ele nunca escreveu: a Vontade de potncia. Os textos dessa obra,
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 49
Montinari, M.
se tivessem sido conhecidos em seu estado catico, teriam, ao
contrrio, iluminado muito melhor o estado do problema.
Concluamos: a interpretao de Lukcs no faz justia a
Nietzsche tal como ele se deu na histria, ou, melhor dizendo, o
confronto direto do marxismo com os seus pensamentos, com aquela problemtica limite da cincia de seu tempo, que vimos encerrada em frmulas como eterno retorno do mesmo, malsucedido e
no tem lugar de modo algum; um nico tema variado: a reduo
de toda a filosofia de Nietzsche a uma polmica contnua com o
marxismo, com o movimento socialista, quaisquer que sejam as formas que a filosofia de Nietzsche assuma. Certamente, o fato de que
um filsofo como Nietzsche, que sempre ps no centro de suas reflexes as exigncias do indivduo contra a coletividade, da cultura
contra o Estado, tenha sido tambm anti-socialista, no casual,
mas isso requer por certo o deslocamento do debate para o terreno
escolhido por Nietzsche, l onde ele pode ainda ter alguma coisa a
dizer. E este terreno no , certamente, o terreno poltico. Trata-se
muito mais de tentar uma avaliao de Nietzsche que no considere
como nica realidade a sociedade ou a classe, mas que, ao contrrio, tambm d peso ao homem como indivduo e sua maior infelicidade depois da destruio dos mitos religiosos e humanistas
(S. Timpanaro). esse, pois, o terreno do pessimismo da inteligncia e do otimismo da vontade de que se fala com prazer na esquerda italiana, reportando-se a Gramsci que deu a essa frmula
maior ressonncia. Seja-me permitido, portanto, uma ltima digresso filolgica, justamente sobre esta frmula. Ningum, que eu saiba, conhece sua histria. conhecido que Gramsci a emprestou de
Romain Rolland. Este ltimo, por sua vez e isso no foi notado
at hoje , no podia t-la lido seno em algumas pginas de sua
venerada amiga Malwida von Meysenburg. Nestas pginas, tendo
chegado tarde de sua vida (1898), a idealista relata: Temos
em Sorrento [onde Nietzsche passou com ela e outros amigos o in-
50 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Equvocos marxistas
verno de 1876-77] uma rica e excelente seleo de livros, mas a
coisa mais bela em toda aquela variedade era um manuscrito em
que um aluno de Nietzsche havia mencionado as aulas sobre a civilizao grega dadas por Jacob Burckhardt na Universidade da Basilia. Nietzsche fazia seu comentrio a respeito em voz alta Entusiasmou-me particularmente a definio de Burckhardt sobre a
essncia do povo grego: pessimismo da viso de mundo e otimismo
do temperamento.
Com a considerao deste pargrafo ideal e aparentemente paradoxal, que de Jacob Burckhardt chega por meio de Nietzsche,
Malwida von Meysenburg e, posteriormente, Romain Rolland a
Gramsci, gostaria de encerrar esta minha proposta de discusso da
interpretao lukacsiana de Nietzsche.
Abstract: In The destruction of reason, Lukcs describes Nietzsche as an
anti-socialist thinker par excellence and an indirect apologist of bourgeoisie.
Considering Christianity as the way through which the German philosopher
attacks socialism and analyzing some unpublished fragments on which
Lukcs bases his interpretation, Montinari aims at dispelling the
appropriation due to a mistaken reading of Nietzschean thought by
fascist and imperialist ideology.
Key-words: socialism Christianity interpretation
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 51
Montinari, M.
notas
1
Frederico III (Potsdam 1831 Potsdam 1888), imperador
alemo e rei da Prssia (1888), filho e sucessor de Guilherme I. Distinguiu-se durante as guerras austro-prussianas
e franco-alem. Reinou por apenas alguns meses. (NT).
referncias bibliogrficas
1. LUKCS, G. La destruction de la raison. Trad. de Stanislas
George, Andr Gisselbrecht e Eduard Pfrimmer. Paris: LArche diteur, 1958.
2. NIETZSCHE, F. Smtliche Werke Kritische Studienausgabe. 15 vols. Edio organizada por Giorgio Colli
e Mazzino Montinari. Berlim: Walter de Gruyter, 19671978.
3. _______. Obras incompletas. 4a edio. Col. Os Pensadores. Traduo de Rubens Rodrigues Torres Filho.
So Paulo: Nova Cultural, 1987.
4. _______. Assim falava Zaratustra. Traduo de Mrio da
Silva. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 1998.
5. _______. Alm do bem e do mal. 2a edio. Traduo de
Paulo Csar de Souza. So Paulo: Companhia das Letras, 1998.
52 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
Nossas virtudes. Indicaes
para uma moral do futuro
Antonio Edmilson Paschoal*
Resumo: O objetivo deste ensaio demonstrar que nos escritos de
Nietzsche sobre a moral no h uma negao da moral e sim uma
contraposio a um tipo de relao com a moral, que acaba por perder o
que de melhor se pode extrair dela: seu papel demirgico para a elevao
do homem. Trata-se, assim, de fazer uma oposio quelas leituras de
Nietzsche que, tomando de maneira descontextualizada expresses como
nada verdadeiro, tudo permitido..., associam-no a um relativismo
no campo filosfico e a um laisser aller no campo moral, e ressaltar o carter
afirmador de seus escritos, nos quais possvel indicar traos do que ele
denomina uma moral do futuro.
Palavras-chave: moral niilismo conflito
I
Na base dos juzos de valor moral encontram-se juzos de valor fisiolgicos (JGB/BM 20), exigncias dadas para a preservao e expanso de uma determinada espcie de vida, que fazem a
moral operar a sujeio e a dominao do que estranho a ela e a
afirmao do que lhe prprio. Pode-se mesmo dizer que esse o
Professor do Departamento de Filosofia da PUCPR
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 53
Paschoal, A. E.
motivo pelo qual se constitui uma moral ou, em termos mais amplos, uma cultura: para oferecer as condies propcias expanso
de um determinado tipo, de uma determinada raa, ou de um determinado grupo. Um esforo parecido com aquele encontrado no
mundo biolgico, na luta dos diversos seres por sobrevivncia, domnio e expanso, com a diferena de que, no campo da moral,
esse esforo recebe denominaes como melhoramento (KSA XII,
1 [239]), virtudes etc., ocultando a violncia que lhe prpria.
Tal compreenso da moral, que se traduz na idia de que no
existem fenmenos morais, apenas interpretao moral dos fenmenos (JGB/BM 108), lana a cincia da moral no campo da
semitica, da linguagem de sinais, da sintomatologia (GD/
CI, Os melhoradores da humanidade, 1), fazendo o mesmo com
o trabalho do cientista da moral, uma vez que no se pode refletir sobre a moral, sem involuntariamente atuar moralmente e se dar
a conhecer de forma moral (KSA XII, 1[9]).
O acrscimo da expresso: ...esta interpretao mesma tem origem extra-moral (KSA XII, 2[165]), em um fragmento preparatrio ao aforismo citado de Para alm de bem e mal ( 108), sugere
que as prprias afirmaes de Nietzsche sobre a moral tambm podem ser entendidas como sinais, como reveladoras de necessidades
especficas e do engajamento por determinada espcie de vida, permitindo deduzir que tambm ele, em seus escritos sobre a moral,
se deixa conhecer de forma moral.
Conforme veremos, tomar seus escritos como sinais significa
passar pela investigao dos pressupostos que ele assume para
efetivar seu empreendimento crtico, da moral especfica que ele
critica, do tipo que apresenta como melhor e, por fim, da moral que
esse tipo requer para se produzir e para se expandir.
54 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
II
A crtica de Nietzsche moral, mesmo quando ganha contornos
de desconfiana e de ceticismo, no pode ser confundida com uma
ao inconseqente de destruio. Isso se torna claro, por exemplo,
quando ele defende o princpio do dever, caracterstica bsica de
toda moral (cf. GD/CI, Moral como contra-natureza, 4), em oposio ao laisser aller (cf. JGB/BM 188); quando declara que a moral est entre as coisas que mais compensam serem levadas a srio
(cf. GM/GM, Prlogo, 7); e tambm quando se refere severa
disciplina, necessria para levar a cabo seu trabalho crtico (cf. WA/
CW, Prefcio).
Mais importante, no entanto, do que alguns elogios moral, perdidos em um mar de severas crticas, a afirmao de que seu empreendimento de imoralista se d por uma exigncia da moral, porque tambm nele fala um tu deves (sollen M/A, Prefcio, 4),
por estar envolto numa severa malha de deveres (JGB/BM, 226),
da qual no pode (knnen) sair. Ele se encontra preso por um duro
destino ao caminho aberto pela moral, e entende que esse caminho, que leva a um passivo niilismo, pode levar tambm ao desejo
mais ntimo da moral, de ser conduzida s suas ltimas conseqncias, sua auto-supresso (M/A, Prefcio, 4).
A dureza que Nietzsche se impe para levar adiante esse empreendimento, no , da mesma forma, prpria de algum sem moral,
mas de algum que age por probidade (Redlichkeit) (cf. JGB/BM
227), acatando o imperativo moral da natureza que diz: deves
obedecer seja a quem for, por muito tempo... (JGB/BM 188).
Por fim, o empreendimento crtico de Nietzsche se d por responsabilidade (Verantwortlichkeit) (cf. GM/GM II 1). No se trata,
certo, da responsabilidade que se associa falta, pecado e punio, e que corroboraria com a idia da moral das intenes e do
sujeito livre, que deve responder diante da lei por seus atos. Agir
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 55
Paschoal, A. E.
por responsabilidade significa, para Nietzsche, enfrentar o grande
perigo que seria no se alcanar jamais o supremo brilho e ponncia
do tipo homem (GM/GM, Prefcio, 6). Portanto, por entender
o homem como o animal ainda no consolidado (JGB/BM 62)
e porque seu crescimento no se d apenas por um esforo da natureza, mas pressupe a ao do homem sobre si mesmo (cf. JGB/BM
225), que Nietzsche se prope a agir neste campo. De outra forma, sua liberdade para criticar e demolir, dificilmente se distinguiria de uma atitude leviana, de empurrar a moral para uma espcie
de relativismo.
III
Para se falar no tipo para o qual Nietzsche volta suas esperanas, que aponta como a meta possvel aps a dcadence (WA/CW,
Eplogo) e defende como o melhor tipo de homem, deve-se considerar inicialmente que a expresso alm do homem no aponta
para um tipo especfico, mas um comparativo ao homem comum
e designa formas de se estar alm dele (cf. AC/AC 4). No entanto,
existem alguns aspectos gerais que acompanham a idia de alm
do homem e que podem servir como ponto de partida para se chegar ao tipo esperado por Nietzsche.
Um primeiro aspecto, do tipo (genrico) aristocrtico, aquele
dado pelo prprio termo destacado (Vornehm), que significa ser
tomado (nehmen) e colocado frente (vor[n]), separado do grupo.
Essa distino outorgada (cf. GM/GM II 2) ao destacado, mas
tambm prpria a ele que, por seu pathos de distncia, pela f
(Glaube) que tem em si, sabe que se encontra no alto (JGB/BM
265) e no permite sentir-se como funo, mas como sentido e
suprema justificativa (JGB/BM 258).
56 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
Por essa mesma hierarquia, na qual o tipo aristocrtico se reconhece como destacado, colocado acima (JGB/BM 259), ele reconhece tambm aqueles que lhe so iguais e estabelece o respeito a
seus pares, queles que tm, como ele, a igualdade na convivncia
com a tenso, na luta prolongada com condies desfavorveis essencialmente iguais (JGB/BM 262). Nesse grupo, e somente nele,
esses semelhantes movem-se entre si com a mesma segurana de
pudor e delicado respeito que tem no trato consigo (JGB/BM 265).
Como todo corpo saudvel, no entanto, quando voltados para
fora, esses nobres deixam as marcas do brbaro por onde passam. Essa busca do confronto, de resistncias, de inimigos, de tal
forma capital para uma aristocracia s que, normalmente, sua dissoluo est relacionada diminuio da tenso e das dificuldades
(inimigos, escassez...). Na abundncia se rompem o lao e a coao
da antiga disciplina. Tem-se ento a disputa por sol e luz entre
indivduos, que j no conseguem extrair nenhum limite, nenhum
freio, nenhuma considerao da moral at ento vigente, e a produo de uma espcie de homens medocres e de uma moral da
mediocridade (JGB/BM 262).
Outra caracterstica do tipo homem nobre, que ele um
homem da solido, das alturas, um eremita. Nele se encontra uma
alma perigosamente testada (JGB/BM 263), com a qual se entrevistou longamente. Uma alma que lhe permite um gosto no tato e na
reverncia por si mesmo e por seus iguais. Esse homem da profunda
solido possui tambm reverncia diante da mscara, ele prprio
precisa dela para se proteger, sobretudo, de todo aquele que no
lhe igual na dor (JGB/BM 270), daqueles que no possuem a
distino do conhecimento que se obtm no sofrimento. Um sofrimento que ele torna ainda mais tenso pelo rigor que exerce sobre si
mesmo.
Por fim, um aspecto, que parece estranho, mas que no pode
ser menosprezado, aquela tendncia runa que parece acompa-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 57
Paschoal, A. E.
nhar o tipo aristocrtico (JGB/BM 269), enquanto o modelo comum de homem se produz e se reproduz com mais facilidade, enquanto o homem evolui mais facilmente rumo ao semelhante,
costumeiro, mediano, gregrio rumo ao vulgar! (JGB/BM 268).
Tanto que historicamente, no Ocidente, o tipo de homem de rebanho predominou.
IV
Como em todo tipo nobre, tambm no destacado do futuro devese poder reconhecer a besta loura (GM/GM I 11) e a disposio
para o conflito. A questo que se coloca : qual o significado dessa
disposio e de outros traos do nobre em geral, quando se trata de
um tipo que se torna possvel no momento em que a violncia no
participa de alguma forma de nobreza, mas de hbris? (GM/GM III
9 e KSA XII, 5 [71]).
Essa preocupao pode ser percebida no pargrafo 287 de Para
alm de bem e mal, quando Nietzsche passa de uma primeira pergunta, mais geral, o que destacado? (que o ttulo do captulo),
para uma segunda, mais especfica: o que significa para ns hoje
ainda a palavra destacado? (JGB/BM 287). Ela tem lugar tambm no Prefcio de 1886 Gaia Cincia, quando o renascimento
das formas aristocrticas sugerido como uma segunda e mais
perigosa inocncia na alegria, ao mesmo tempo infantil e cem vezes
mais refinada do que j fora anteriormente (FW/GC, Prefcio,
4). A aproximao desses dois textos permite que se some questo do significado da palavra destacado hoje, a pergunta: o que tornaria a nova Vornehmheit cem vezes mais refinada?
No pargrafo 16 da Primeira Dissertao de Para genealogia
da moral, tem-se a mais clara indicao da constituio do destacado hoje, quando Nietzsche se refere a uma nova natureza ele-
58 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
vada, apresentada como sinnimo de uma natureza espiritualizada, que tem por trao constitutivo estar dividida neste sentido e
ser um verdadeiro campo de batalha para esses dois opostos (bom
e ruim, bom e mau) (GM/GM I 16).
Alguns outros textos de Para genealogia so igualmente elucidativos quanto a esta idia da presena da pluralidade num conflito
elevado ao plano espiritual, como um fator decisivo para se falar de
um tipo mais elevado de homem. Na Primeira Dissertao, ao tratar da revolta escrava na moral, Nietzsche destaca o aspecto paradoxal da reinterpretao sacerdotal, afirmando que no solo desta
forma essencialmente perigosa de existncia humana, a sacerdotal,
que o homem tornou-se um animal interessante (GM/GM I 6),
que a alma humana ganhou profundidade e tornou-se m. Esses
traos (profundidade, maldade e uma espcie de impiedade consigo mesmo), que diferenciam o homem do animal, servem tambm
para distinguir, do homem comum, o tipo homem mais elevado,
e so de tal forma valorizados por Nietzsche, que ele afirma que a
histria humana seria uma tolice sem o esprito que os impotentes
lhe trouxeram (GM/GM I 7).
Na Segunda Dissertao, o alargamento do interior do homem
apresentado como um produto da m conscincia, especialmente
quando se tem a reinterpretao da dvida em dvida para com
Deus, culpa para com Deus e, finalmente, em pecado. Nesse
momento, a descarga para dentro dos antigos instintos que j no
podem mais explodir para fora ganha contornos peculiares, torna
o homem paradoxal ao extremo, capaz de despertar interesse e cheio
de futuro: ...com uma alma animal voltada contra si mesma, tomando partido contra si mesma, algo to novo surgia na terra, to inaudito, to profundo, enigmtico, pleno de contradio e de futuro, que
o aspecto da terra se alterou substancialmente (GM/GM II 16).
Tambm na Terceira Dissertao pode-se ler: se desconsiderarmos o ideal asctico, o animal homem no teve at agora sen-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 59
Paschoal, A. E.
tido algum (GM/GM III 28). Em sntese, a oposio do sacerdote
asctico aos impulsos expansivos do homem no significou a eliminao desses impulsos, mas, permitiu que se dilatasse o campo
espiritual do homem e se destacasse seu carter paradoxal.
Nesse sentido, por mais que possa soar estranho, justamente
da incluso de aspectos oriundos da forma escrava de valorar, da
mediao sacerdotal, enfim, da forma de valorao que se traduz
na oposio bem e mal (GM/GM I 16), que advm o elemento
diferencial entre a antiga aristocracia (tribal, guerreira) e a nova
Vornehmheit, na qual o conflito se faz presente e igualmente
necessrio, porm numa esfera interna, espiritualizada, superior.
A diferena se encontra nisso: que o homem de hoje no mais
um guerreiro, porm, mais que isso, um cenrio de batalha de vrios partidos (Tongeren 10, p. 168). Nele esto juntos o no-animal e o acima-do-animal, o no-homem e o alm-do-homem
(KSA XII, 9 [154]) e todos esses tipos e fatores, extremamente
conflitantes, numa tenso elevada a um plano espiritual.
O novo tipo mais elevado de homem muito mais refinado porque sabe retirar da prpria dcadence o que antes no se sabia e
que agora se sabe, foi possvel saber (GD/CI, Incurses de um
extemporneo, 43); mas, ele s pode faz-lo, e com isto saltar
para adiante da dcadence, porque nele, de alguma maneira, se
fazem presentes, e predominantes sobre os traos do tipo escravo,
alguns traos que acompanham a idia de aristocracia e de tipos
aristocrticos, ou ele nem seria um vornehm.
V
Procurando nos escritos de Nietzsche, entre as frmulas utilizadas para designar tipos destacados que se tornam possveis aps a
dcadence, uma indicao muito sugestiva, para esta anlise, a
60 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
expresso esprito livre (cf. KSA XII, 2 [17]), que no esgota o
conceito, mais amplo, de um tipo mais elevado de homem, mas
utilizada por Nietzsche apenas como um meio de expresso, como
uma fineza, caso se queira, como uma modstia... (KSA XII, 2
[180]). Igualmente aqui, a utilizao dessa expresso se faz apenas
pela possibilidade de ressaltar aquilo que essencial nesse novo
tipo: o seu aspecto espiritual, a elevao do conflito ao plano espiritual, que o ponto-chave para se pensar a meta tornada possvel
com a derrocada da dcadence.
O esprito livre se destaca do homem comum pela amplitude
de seu mundo interior, pela sua condio de eleito do conhecimento, de iniciado, de quase sacrificado (cf. JGB/BM 270).
Nele, a pluralidade e a tenso impedem que se cristalize alguma
forma de verdade dogmtica, prpria do esprito aprisionado (cf.
MAI/HHI 225) e o torna o filsofo da profunda suspeita, do perigoso talvez a qualquer custo, o experimentador (cf. JGB/BM
42 e MAI/HHI, Prefcio, 3).
Marcado pela pluralidade de perspectivas, o esprito livre pode
afastar-se da perspectiva da r (JGB/BM 2), da moral do melhoramento do homem, do autoconhecimento para a autocorreo
(que comea com Scrates), e ganhar uma perspectiva de pssaro
(cf. MAI/HHI, Prefcio, 4). Ele pode se colocar alm de bem e
mal, dispor a iluso dos juzos morais abaixo de si (GD/CI, Os
melhoradores da humanidade, 1) e, assim, realizar em si a autosuperao da moral, permitindo-se afirmar: avante! tambm a nossa
velha moral coisa de comdia! (GM/GM, Prefcio, 7).
Como regra, tambm no que se refere a estes dois tipos opostos, o que mais se prolifera o esprito aprisionado. A tendncia
que o tipo esprito livre se perca. Em sua natureza, elevada por estar
dividida e por ser um campo de batalha, tudo parece voltado a produzir uma incurabilidade tal, que aquilo mesmo que o constitui, essa
mesma tenso, pode levar sua autodestruio (cf. JGB/BM 269).
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 61
Paschoal, A. E.
VI
O jogo de riscos e possibilidades, que envolve o esprito livre e
que traduz a idia de um novo tipo de homem, se expressa na relao que Nietzsche faz entre doena e sade, associando o esprito
livre grande sade (cf. FW/GC 382), possibilidade da grande sade emergir da doena. Segundo ele, no possvel falar em
grande sade sem ter passado pela doena. Mas tornar-se doente
no significa necessariamente um caminho para a grande sade. Para
se chegar grande sade necessrio uma vontade de sade (cf.
MAI/HHI, Prefcio, 4) tal, que a doena se torne estimulante.
Em outros termos, o novo e mais elevado tipo de homem, tem no
niilismo (doena) as condies-chave para sua emergncia, da mesma forma como um extremo pessimismo poderia desaguar na forma de uma afirmao dionisaca do mundo (KSA XII, 10 [3]).
Nesse sentido, a doena apontada como um poderoso estimulante, como o ltimo libertador do esprito, (...) a mestra que
ensina a grande suspeita... (KSA XIII, 15 [118]). Somente essa
doena-niilismo, somente a grande dor, aquela longa, lenta dor,
que leva tempo, em que ns somos queimados como sobre madeira
verde, obriga a ns, filsofos, a descermos nossa ltima profundeza
e a tirarmos de ns toda confiana, tudo o que h de bondoso, adulador, brando, mediano, e em que talvez tivssemos posto nossa
humanidade (FW/GC, Prefcio, 3).
A diferena entre os termos sade (que pode ser associado
s antigas aristocracias em estado bruto) e grande sade (que
como se definiria a nova Vornehmheit) se d na passagem pela
doena, que produz um refinamento por meio da elevao conscincia da contradio que a doena representa. Quando a dcadence
atinge o extremo do niilismo, a mais absoluta falta de sentido, quando
se produz a mais terrvel m conscincia e o aspecto paradoxal do
homem se acentua ao extremo, que o esprito livre se torna poss-
62 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
vel como meta, exemplificando o quanto, em seu extremo, o niilismo
pode se tornar ativo (KSA XII, 9 [35]).
VII
Tendo presente alguns traos do tipo que mais elevado por
ter passado pelo fogo destruidor, mas tambm modelador, do
niilismo, cabe ainda uma avaliao do alcance da transvalorao
que ele significa.
A moral que essa transvalorao suplanta a moral que prevalece na modernidade, a que inverte a relao de valor entre homem
e moral operando uma confuso entre meio e fim, no contexto da
qual a vida e a sua ascenso para o poder foram inversamente reduzidas condio de meios (KSA XII, 10 [137]), num movimento absurdo que colocou como meta da vida a negao da vida
(ibidem).
Na modernidade, em decorrncia da concepo mecanicista de
mundo, que tem nas leis da natureza uma espcie de determinismo,
a lei moral foi colocada para o homem como algo dado, anterior a
ele, em relao qual seu campo de possibilidades estaria reduzido
a agir de acordo ou em desacordo com ela. Trata-se da moral do
sujeito livre, que tem por pressuposto o querer livre e a responsabilidade associada s intenes, da moral do melhoramento
do homem (da sua domesticao), que se associa a conceitos como
culpa, castigo, pecado.
Um tipo de moral que coloca, numa oposio necessria, a disposio/prazer, por um lado e o dever, por outro, e que produz um
tipo de existncia montona, preenchida pela atividade maquinal,
pelo cumprimento maquinal do dever, muito prprio ao ltimo
homem (Za/ZA, Prlogo, 5), que apresentado por ela como a
forma mais elevada de vida.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 63
Paschoal, A. E.
Para Nietzsche, o esprito livre, salta para alm dessa moral
quando se pergunta: ...no se pode desvirar todos os valores? E
bom talvez mau? E Deus apenas uma inveno e refinamento do
diabo? talvez tudo, no ltimo fundo, falso? E se somos os enganados, no somos por isso mesmo tambm enganadores? no temos
que ser enganadores? (MAI/HHI, Prefcio, 3). Esses questionamentos significam uma transvalorao no apenas porque negam
os valores prprios moral vigente, mas porque revelam uma peculiar liberdade diante da moral. Essa postura, aparentemente leviana, no possui o objetivo simplista de depreciar a moral em geral,
mas a prpria depreciao se d na medida da necessidade de uma
revalorizao do homem em sua relao com a moral.
Ao estabelecer o problema da hierarquia como sendo o problema do esprito livre (MAI/HHI, Prefcio, 7 e KSA XII, 1 [154]),
Nietzsche no coloca em questo eventuais relaes hierrquicas
de valores no interior da moral, mas a necessidade de uma mudana hierrquica entre homem e moral, que estabelea lei moral a
funo de meio para o engrandecimento do homem (fim). Essa deve
ser a nica razo para se ter uma moral. Como j foi ensinado no
passado Jesus disse a seus judeus: A lei era para servos, amem
a Deus como eu o amo, como seu filho! Que nos importa a moral, a
ns filhos de Deus! (JGB/BM 164).
O esprito livre deve ser senhor sobre as prprias virtudes,
sobre aquelas mesmas virtudes s quais ele j fora subordinado (ele
emerge deste solo). E sua submisso anterior lei deve ser, para
ele, uma espcie de pr-requisito, pois somente porque ele conheceu o tu deves, ao qual outrora pertenceu, que ele agora pode,
-lhe permitido (cf. MAI/HHI, Prefcio, 6 e AC/AC 57), ter a
moral e o tu deves abaixo de si, como instrumento. Em oposio
justia repressiva, o esprito livre deve ter as sentenas morais
como meio para potncia (KSA XII, 9 [124]), para o crescimento
da planta homem.
64 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
Quando Nietzsche afirma que os verdadeiros filsofos so comandantes e legisladores (JGB/BM 211), no se trata de legislar, no sentido do filsofo legislador de Plato, que apresenta as leis
para os cidados da Repblica, mas de estar acima da lei, de ter a
lei subordinada a ele, ao seu dizer assim deve ser! e determinao do para onde? do ser humano (JGB/BM 211). O esprito
livre no pode prescindir dessa liberdade diante da lei, da mesma
forma como no pode prescindir da liberdade diante da verdade. O
que no implica em uma dispensa da lei ou da verdade, mas em ter
a lei e a moral, da mesma forma que a religio, a filosofia, a cincia
etc., apenas como meio de cura e de auxlio a servio da vida que
cresce, que combate... (FW/GC 370).
VIII
Mais do que uma proposio moral visando um melhoramento
do homem, as anlises de Nietzsche evidenciam outro tipo de necessidade. Tendo presente que o homem est ainda inesgotado para
as maiores possibilidades (JGB/BM 203), cabe reflexo moral
pensar formas de produzir um estado sob o qual homens mais fortes
so necessrios, os quais por sua vez precisam de uma moral (mais
claramente: uma disciplina corpreo-espiritual), que torne mais forte... (KSA XII, 10 [68]). Isso implica, por um lado, em grandes
empresas e tentativas globais de disciplinao e cultivo (JGB/BM
203) e, por outro, em tornar-se atento para onde e de que modo,
at hoje, a planta homem cresceu mais viosamente s alturas e
para as condies em que sua vontade de vida tinha de ser exacerbada at tornar-se absoluto querer-poder (JGB/BM 44).
Frente a essa necessidade, possvel apontar nos escritos de
Nietzsche um engajamento por uma forma de vida marcada pela
disposio para o conflito, que permite o devir; em oposio a tudo
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 65
Paschoal, A. E.
aquilo que esttico, mecnico, reduzido ao conceito metafsico de
ser. Uma vida que se exprime na figura de Dioniso, que ensina a
aumentar a tenso e, ao mesmo tempo, a rir. No deus que ama o
homem na medida que o quer ...mais forte, mais malvado e mais
profundo; tambm mais bonito (JGB/BM 295) do que ele .
Nesse sentido, se possvel falar em uma moral nesses escritos,
ela no pode ser um contramovimento contra o esforo da natureza,
por trazer luz um tipo mais elevado (KSA XII, 8 [4]), nem
tampouco ser dirigida contra a vida, contra os sentidos e especialmente contra os outros homens(Gerhardt 2, p.170), mas sim, uma
forma de corroborar com o esforo da natureza e do homem, quando, em momentos especficos, diferentes metas so apresentadas
para o homem. Trata-se, portanto, de um esforo de afirmao do
homem, por dizer sim s possibilidades que existem nele. Algo
que pode ser associado ao mistrio da procriao (doena = gravidez), no qual a dor santificada e a vontade de vida afirma a si
mesma eternamente... (GD/CI, O que devo aos antigos, 4). Uma
vontade de vida que, em sua autocompreenso mais trgica pede
seu eterno retorno, em oposio a qualquer proposio de mudana da vida com vistas a algo que supostamente seria mais elevado
(que poderia ser um tipo de homem mais elevado, mais completo,
estabelecido como uma utopia...), ou diante da possibilidade de se
estabelecer a vida como meio para algo.
Uma moral do futuro pode, portanto, ser entendida como uma
vontade de sade e de vida, que tem, num sentido inverso moral
platnico-crist (presente), sua raiz numa afirmao triunfante a si
mesmo ela auto-afirmao e autoglorificao da vida (WA/CW,
Eplogo).
Do sim incondicional vida decorre outro sim, igualmente incondicional, ao mundo como ele : at o desejo de seu absoluto
retorno e eternidade (KSA XII, 10 [3])1. Uma aceitao plena e
incondicional, sem a busca de um mundo verdadeiro, que sirva
66 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
para corrigir o momento presente, ou de um instante futuro que o
compense. Uma aceitao que no somente suporta a idia de que
tudo pode retornar (o pensamento abissal), como quer que tudo
retorne. Trata-se do amor fati, da coragem para viver a vida em sua
tragicidade sem cair no passivo niilismo que entende que nada vale
a pena. E somente um tipo que tenha a grande sade pode dizer
este sim a si mesmo e existncia: o mundo perfeito diz o
instinto do mais espiritual, o instinto afirmador (AC/AC 57)2.
Diferentemente da transvalorao de todos os valores que se
caracterizou pela negao, Nietzsche (que no gostaria de ser confundido com um esprito negador3), quer se ocupar da afirmao. Assim, mesmo quando um leitor se depara com o lado negador
de seu projeto, deve ter presente que esse empreendimento crtico-corrosivo tem por objetivo liberar a moral como meio e permitir
que se retire dela seu fruto mais maduro.
Sua afirmao, como se tornou claro pelo reconhecimento do
valor da mediao sacerdotal, inclui tanto o que negado pela moral predominante no Ocidente, quanto essa moral mesma como necessria. O alcance dessa afirmao pode ser avaliado no fragmento intitulado meu novo caminho para o sim, no qual, sem perder
de vista o instinto do animal de rebanho, o instinto de padecimento, Nietzsche afirma que no se deve apenas conceber o lado
at agora negador do ser como necessrio, mas como desejvel; e
no apenas desejvel em relao ao lado at agora afirmador (algo
como seu complemento e condies prvias), mas por seu prprio
querer, como o lado forte, terrvel, verdadeiro lado do ser, no qual
se manifesta claramente sua vontade (KSA XII, 10 [3]). Sem essa
capacidade de se extrair do pessimismo a forma mais extrema de
afirmao, no se pode chegar ao indivduo soberano, o fruto mais
maduro da moral, que s possvel nos mais perigosos limites, quando se aprende a tomar o niilismo como fora plstica e modeladora.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 67
Paschoal, A. E.
Abstract: The objective of this work is to demonstrate that in the writings
of Nietzsche about morality there isnt a negation of morality, but a negation
of a certain kind of relation with morality that fails to keep the best part of
it: its demiurgic role in the elevation of man. Firstly, we intend to establish
a contraposition to those who associate the writings of Nietzsche to a
relativism in philosophy and to a laisser aller in the moral field. It goes like
this because some expressions, such as nothing is true, anything is
permitted..., found in the writings of Nietzsche, are assumed out of their
context. Secondly, we aim at indicating in these writings the presence of
what is called by Nietzsche a future morality.
Key-words: morality nihilism conflict
notas
No se trata de uma aceitao resignada, da atitude paralisante daquele que no v outra possibilidade e que se
choca com a irremedivel realidade de que tudo d no
mesmo, de que tudo igual, nada vale a pena (Machado
3, p. 131; cf. Deleuze 1, p. 77ss), prpria do passivo niilismo, mas do passo para alm, para um ativo niilismo.
2
A afirmao de que o mundo perfeito no deve ser confundida com a atitude do tipo onicontente, que acredita
que todas as coisas so boas e este o melhor dos mundos;
nem com a atitude do tipo bajulador, que a tudo diz sim
(ja), que no ama o mundo, mas quer desfrut-lo (cf. Za/
ZA, Do esprito de gravidade, 2).
3
Cf. EH/EH, Por que sou um destino, 1.
1
68 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Nossas virtudes. Indicaes para uma moral do futuro
referncias bibliogrficas
1. DELEUZE, Gilles. Nietzsche et la philosophie. Paris, PUF,
1991.
2. GERHARDT, Volker. Friedrich Nietzsche. Mnchen,
Beck, 1995.
3. MACHADO, Roberto. Zaratustra Tragdia Nietzschiana. Rio de Janeiro, Zahar, 1997.
4. NIETZSCHE, Friedrich. Smtliche Werke. Kritische Studienausgabe (KSA) Herausgegeben von Giorgio Colli
und Mazzino Montinari. Mnchen/Berlin/New York,
dtv/Walter de Gruyter, 1988.
5. _______. Assim falou Zaratustra. Um livro para todos e
para ningum. 7 ed. Trad. Mrio da Silva. Rio de
Janeiro, Bertrand, 1994.
6. _______. Alm do Bem e do Mal. Preldio a uma filosofia
do futuro. Trad. Paulo Csar de Souza. So Paulo,
Cia. das Letras, 1992.
7. _______. Genealogia da Moral. Um escrito polmico.
Trad. de Paulo Csar de Souza. So Paulo, Brasiliense,
1987.
8. _______. Ecce Homo. Como algum se torna o que .
Trad. de Paulo Csar de Souza. So Paulo, Cia. das
Letras, 1995.
9. _______. Obras incompletas. Vol. I e II. Trad. Rubens
R. Torres Filho. So Paulo, Nova Cultural, 1991. (Col.
Os Pensadores).
10. TONGEREN, Paul van. Die Moral von Nietzsches Moralkritik. Bonn, Bouvier, 1989.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 69
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
A interpretao em Nietzsche:
perspectivas instintuais
Vnia Dutra de Azeredo*
Resumo: Neste artigo, procuramos determinar o sentido e o alcance da
interpretao em Nietzsche a partir da identificao do prprio instituir
da interpretao enquanto expresso de nossos impulsos. Visamos, de um
lado, a precisar as noes de signo, sintoma, tipo e valor, e, de outro, a
distinguir as anlises nietzschianas de uma perspectiva lingstica ou lgica. Apresentamos a genealogia como um procedimento investigador/avaliador que confere interpretao uma dimenso originria no sentido
instituinte tanto do signo quanto do significado. Por fim, afirmamos que,
em Nietzsche, estabelece-se um pensamento infinitamente instituinte, j
que os impulsos aparecem como verbo, como sujeito e como significao.
Palavras-chave: interpretao signo significado impulso
Que o valor do mundo est em nossa interpretao (...), que as interpretaes at agora existentes so
avaliaes perspectivas por meio das quais ns nos
conservamos na vida, (...) que cada elevao do
homem traz consigo a superao de interpretaes
mais estreitas, que todo o fortalecimento alcanado
e todo alargamento de potncia abre novas perspectivas e faz crer em novos horizontes isto percorre meus
escritos. O mundo, que em algo nos importa, falso,
ou seja, no nenhum fato, mas uma composio
(Ausdichtung) e arredondamento (Rundung) sobre
uma magra soma de observaes. O mundo em flu*
Doutoranda da USP e professora da UNIIJU.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 71
Dutra de Azeredo, V.
xo, como algo que vem a ser, como uma falsidade
que sempre novamente se desloca, que jamais se aproxima da verdade pois no existe nenhuma verdade (KSA XII, 2 [108]).
Ao introduzir a interpretao nos domnios do mundo a partir
de uma interpretao, Nietzsche aniquilou as noes de fato e de
fundamento. Tal procedimento, para alguns, implica em recusar
critrios para avaliar, precipitando o homem no absurdo, no sem
sentido, no nada. O pensador alemo, entretanto, diria que quaisquer critrios j decorreriam de um avaliar, mesmo o sentido ou a
sua recusa constituem a imposio de uma perspectiva, o introduzir
de uma interpretao. Nesse sentido, a dificuldade em formular uma
resposta conclusiva acerca da produo de significaes remetida
inexistncia de um domnio obscuro no qual elas estariam guardadas e afirmao de uma condio a partir da qual elas so
estabelecidas. Ora, se houvesse uma natureza humana apta a dar
conta da significao, da verdade e da realidade, ento ela forneceria todas as explicaes. Contudo, para Nietzsche, no formulamos
nem mesmo explicaes, j que elas pressupem uma fixao do
ser que s abstratamente se pode atingir. porque o valor do mundo est em nossa interpretao que no podemos explic-lo, mas
apenas adentr-lo a partir de vrios ngulos, v-lo sob diversos enfoques. Se s temos um ver perspectivo, nosso conhecer ser perspectivo, e o mundo, que em algo nos importa, no poder jamais
ser verdadeiro, mas o resultado de nossa avaliao e, portanto, a
imposio de uma interpretao.
Consoante a Nietzsche, existem to-somente interpretaes s
quais se confere uma factualidade que j seria resultante de uma
interpretao. Em um fragmento pstumo ele afirma: Contra o positivismo, que permanece no fenmeno: s h fatos, diria eu: no,
justamente no h fatos, apenas interpretaes (KSA XII, 7 [60]).
72 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
No h, por conseguinte, um significado objetivamente dado, j que
sua caracterizao passa pela maleabilidade constitutiva do ato acrescente ou fundador do prprio significado. A afirmao de que no
h um significado objetivamente dado, no quer pr em questo a
existncia ou no de objetos externos, mas assinalar que o ato de
colocar um objeto em correspondncia com um signo, seja atravs
da extenso de seu conceito ou da designao dos diversos seres
que ele pode abarcar, j resultado de uma interpretao. O modo
como o objeto designado e o modo como nos dado esse objeto
sempre algo resultante. A questo no se coloca em termos de
conotao ou denotao, mas do instituir da interpretao, ou seja,
do processo anterior que institui e relaciona o signo, o significante e
o significado. isso, em nosso entender, que permite, a partir de
Nietzsche, situar a relao intrprete/interpretao em uma dimenso originria no sentido instituinte, j que os termos envolvidos so
sempre produtos, no havendo, por conseguinte, previso de incio
ou trmino.
A perspectiva nietzschiana confere, assim, interpretao um
inacabamento e uma infinitude que transformam a prpria filosofia, ao tentar desvendar o processo que introduz a significao. Dizemos processo, porque o termo que melhor se aplica ao dinamismo presente nas configuraes expressivas que historicamente se
objetivaram em sistemas semnticos. Ainda assim, esses sistemas
no refletem fatos, ou pelo menos, no necessariamente. esse justamente o ponto da contenda em Nietzsche, j que, para ele, por
trs desses sistemas se encontram avaliaes.
Mas se, como afirma expressamente o filsofo, no existem fatos ou mesmo qualquer espcie de em si oculto, ento o que, nesse caso, requer explicitaes o estatuto de sua interpretao, dado
que tudo sempre interpretao, impe-se resolutamente perquirir
a dimenso que legitima ou que melhor expressa a relao intrprete/interpretao a partir das perspectivas interpretativas apontadas
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 73
Dutra de Azeredo, V.
por Nietzsche. Se a filosofia por ele apresentada como uma sintomatologia, uma semiologia, uma tipologia e uma genealogia, fazse mister determinar o sentido e o alcance de um sintoma, de um
signo, de um tipo e de um valor em sua relao direta com o instituir da interpretao.
A meno s noes de sentido e de valor indicam um caminho, j que para o filsofo nesse mbito que se pode encontrar o
efetivo, pois, em no havendo fatos mas somente interpretaes, so
elas que constituem a efetividade. Restringindo, nesse momento, o
campo de anlise s produes humanas tem-se que para Nietzsche
elas so valores. Conceitos, idias, ideais ou mesmo signos, enquanto
produes, so desde sempre resultante de avaliaes e, portanto,
valores. Valores foi somente o homem que ps nas coisas, para se
conservar foi ele somente que criou sentidos para as coisas, um
sentido de homem! Por isso ele se chama de homem, isto : o
estimador (Za/ZA I Dos mil e Um alvos). O homem apresentado como o estimador porque em sua relao com as coisas dota-as
de sentido, de valor em vista de sua conservao. Afirmar isso implica que o valor no se encontra dado, mas que estimado sendo,
portanto, institudo. Todavia, essa posio no pode ser compreendida como a instaurao de um princpio para o estabelecimento de
uma dada filosofia que centre o valor em uma perspectiva antropocntrica ou subjetiva, uma vez que sua instituio remete a uma
outra instncia que determina as produes.
Se observarmos, por exemplo, a caracterizao feita por
Nietzsche do castigo, que em termos semiticos pode ser tomado
como um signo, veremos que o filsofo opera com outros elementos. Em Para a genealogia da moral afirma, ao castigo, temos de
distinguir nele [castigo] duas coisas: primeiro, o que relativamente duradouro nele, o uso, o ato, o drama, uma certa seqncia rigorosa de procedura, por outro lado, o que fluido nele, o sentido,
o fim, a expectativa que se vincula execuo de tais proceduras
74 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
(GM/GM II 13). Nietzsche distingue no castigo um elemento duradouro que seria o ato propriamente dito e um elemento fluido que seria o sentido. No ato esto includos todos os tipos de
procedimentos que o executam; no fim, as expectativas advindas da
execuo dos procedimentos. Mas o autor considera que esses procedimentos so anteriores ao sentido dado a eles, embora sejam
tambm a exposio de um dado sentido, uma vez que j havia tais
procedimentos sem que fossem associados ao castigo, o que indica
ser ele expresso de uma interpretao introduzida para um dado
ato. Na seqncia, comenta, ...no como admitiram at agora
nossos ingnuos genealogistas da moral e do direito, que pensavam,
todos eles, a procedura inventada para fins de castigo, assim como
outrora se pensava a mo inventada para fins de pegar. O castigo
teve na histria da humanidade diversos sentidos, pois para o mesmo tipo de procedimento, foram introduzidas diferentes possibilidades, demonstrando ter ele interpretaes divergentes que em
cada caso fixam um sentido, mas no como o sentido. Devido a isso,
a presena de dois elementos, um duradouro e um fluido, ambos
institudos.
At esse momento no se percebe uma distino precisa entre
a perspectiva nietzschiana e a de uma anlise semitica, visto que o
castigo, enquanto um signo, poderia ser remetido em cada significao recebida, em cada dotao de sentido, ao seu elemento fluido. Poderia esse elemento representar alguma coisa para algum1,
algo que remete a outros signos, cuja interpretao estaria determinada pelo signo em sua relao com o indicar algo a algum, ou
ainda a reunio de um significante e de um significado. Contudo,
no nessa acepo que se pode conferir estatuto interpretao
em Nietzsche, uma vez que em sua investigao no h nfase
remessa a outros signos ou indicao de algo a algum. preciso
ter presente, de um lado, a crtica de Nietzsche aos mecanismos
dissimulatrios da linguagem, sempre de prontido para veicular a
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 75
Dutra de Azeredo, V.
multiplicidade como unidade. oportuno citar o texto em que
Nietzsche, referindo-se ao testemunho dos sentidos e do intelecto,
apresenta um parecer acerca das possveis convenes de signos:
A razo a causa pela qual falsificamos o testemunho dos sentidos. Enquanto mostram o vir-a-ser, o passar, a mudana, os sentidos no mentem... (...) O resto aborto e ainda-no-cincia: isto ,
metafsica, teologia, psicologia, epistemologia. Ou cincia formal,
uma teoria dos signos, como a lgica e aquela lgica aplicada, a
matemtica. Atravs dela a realidade no se torna presente, nem
sequer como problema; e to pouco a questo sobre que valor tem
em geral uma tal conveno semiolgica, como a lgica (GD/CI A
razo na filosofia 3).
Inicialmente est posta a compreenso de Nietzsche acerca do
ser que entendido como vir-a-ser. A subsistncia afirmada a da
transitoriedade enquanto relao entre o vir-a-ser e o perecer, pois
o que se conserva um fluxo constante que possibilita ao perecer
vir-a-ser e ao vir-a-ser perecer conferindo-lhe a caracterstica de um
passar, mudar, transformar. A linguagem, enquanto centrada na
representao e cognio, no apreende o fluxo e o transmuda em
fixidez. Em vista disso a unidade e os correlatos coisidade e substncia. Mas resta ainda uma questo referente presena de uma
conveno de signos no sentido da determinao de sua vigncia.
Ora, na tica nietzschiana, ela permite justamente uma certa
homogeneizao, salvaguardando o entender e o compreender. Por
isso, as formaes de domnio so entendidas como unidade, como
um, mas Nietzsche ressalta e distingue o significar um e o ser um,
apontando s convenes de signos que transmudam o significar
em um fixar, o que resultaria em uma falsificao.
O signo, enquanto unidade bsica de um sistema de significao funciona como um estabilizador, quer dizer, algo que concentra
a pluralidade em uma aparente unidade de sentido, donde decorre
a possibilidade de determinao de um significado como o signifi-
76 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
cado. Destituindo o signo e suas correspondentes convenes de
um estatuto originrio no sentido de fundante, Nietzsche os apresenta como um resultado, isto , o signo j expressa uma interpretao e sua remessa a outro signo a remessa a outra interpretao.
Por outro lado, Nietzsche compreende o ato de nomear como
um explicitar do jogo instintual presente nos dominantes, uma vez
que h uma relao direta entre a instituio do signo e o sentimento de dominao expresso pelo direito do senhor de dar nomes. Cada
acontecimento recebe tanto o estatuto de designado, quanto um
nome, propriamente um som, cuja procedncia em ambos remete
ao do senhor de designar, de nomear. Essas noes j se configuram como uma apropriao, j que o ato de nomear implica a posse
do nome e, de certo modo, do acontecimento ou objeto nomeado,
da a instituio do signo e do designado. A remessa de um ao outro se deve ao ato instituidor que em Nietzsche cabe ao senhor. Em
vista disso, a meno quanto possibilidade de a linguagem ser
remetida exteriorizao da potncia dos dominantes: eles dizem
isto isto, eles selam cada acontecimento com um som e, com
isso, como que tomam posse dele (GM/GM I 2). A instituio do
signo, assim como do significado desde sempre resultante, uma
vez que o nomear e o significar j decorrem do avaliar. Comea-se,
com isso, a estabelecer as fronteiras demarcatrias que separam
diametralmente a interpretao nietzschiana de uma anlise
lingstica ou lgica, de uma perspectiva que possa se fundar em
uma semitica.
Mas, em que consiste e como se efetiva a interpretao em
Nietzsche, uma vez que para o filsofo o mundo (...) diversamente interpretvel, no tem nenhum sentido por trs de si, mas inumerveis sentidos (KSA XII, 7 [60])? Ora, na tica do filsofo, no
podemos subir ou descer a outra instncia que no seja a de nossos
impulsos, j que todas as manifestaes em termos do querer, sentir e pensar so expresses das relaes dos impulsos entre si. So
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 77
Dutra de Azeredo, V.
nossas necessidades que interpretam o mundo: nossos impulsos e
seus prs e contras. Cada impulso uma espcie de despotismo,
cada um tem sua perspectiva, que ele desejaria impor como norma
a todos os demais impulsos (KSA XII, 7 [60]). Assim, so nossos
impulsos que em luta permanente configuram interpretaes.
A soluo para o questionamento acerca da interpretao na
viso de Nietzsche, requer que se adentre no mbito da fisiologia,
uma vez que ele compreende o processo significativo a partir da
dimenso orgnica, isto , a partir do feixe de impulsos em luta nos
existentes, Quem interpreta? nossos impulsos (KSA XII, 2
[190]). Cada existente se compe de uma multiplicidade de impulsos que se digladiam permanentemente. Cada organismo, cada rgo mesmo se mantm a partir da alternncia entre dominao e
subjugao que o faz. Da a referncia do filsofo em Para alm de
bem e mal a uma estrutura social de muitas almas disposta a partir de relaes de mando (cf. JGB/BM 19). Estende-se totalidade dos organismos o fluxo entre o vir-a-ser e o perecer expresso no
jogo de alternncia de dominao e subjugao que, na sua viso, o
constitui. O impulso deve ser compreendido como um despotismo
que, a partir de sua perspectiva, introduz uma interpretao que
expressa ascenso ou decrscimo: Infinita interpretabilidade do
mundo: toda interpretao um sintoma de crescimento ou de
declnio (KSA XII, 2 [117]).
A interpretao sempre uma imposio de uma perspectiva,
cuja base dada pelas configuraes de domnio manifestas por
nossos impulsos que em perptua mutao constituem aquilo que
chamamos homem. Os impulsos manifestam-se em nossas estimativas de valor. Assim, se a vida ascende, as valoraes promovem a
vida e, se a vida descende, as valoraes a obstruem. isso que
Nietzsche quer ressaltar ao afirmar que: Nas escalas de valor so
expressas condies de conservao e de crescimento (KSA XII, 9
[38]). Em seus textos, encontramos a exposio de tais condies
78 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
quando ele apresenta as mudanas de designao e, por decorrncia, de significao dos juzos de valor. As anlises dos pares de
valores bom/mau e bom/ruim, assim como da palavra Schuld constituem exemplos interessantes de ascenso ou de declnio ilustrados
pelas alteraes desses juzos2.
Os impulsos so elementos centrais que possibilitam, de um
lado, determinar o estatuto e o alcance da interpretao em Nietzsche
e, de outro, apreender o sentido, em sua acepo, de um sintoma,
de um signo, de um tipo e de um valor, j que, na sua argumentao: Por trs de toda lgica e de sua aparente soberania de movimentos existem valoraes, ou, falando mais claramente, exigncias
fisiolgicas para a preservao de uma determinada espcie de vida
(JGB/BM 3). As exigncias fisiolgicas referem-se diretamente s
condies manifestas pelos impulsos em termos de uma agregao
hierarquizada que promove o seu crescimento ou a desagregao
completa deles, que determina seu definhamento. Devido a uma ou
outra condio, processa-se o estimar, o avaliar e, por conseguinte,
o introduzir de interpretaes.
Ora, so os impulsos que interpretam, mas a interpretao mesma no se deixa veicular pelas formas usuais da linguagem que, via
de regra, traduzem o vir-a-ser em ser, a multiplicidade em unidade.
Desse modo, a manifestao de um sintoma deve ser compreendida
como um sinal, um indcio, de acrscimo ou de decrscimo em termos instintuais. Esse o sentido de um sintoma na filosofia de
Nietzsche: expresso de sucessos ou fracassos fisiolgicos enquanto
resultantes das lutas que interagindo ao mesmo tempo compem o
organismo e impem sua interpretao, sua perspectiva. Um signo
no difere muito de um sintoma e pode ser visto a partir de uma
relao sinnima com o mesmo, pois se apresenta igualmente como
um sinal, um indcio de plenitude ou no dos impulsos. Em vista
disso que sua filosofia pode ser entendida como uma sintomatologia, uma semiologia, pois em cada caso so sintomas e signos que
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 79
Dutra de Azeredo, V.
expressam os sucessos ou fracassos fisiolgicos. Sendo, portanto,
formas de manifestao de nossos impulsos.
O intrprete no se ope nem difere da interpretao, pois na
rede instintual que compem os existentes, agir interpretar e o
resultado da ao sempre interpretao, da a necessria convergncia expressa na noo de processo interpretativo. De um lado,
os signos antes mesmo de poderem ser oferecidos como elementos
para uma interpretao so eles mesmos j interpretao. De outro,
os intrpretes no podem estabelecer vnculos ou associaes que
no sejam previamente resultantes. H, em vista disso, um inacabamento constitutivo da interpretao que se assenta no dado de
que no h algo a ser interpretado, pois que tudo sempre interpretao3. Por isso, no h um estado terminal a ser atingido. Destituem-se, assim, os lugares fixos do intrprete e do interpretado e
do signo, do significado e do significante, que passam a ser intercambiveis.4 possvel, por conseguinte, conceber, de um lado, a
imposio de uma perspectiva e, de outro, excluir em definitivo a
figura do intrprete, pois no h perspectiva antropocntrica, subjetivista ou mesmo cognitiva.
genealogia, na tica nietzschiana, cumpre justamente perscrutar os sucessos ou fracassos fisiolgicos que se expressam nos
valores. Por isso, detm-se no conhecimento da criao e das condies de criao dos valores perguntando pelo prprio valor deles.
O valor, para a genealogia, apresenta dois aspectos: por um lado,
o ponto de partida para a avaliao, por outro, estabelecido a partir de uma dada avaliao. A questo da avaliao o ponto principal para o estabelecimento do valor de um valor em sua referncia
promoo ou obstruo da vida. Para Nietzsche, toda e qualquer
atividade humana se apresenta como avaliao, mas essa avaliao
desde sempre o introduzir de uma interpretao. Quem interpreta
no um existente movido pela cognio, mas as lutas entre os diversos impulsos. H uma correspondncia entre nossos impulsos e
80 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
nossas avaliaes, uma vez que estas ltimas decorrem de um crescer ou de um declinar que se expressa em estimativas de valor. Eis
o porque do estabelecimento de uma tipologia, j que o carter
agonstico presente no instituir do valor remete a perspectivas divergentes que em termos de suas manifestaes no homem remontam a tipos disjuntivos denominadas pelo filsofo senhor/nobre e
escravo/vil. Remetem a constituies dspares que, no limite, expressam a condio de uma vida, os seus sucessos ou fracassos fisiolgicos. Compreende-se, a partir disso, a conhecida estratificao
nietzschiana que, tendo por pano de fundo a questo fisiolgica
aplicada ao organismo, estabelece a disjuno forte/fraco. Assim,
genealogia cumpre papel decisivo, pois, ao identificar o duplo aspecto existente no valor, refere-o ao tipo que o institui, ao determinar o tipo remete-o sua condio de vida e ao conferir vida seu
carter agonstico a compreende enquanto jogo permanente de nossos impulsos, cujo resultado obtido em termos de fracasso ou xito
na obteno de mais potncia constitui a prpria interpretao.
H, por conseguinte, a partir de Nietzsche, uma reviravolta em
termos de compreenso, enunciada pela recusa em conceder ao estado consciente o primado da significao. A conscincia no desempenha a funo mais nobre no organismo, ao contrrio, desenvolveu-se devido necessidade de comunicao, devendo ser vista
como um rgo condutor de algo sem, todavia, responsabilizar-se
pela conduo dos processos no organismo5. Da ele enunciar que
tudo o que se torna consciente foi previamente preparado, simplificado, esquematizado, interpretado (KSA XIII, 11 [113]). O filsofo
no acredita na supremacia desses rgos que teriam, em si, a competncia e a funo de atingir as coisas mesmas ou condicionantes
referentes verdade dessas coisas. Entende o seu desenvolvimento
na perspectiva da utilidade. Com relao aos rgos do conhecimento diz: Todos os rgos do conhecimento e dos sentidos so
unicamente desenvolvidos quanto s condies de conservao e
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 81
Dutra de Azeredo, V.
de crescimento (KSA XII, 9 [38]), e, em vista disso, simplificarem
e esquematizarem. Em termos da crena na razo declara: A confiana na razo e em suas categorias, (...), na escala de valores da
lgica, demonstra somente a utilidade desta para a vida, utilidade
j demonstrada pela experincia e no sua verdade (ibidem).
Ora, se a conscincia no tem um papel fundamental e os rgos do conhecimento obedecem aos condicionantes de ascenso e
de declnio, o que basta para pr em xeque a onipotncia do intelecto tanto em termos de competncia quanto em termos de produo, conferindo o primado da significao s necessidades orgnicas, s condies de uma ascender ou de um declinar manifestas
nos organismos e expressas em suas estimativas de valor. No limite,
so resultantes de uma interpretao, constituem a imposio de
uma perspectiva, pois no h outro modo de estar no mundo salvo
o interpretante sem, todavia, a insero do intrprete. A exposio nietzschiana no se furta a essa classificao, j que se apresenta igualmente como uma interpretao, cuja avaliao de seu valor
depender sempre da promoo ou obstruo da vida, do ascender
e do declinar que governam a luta constante a partir da qual se
desenvolvem os organismos enquanto impulsos que se digladiam
permanentemente.
Em Para alm de bem e mal, ele se dispe a pr o dedo sobre
artes-de-interpretaes ruins (JGB/BM 22), indicando, com esse
procedimento, que as demais explanaes so interpretaes, diferindo, assim, em funo da qualidade daquilo que professam, mas
no de sua verdade, mas como se comenta, isso interpretao,
no texto (ibidem). Em termos da existncia de ngulos, vises e
perspectivas dspares afirma, poderia vir algum que, com a inteno e a arte de interpretaes opostas, soubesse, na mesma natureza e tendo visto os mesmos fenmenos, decifrar precisamente a
imposio tiranicamente irreverente e inexorvel de reivindicao
de potncia (ibidem), acrescenta ainda um intrprete, nesse caso
82 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
como ele, que vos colocasse diante dos olhos a falta de exceo e a
incondicionalidade que h em toda vontade e de potncia (...) e
que, contudo, terminasse por afirmar desse mundo o mesmo que
vs afirmais, ou seja, que tem um decurso necessrio e calculvel, mas no porque nele reinam leis, mas porque absolutamente
faltam as leis, e cada potncia, a cada instante tira sua ltima conseqncia (JGB/BM 22). Com relao a sua prpria filosofia, portanto, deixa claro que se configura tambm como uma interpretao ao admitir que lhe seja feita a seguinte objeo, posto que
tambm isto seja somente interpretao e sereis bastante zelosos
para fazer essa objeo? ora, tanto melhor! (ibidem).
Consoante a Nietzsche, as explicaes, at ento formuladas,
so produto dos impulsos e, por conta disso, interpretaes perspectivas que promovem recortes no vir-a-ser tentando firm-lo e
mold-lo para, em vista de um dado crescimento, domin-lo. Atravs da incorporao e do ter de deixar-se incorporar que se expem
e impem sua interpretao, formulam sua perspectiva. O nico
modo de conhecer interpretar, conferindo a dimenso instintual o
primado do significar. atravs de nossos impulsos que entendemos no s a passagem do fisiolgico ao semntico, mas primordialmente, o porqu dessa passagem, isto , a prpria necessidade
pertencente ao homem, enquanto organismo, de construir um aparato conceptual que lhe permita se situar no mundo. Com efeito, na
base destes conceitos esto avaliaes, pois conceitos, idias, ideais
e signos so valores, quer dizer, pontos de vista, condies de conservao e intensificao de complexas formaes vitais, de durao relativa, no interior do vir-a-ser (KSA XIII, 11 [73]). Por isso,
existe, na tica de Nietzsche, apenas uma viso perspectiva e somente um conhecer perspectivo. A profuso de afetos interfere,
ou melhor, determina nossa viso sobre algo e circunscreve as possibilidades de nossa objetividade, j que nosso aparato conceptual,
nosso sistema semntico exprimem nossos afetos. Da ele afirmar:
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 83
Dutra de Azeredo, V.
suspender os afetos todos sem exceo, supondo que consegussemos: como? no seria castrar o intelecto?... (GM/GM III 12).
Nesse sentido, duas palavras fornecem a tnica, j que circunscrevem um tipo de procedimento: ou bem se trata de tornar algo
inteligvel ou de interpretar algo. Em Nietzsche, com certeza, no
se tem um mesmo procedimento No primeiro caso, pode-se dizer,
busca-se eliminar pontos ambguos e obscuros, precisar conceitos,
apresentar razes que digam porque q o caso. No segundo, procura-se elaborar fices, formular explicaes enquanto o postular de uma interpretao, o impor de uma perspectiva. H pressupostos diferentes que subjazem aos dois modos de proceder, pois
no primeiro deles acredita-se na possibilidade de atingir a verdade,
j que ela condicionante de clareza, preciso e justificao. No
outro, a prpria verdade j imposta perspectivamente, pois a verdade seria uma fico. A competncia dos rgos aptos para o conhecimento de algo diferir em uma e outra forma de abordagem
separando diametralmente o explicar do interpretar.
Em Nietzsche, estabelece-se de direito um pensamento, uma
viso e um vir-a-ser primordialmente e infinitamente instituinte, j
que os impulsos aparecem como verbo, eles so o interpretar, como
sujeito, eles so o intrprete, e como significao, eles so o significante e o significado que se faz, no, todavia, enquanto ser, mas
enquanto exercer-se.
84 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
Abstract: In this article we try to determine the sense and the extent of
interpretation in Nietzsches work in the light of the identificaion of the
institution of interpretation with the expression of our impulses. We aim,
on one hand, at clarifying the notions of sign, symptom, type and value,
and, on the other, at distinguishing between the Nietzschean analyses and
linguistic or logic perspectives. We also present the genealogy as an
investigative/evaluative procedure which gives interpretation an original
dimension in the sense that it establishes the sign as well as the meaning.
Finally, we declare that, in Nietzsche, it is settled an infinitely instituting
thought, since the impulses appear as verb, as subject and as signification.
Keywords: interpretation sign meaning impulse
notas
1
Recorremos, nesse caso, definio peirciana de signo:
algo que sob certo aspecto representa alguma coisa para
algum. Esse representar algo a algum se relaciona ao
fundamento, o signo coloca-se no lugar de um objeto, ao
objeto, o signo representa alguma coisa, e ao interpretante,
signo criado na mente de uma pessoa equivalente ao anterior ou mais bem desenvolvido. As possibilidades da interpretao esto determinadas pelos diferentes pontos expressos pelo signo. Em vista disso, constitui-se como processo tridico conforme os signos sejam considerados a
partir dos prprios signos ou em suas relaes com os
objetos ou com quem interpreta (cf. Peirce 10, p. 94). Na
nossa viso, a perspectiva de interpretao nietzschiana
difere da semitica de Peirce ao conferir s atividades instintivas a primazia da significao.
Em Para a genealogia da moral, Nietzsche verifica na
etimologia das palavras a significao atribuda e, com isso,
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 85
Dutra de Azeredo, V.
a remessa da designao postulao de um sentido expresso em um dado momento histrico, assim como de
suas alteraes de significao que expressam reorganizaes nas relaes entre os impulsos. Na primeira dissertao, o filsofo se detm a analisar a dupla provenincia
dos juzos de valor bom/mau (gut/bse) e bom/ruim (gut/
schlecht) para explicitar a duplicidade de avaliaes vinculando-as a dois tipos distintos de homem senhor e escravo. Na segunda dissertao, tomando a dupla significao
da palavra Shuld que designa, ao mesmo tempo, culpa e
dvida ele mostra que, em um primeiro momento, a responsabilidade est ligada dvida, o homem responsvel
por uma dvida, e no culpa, o homem responsvel por
uma falta.
3
O filsofo francs Michel Foucault reconheceu, nos textos
de Nietzsche, a dimenso primordialmente instintuinte da
interpretao, considerando que Nietzsche, juntamente com
Freud e Marx, introduz uma nova hermenutica mediante
um redimensionamento da interpretao. Na perspectiva
de Foucault, esses autores distanciam-se da tradio
interpretativa, pois no multiplicaram de modo algum os
signos do mundo ocidental. Eles no deram um sentido
novo s coisas que no tinham um sentido. Eles na realidade transformaram a natureza do signo e modificaram a feio com a qual o signo poderia ser interpretado. Com
relao ao estabelecimento, por parte desses pensadores,
dos postulados de uma hermenutica moderna acrescenta
ainda: se a interpretao no pode jamais acabar, isso se
d simplesmente porque no h nada a interpretar, porque
no fundo tudo sempre interpretao, cada signo ele
mesmo no a coisa que sofre a interpretao, mas interpretao de outros signos. (Foucault 2, pp. 183-192). No
podemos nos furtar a admitir a influncia de Foucault sobre a perspectiva de abertura irredutvel da interpretao em Nietzsche. Efetivamente, a proposio de inaca-
86 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
bamento da interpretao tem, nesse pensador, suas diretrizes. Contudo, em nossa abordagem, partimos da compreenso de uma dimenso especial conferida por Nietzsche
fisiologia, entendendo que quem interpreta so impulsos, foras, vontades que, visando a ser mais, impem sua
perspectiva. Nesse caso, o aparato conceptual nietzschiano
no utilizado como um operador, mas enquanto rede de
conceitos que interligados compem uma filosofia, ainda
que situando o filosofar em uma nova dimenso.
4
Nos textos de Nietzsche, via de regra, a violncia apresentada como caracterstica essencial da vida no sentido
de funo elementar. Em Para alm de bem e mal 259
afirma, a vida essencialmente apropriao, ofensa, sujeio do que estranho e mais fraco, opresso, dureza, imposio de formas prprias, incorporao e no mnimo e
mais comedido, explorao... E, em Para a genealogia
da moral II 11, encontra-se um texto similar em que
Nietzsche reafirma, essencialmente, isto , em suas funes bsicas, a vida atua ofendendo, violentando, destruindo, no podendo sequer ser concebida sem esse carter.
5
Em Para a genealogia da moral, ao realizar uma genealogia
da prpria espiritualidade mediante uma hiptese histrico-interpretativa da inscrio do social no homem, Nietzsche
afirmara que, outrora, o homem desenvolvia plenamente
os seus instintos e, inclusive, tinha neles o guia certeiro de
sua ao. A partir da sua insero na sociedade, entretanto, eles perderam o valor, foram colocados em suspenso,
j que no serviam de guia diante de novas condies de
existncia. Desde ento, os homens foram obrigados a desenvolver as habilidades do esprito, eles foram reduzidos, esses infelizes, a pensar, a concluir, a calcular, a combinar causas e efeitos; eles foram reduzidos a sua conscincia (Bewusstsein), ao seu rgo mais miservel e falvel
(GM/GM II 16) Na tica nietzschiana, a conscincia
a fase mais tardia da evoluo da vida orgnica sendo, por
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 87
Dutra de Azeredo, V.
isso, mais frgil e falvel. Da a sua considerao acerca da
infelicidade humana, uma vez que reduzida a um sistema
cuja fraqueza interna demanda dificuldades em sua determinao como guia da ao. Contudo, a sua insero na
sociedade requer a comunicao e, portanto, a conscincia: o homem ermito e animal de rapina no teria precisado dela (FW/GC 354).
referncias bibliogrficas
1. DELEUZE, Gilles. Nietzsche et la Philosophie. Paris, PUF,
1962.
2. FOUCAULT, Michel. Nietzsche, Freud, Marx. In:
Nietzsche Cahiers de Royaumont, Paris, Minuit, 1967.
3. _______. Nietzsche, a genealogia e a histria, in Microfsica do poder, organizao de Roberto Machado. Rio
de Janeiro, Graal, 1989.
4. MARTON, Scarlett (org.). Nietzsche hoje? Colquio de Cerisy. So Paulo, Brasiliense, 1985.
5. _______. Nietzsche, das foras csmicas aos valores humanos. So Paulo, Brasiliense, 1990.
6. MULLER-LAUTER, Wolfgang. A doutrina da vontade de
poder em Nietzsche. Traduo de Oswaldo Giacia
Junior, So Paulo, AnaBlume, 1997.
7. NIETZSCHE, Friedrich. Smtliche Werke Kritische
Studienausgabe. Edio organizada por Giorgio Colli
e Mazzino Montinari. Berlim, Walter de Gruyter &
Co., 1967/1978.
88 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
A interpretao em Nietzsche: perspectivas instintuais
8. NIETZSCHE, Friedrich. Nietzsche Obras Incompletas.
Traduo de Rubens Rodrigues Torres Filho. In: Os
Pensadores. So Paulo, Abril Cultural, 1978.
9. NIETZSCHE, Friedrich. Alm do bem e do mal. Traduo
de Paulo Csar de Souza. So Paulo, Companhia das
Letras, 1996.
10. PEIRCE, Charles Sanders. Semitica e Filosofia. Traduo de Octanny Silveira da Mota e Lenidas Hegenberg. So Paulo, Cultrix, 1993.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 89
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
Interpretao: arbitrariedade
ou probidade filolgica?*
Luca Piossek Prebisch **
Resumo: comum atribuir, sem mais, a Nietzsche a equiparao da interpretao arbitrariedade. Este artigo examina o aforismo que contm
a afirmao fatos, precisamente no, somente interpretaes e refere-se
a outros contextos para desvirtuar, ao menos em grande parte, tal equiparao. Assinala-se como a preeminncia concedida por Nietzsche e pela
atual hermenutica linguagem enquanto constituio do mundo permite
pensar que renasce a velha imagem do livro do mundo.
Palavras-chave: Nietzsche interpretao texto livro do mundo
Introduo
No centenrio da morte de Nietzsche, em que se formou um
vigoroso movimento de recordao desse pensador, muitos talvez
se perguntem por que semelhante interesse, em todas as partes do
mundo, por algum que caracterizava a si mesmo como um extemporneo: H homens que nascem pstumos; eu sou um deles;
Conferncia apresentada nas Jornadas Nietzsche 2000, Universidade de Buenos
Aires, Argentina, outubro de 2000. Traduo de Wilson Antonio Frezzatti Jr.
**
Professora de Filosofia Contempornea e fundadora do Instituto de Histria e
Pensamento Argentinos na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade
Nacional de Tucumn, Argentina.
*
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 91
Prebisch, L. P.
Cheguei antes do tempo.... Hoje, ningum dizia me tem
em conta, mas em um futuro no muito longnquo criar-se-o ctedras para analisar meu Zaratustra.
O que entendia Nietzsche por extemporneo? Neste caso, uma
obra de pensamento como a sua, que no acha ressonncia nem
compreenso em seu tempo, mas que, seguramente, mais adiante
as encontrar, pois o fruto de um diagnstico veraz e prospectivo.
O que acontece hoje com Nietzsche, o extemporneo? difcil
encontrar um campo da cultura contempornea que no tenha sido
agitado profundamente por algumas de suas idias. Hoje vemos que
o filsofo alemo requerido tambm para ilustrar ou justificar as
mais diversas aventuras intelectuais. Ocorre que, gostemos ou no,
ele continua sendo uma das chaves para compreender nosso mundo. Nietzsche, o filsofo pssaro, que sobrevoa seu tempo e diagnostica seu mal como niilismo, ou seja, como a paulatina perda de
valor dos valores supremos; Nietzsche, o filsofo tatu1, que escava
at chegar aos fundamentos humanos, demasiado humanos de
nossa concepo ocidental moderna do mundo; Nietzsche, o filsofo
artista, que advoga por uma filosofia que recupere o valor do mundo sensvel e que, ao mesmo tempo, promova uma espiritualizao
dos sentidos, e que instaure de modo criativo um novo cosmos de
valoraes: os trs2 tiveram uma influncia incalculvel e abrangente
na cultura do sculo XX e tudo faz pensar que no a perdero no
sculo em que entramos. Nietzsche tinha razo no que proclamou
como filsofo pssaro e no que est expresso em um aforismo
pstumo que seus editores colocaram no incio da compilao de
fragmentos que batizaram Vontade de potncia: O que vou relatar
a histria dos dois sculos que se aproximam. E descrevo o que
vem, o que irremediavelmente vir: a irrupo do niilismo. Essa histria j pode ser contada, pois se trata de um processo necessrio.
92 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
I
Quero abordar um aspecto do pensamento nietzschiano que permaneceu durante muito tempo desconhecido sob o prestgio fulgurante de temas tais como o niilismo, o alm-do-homem, a vontade
de potncia, o eterno retorno do mesmo. Refiro-me ao tema da linguagem e, concomitantemente, ao da interpretao. Da o ttulo de
meu trabalho: Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
Comeo recordando um breve texto de Foucault, em Les mots
et les choses, pois economiza comentrios:
[...] a reflexo filosfica manteve-se durante longo tempo afastada
da linguagem. [...] prestava linguagem somente uma ateno marginal; para ela, tratava-se sobretudo de eliminar obstculos que podiam
opor-se sua tarefa; era necessrio, por exemplo, liberar as palavras de
contedos silenciosos que as alienavam, ou de liberar a linguagem e
faz-la, desde seu interior, flexvel a fim de libert-la das espacializaes
da inteligncia e poder reproduzir assim o movimento da vida e sua
durao prpria. A linguagem entrou diretamente e por si mesma no
campo do pensamento somente em fins do sculo XIX. Poder-se-ia mesmo dizer no sculo XX, se Nietzsche, o fillogo [...], no houvesse sido o
primeiro a vincular a tarefa filosfica a uma reflexo radical sobre a
linguagem.
E aqui que agora, neste espao filolgico-filosfico que Nietzsche
abriu para ns, a linguagem surge com uma multiplicidade enigmtica
que necessrio dominar (Foucault 5, p. 316).
At aqui, Foucault. E compartilho mesmo a opinio de um recente estudioso de Nietzsche, Lynch, quando sustenta que h um
antes e um depois de Nietzsche em virtude de seu desvelamento
dos problemas da linguagem como lugar natural da verdade. E poder-se-ia, nesse sentido, parafrasear Ricoeur quando, sob a aceita-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 93
Prebisch, L. P.
o do desafio da psicanlise, destaca o iniludvel do conhecimento
da tipologia do psiquismo para uma filosofia da reflexo e diz que
desconhecer tal desafio poderia conduzir a uma ingenuidade prfreudiana. Poder-se-ia, com efeito, prevenir contra uma ingenuidade pr-nietzschiana, que consiste em crer que se pode continuar fazendo filosofia com o esquema e com as convices bsicas da
metafsica e sem se submeter a esse grande desafio que implica o
exame da metafsica no plano da linguagem (cf. Piossek Prebisch
13 e 15). Sabemos que tal crtica, apresentada inicialmente por
Nietzsche no pstumo de 1873 Sobre verdade e mentira no sentido
extra-moral (cf. Nietzsche 9), pergunta-se o que uma palavra?
para responder que uma metfora, no alcance etimolgico
de transporte , ou seja, uma inadequao originria com o pretensamente designado. Mais adiante, o exame crtico da metafsica
estende-se desde esse plano semntico ao plano estrutural, gramatical ou sinttico da linguagem.
fcil ver que, sob esse tipo de exame, no se pode manter
sem mais a confiada crena em um realismo lingstico, segundo o
qual nas palavras se encontra o verdadeiro saber acerca das coisas.
A tal realismo lingstico alude o aforismo 11 de Humano, demasiado humano, A linguagem como pretensa cincia.
II
Como previsvel, essas afirmaes de Nietzsche, anteriores ao
Wittgenstein do Tractatus e s hipteses de Sapir-Whorf, suscitaram questes que agora um pensamento sincero no pode evitar.
Uma das formas de pensamento de nosso tempo que as aceitou
no sei se em todos os casos de modo consciente a atual
hermenutica, que parte da afirmao de que a realidade interpretada lingisticamente.
94 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
Meu propsito aqui levantar uma questo. Deix-la aberta. A
questo da interpretao e de sua arbitrariedade ou no. , toda
interpretao, uma interpretao arbitrria? Essa pergunta conectase evidentemente com questes que aqui no possvel abordar:
possvel distinguir o relato de fico do relato histrico? possvel,
se tudo interpretao, conjurar o perigo de estarmos condenados
ao arbitrrio? Assistiu-se, parece-me, a uma espcie de inflao
do conceito de interpretao na linha da arbitrariedade.
A palavra interpretao como noo relacional no conhecimento foi impondo-se em substituio a essas famlias de palavras tais como adequao, concordncia, convenincia, ortots, prprias do conceito clssico de verdade. Gadamer afirmou, em um
trabalho de seus Kleine Schriften, que com Nietzsche havia comeado a carreira triunfal da palavra interpretao. Eu queria centrarme em um aforismo pstumo que tem, em meu modo de ver, especial relevncia3. Mas antes queria fazer uma observao, que me foi
sugerida por uma extensa resenha de um livro de Figl, Interpretation
als philosophische Prinzip. Friedrich Nietzsches als universale Theorie
der Auslegung in spten Nachlass (cf. Stegmaier 17). Figl sustenta
que a radicalidade do pensamento de Nietzsche est apenas sendo
descoberta ainda; que, por exemplo, a atual hermenutica apenas
percebeu a importncia da interpretao como princpio filosfico; que Nietzsche foi muito mais radical e mais conseqente do
que Gadamer e do que o jovem Heidegger na importncia concedida ao tema da interpretao; e que Nietzsche no elaborou uma
teoria hermenutica explcita porque sua filosofia em sua totalidade foi uma reflexo sobre a interpretao como processo bsico e
entendeu a si mesma como interpretao [Auslegung].
Os mesmos conceitos j haviam sido expostos por Figl em seu
trabalho Nietzsche e a hermenutica filosfica, publicado no nmero 10-11 de Nietzsche-Studien:
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 95
Prebisch, L. P.
[...] os grandes tericos da hermenutica praticamente no levaram
em conta nem acolheram as reflexes mais importantes de Nietzsche na
direo de uma teoria da interpretao (Figl 4).
Figl, no entanto, destaca Ricoeur, que, j em seu ensaio sobre
Freud e em O conflito das interpretaes, reconhece o fato de que
com Nietzsche toda a filosofia chegou a ser interpretao4.
Aps esse breve excurso, volto ao aforismo, sem pretender, em
princpio, participar da discusso minuciosa sobre a interpretao
em geral. Recordo qual meu propsito: no mencionado aforismo,
temendo que sua crtica metafsica tradicional pudesse ser confundida com a atitude antimetafsica do positivismo ao estilo de
Comte, Nietzsche quer deixar claro que uma diferena radical o
separa daquele. Trata-se do aforismo que inclui uma frase que, isolada do contexto, alcanou grande repercusso em nossos dias, no
somente no campo dos debates filosficos. o seguinte:
Contra o positivismo, que permanece no fenmeno h somente fatos, eu diria: no, precisamente fatos no h, somente interpretaes
[Interpretationen]. No podemos comprovar nenhum factum em si: talvez seja um disparate querer algo semelhante. Tudo subjetivo, dizeis
vs: mas isso j uma interpretao [Auslegung]; o sujeito no algo
dado, mas algo fictcio, incorporado, posto sub-repticiamente por detrs.
Mas, por acaso, necessrio colocar o intrprete por detrs da interpretao? Isso j poesia [Dichtung], hiptese.
medida que, em geral, a palavra conhecimento adquire um sentido, o mundo cognoscvel; porm interpretvel [deutbar] de distintas
maneiras, no tem um sentido por detrs de si mas inmeros sentidos.
Perspectivismo.
Nossas necessidades so o que interpreta o mundo; nossas necessidades e seus prs e contras. Cada impulso uma espcie de af de dom-
96 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
nio, cada um tem sua perspectiva, aquela que ele desejaria impor como
norma aos impulsos restantes (KSA XII, 7 [60]).
Como esse aforismo contm uma expresso que, arrancada do
contexto, alcanou grande prestgio em nossos dias, convm fazer
um breve exame do texto completo5.
Em primeiro lugar, o aforismo tem um destinatrio expresso: o
positivismo, o positivismo da segunda metade do XIX. Esse ope os
fatos s veleidades metafsicas e, com isso, d prioridade a uma
realidade objetiva que seria verdade sem o homem; confia nos fatos, perceptveis aos sentidos, sentidos que proporcionariam a verdadeira realidade frente, por exemplo, iluso e que permitiriam
um conhecimento objetivo.
Ante essa convico, o aforismo diz: fatos, precisamente no,
somente interpretaes. Esta uma das passagens em que faz sua
entrada triunfal a palavra interpretao. Esta uma palavra que
expressou originalmente a relao mediadora de uma pessoa junto
a duas outras que falavam lnguas distintas; portanto, funo de tradutor. Depois foi aplicada decifrao de textos intrincados, difceis. E quando, em nosso tempo, a linguagem mostra sua condio
de mediao predeterminante, a palavra interpretao ocupa na filosofia uma posio central. o que ocorre em Nietzsche.
A carreira triunfal dessa palavra comeou com Nietzsche
diz Gadamer e passou a ser de certo modo um desafio a qualquer tipo de positivismo.
Fao a advertncia de que esse fragmento pstumo no de
modo algum o nico em que aparece, nessa situao, a palavra interpretao. A escolha deu-se pela frase que contm, a qual, como
disse, alcanou uma difuso inusitada. E tambm porque nele se
utilizam trs palavras sinnimas: Auslegung, Deutung, Interpretation.
E, se no h objetividade no sentido de captao dos fatos,
deve-se deduzir que tudo subjetivo? Que, se no objetivo, re-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 97
Prebisch, L. P.
lativo a um sujeito? Que interpretao , portanto, sinnimo de algo
meramente subjetivo, e este, de arbitrrio? Ou seja, algo relativo a
nosso modo caprichoso e particular de sentir e de pensar e no algo
relativo ao objeto mesmo?
Nietzsche quer eliminar tambm de modo radical essa maneira
de concluir. Isso indubitvel se lemos o texto do aforismo a partir
da ptica de uma grande quantidade de fragmentos, sobretudo pstumos, acerca da realidade e do conceito de sujeito, o nome moderno da sustncia. O que sujeito? Sujeito ou eu, dentro da tradio
moderna cartesiana, , para Nietzsche, precisamente um no-sujeito, ou seja, uma no-sustncia. O sujeito dito antes de Wittgenstein
e com ressonncias de Hume uma fico (cf. Rojo 16). Fico construda por necessidades da vida que, seguindo um movimento geral do pensar ou do conhecer, imobiliza o mutvel e simplifica o mltiplo. O eu-sujeito seria, no que concerne a nossa vida
interior, resultado desse movimento duplo e simultneo, que d lugar a uma interpretao inconsciente. Por outro lado, esse eu estvel e uno responde a um esquema lingstico gramatical, j assinalado por Plato em O sofista, que consiste em atribuir a uma ao
um agente. A nica descoberta de Descartes teria sido, portanto, a
ao de pensar; o hbito gramatical o teria levado sub-repticiamente
a atribuir a tal ao um agente: o eu, como entidade substancial.
No h fatos, mas somente interpretaes. Se no h eu ou sujeito, quem o intrprete? Porm, esse modo perplexo de perguntar no implica j o mencionado esquema-hbito gramatical em ns?
E aqui tocamos em um ponto crucial. A expresso fatos precisamente no h, somente interpretaes, foi entendida espontaneamente da seguinte maneira: no h fatos, h somente interpretaes, tudo relativo atividade arbitrria de um sujeito. E posso
dizer que esse modo de ver, como muitos outros procedentes da
filosofia, excedeu o limite da filosofia acadmica. Tenho observado
que uma das inquietaes que se esto desenhando como prprias
98 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
do pensamento atual a de conjurar o engano do arbitrrio6. E no
somente por um interesse terico, mas atendendo s possibilidades
de convivncia e de entendimento (e at de sobrevivncia) em um
mundo globalizado.
Mas voltemos ao aforismo. Permanece em p a questo. Se no
um sujeito, o eu humano o que interpreta, qual o poder
interpretante?
O mundo cognoscvel. Mas essa afirmao deve ser manipulada com pinas. cognoscvel se entendemos conhecimento como
interpretao. E interpretao porque o conhecimento uma fora da vida destinada basicamente a nos manter nela. um aparato
de simplificao e de estabilizao do mltiplo e do varivel. E h
inmeras maneiras de interpretar, que respondem perspectiva em
que se acha cada ser vivo e, em especial, o ser vivo humano cuja
caracterstica possuir mltiplos impulsos, e estes carentes de uma
hierarquizao dada pela natureza. No imprescindvel para que
isso ocorra para interpretar contar com a atividade consciente.
Nossas necessidades vitais (Bedrfnisse) so o que interpreta o
mundo. J sabemos que as duas necessidades vitais ou impulsos
fundamentais da vida so as de conservao e de crescimento. Entre o a conhecer e o conhecido, interpem-se essas necessidades
vitais, que desconhecem, em princpio, a arbitrariedade da autoconscincia. Isso tem uma fundamental importncia, pois atenua o
alcance da arbitrariedade.
Ao vincular-se interpretao s necessidades vitais, a palavra
interpretao deixa de ser como a compreenso em Ser e tempo
um modo contingente da atividade humana. O homem no mundo interpretando7.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 99
Prebisch, L. P.
III
Mas nesse labor de interpretao, entre uma realidade e nosso
conhecimento dela, destaca-se a linguagem, esse eficacssimo instrumento para unificar e estabilizar o caos de nossas experincias
do vir-a-ser.
Quando a linguagem se explicita como tal, aparece como a mediao primria para o acesso ao mundo. [...] O mito da autocerteza, que
em sua forma apodtica passou a ser a origem e a justificao de toda
validade, e o ideal de fundamentao ltima que o apriorismo e o
empirismo disputam perdem sua credibilidade ante a prioridade e o
iniludvel do sistema de linguagem que articula toda conscincia e todo
saber. Nietzsche ensinou-nos a duvidar da fundamentao da verdade
na autocerteza da prpria conscincia. [...] O mundo intermedirio da
linguagem aparece frente s iluses da autoconscincia e frente ingenuidade de um conceito positivista dos fatos como a verdadeira dimenso da realidade. (Gadamer 6, v. II, p. 327).
E a hermenutica de Gadamer insistiu permanentemente no fato
de que vivemos em um mundo interpretado, interpretado
lingisticamente. Nisso coincidiu com Nietzsche. Mas convm recordar que nesse ltimo a palavra interpretao tem uma extenso
desconhecida na hermenutica de um Gadamer, por exemplo.
Nietzsche descobre a interpretao at mesmo no processo
configurador do orgnico. Um aforismo pstumo, que na edio de
Vontade de potncia leva o nmero 643, tem como ttulo A vontade de potncia interpreta, e nele se afirma Em verdade a interpretao ela prpria um meio para chegar a assenhorear-se de
algo. (O processo orgnico supe um contnuo interpretar). Ou seja,
a expresso interpretao alcana uma extenso similar quela de
pensar. Recordo aqui aquele aforismo em que se faz retroceder o
100 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
pensar, enquanto poder que impe formas, at ao processo de constituio geomtrica dos cristais.
Penso que a equiparao interpretao = arbitrariedade comea a desvirtuar-se ou a perder sua aparente simplicidade inicial
ao se ter em conta a noo de uma atividade interpretante pr-consciente, pr-lingstica, atividade fruto da necessidade vital, dos poderes mediadores, transcendentes no fundamental ao capricho e ao
arbtrio humano individual.
Se dessa noo to ampla de interpretao ficamos com uma de
suas formas, a consciente, ou seja, passamos a uma noo mais estreita, lingstica, e dentro desta, mais estreitamente ainda, interpretao como labor de um fillogo ante um texto escrito fixado,
advertimos que essa ltima, a do fillogo, erige-se no modelo de
interpretao em seu mais amplo alcance.
IV
Creio que vale a pena nos determos um pouco em nosso intento
de conjurar a indistino entre interpretao e arbitrariedade.
Nietzsche prevenia-nos contra modos de conceber o mundo, todos
antropomrficos. O to conhecido pargrafo 109 de A gaia cincia
previne-nos, at com crueldade, acerca de tais modos de compreend-lo: como um cosmos, como um organismo, como um mecanismo, como um conjunto regido por leis fixas.
Guardemo-nos! Guardemo-nos de pensar que o mundo seja um ser
vivo. At onde se estenderia? De onde se alimentaria? Como poderia
crescer e aumentar? Sabemos aproximadamente o que o orgnico: e
poderamos, assim sendo, tomar esse fenmeno meramente derivado,
tardio, raro, casual, que somente percebemos na crosta da Terra, como o
essencial, o universal, o eterno, como fazem aqueles que denominam o
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 101
Prebisch, L. P.
todo um organismo? Isso me desagrada. Guardemo-nos de crer que o
todo seja uma mquina; ele seguramente no foi construdo em vista de
um fim, ao empregar a palavra mquina prestamos-lhe uma
grandssima honra. Guardemo-nos de supor como algo geral e universal
os formalmente perfeitos movimentos cclicos de nossas estrelas prximas;
um olhar Via Lctea faz surgir a dvida de se ali no haveria muitos
movimentos mais grosseiros e contraditrios, estrelas com trajetrias
retilneas e algo semelhante. A ordem astral em que vivemos uma
exceo; essa ordem, assim como a considervel durao por ela condicionada, possibilitaram, por sua vez, a exceo das excees: a formao do orgnico. O carter total do mundo , pelo contrrio, eternamente caos, no no sentido da falta de necessidade, mas no sentido da falta
de ordem, articulao, forma, beleza, sabedoria, ou como queira que se
chamem nossos modos humanos de configur-lo ao perceb-lo. [...] Mas
como poderamos censurar ou elogiar o todo! Guardemo-nos de atribuirlhe falta de corao ou de razo ou seus opostos: ele no nem perfeito,
nem belo, nem nobre. Nem quer ser nada disso, nem tende a imitar o
homem. Nenhum de nossos juzos estticos ou morais tem a ver com ele!
Carece, outrossim, de instinto de autoconservao e em geral de todo
instinto; tampouco conhece lei alguma. Guardemo-nos de dizer que h
leis na natureza. H somente necessidades: ningum que mande, ningum que obedea, ningum que infrinja. Se sabeis que no h finalidade alguma, sabereis que tampouco h acaso; pois somente em relao
a um mundo de fins pode ter sentido a palavra acaso [...].
No entanto, o mundo no to catico, como assinala Nietzsche:
recorde-se de passagem que o caos, em sua concepo, no a
ausncia total de necessidade, mas de traos antropomrficos.
O mundo no nem cosmos de beleza e de harmonia, nem um
todo submetido a uma legalidade racional, nem um organismo, nem
um mecanismo. Ante tais atribuies de sentido ao mundo, Nietzsche
nos alerta com pontos de exclamao. Pergunto-me, porm, no
102 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
teramos tambm que nos precavermos de conceber o mundo como
... texto?
Texto urdido e tecido pela linguagem? Fixado e classificado pelas
designaes e pelos conceitos? (cf. WL/VM) Texto articulado e
estruturado dinamicamente pela sintaxe e pela gramtica? Permitome recordar novamente dois tipos de escritos de Nietzsche chaves
nesta questo: o pstumo de 1873 e alguns aforismos da dcada de
80, nos quais se pe manifesta uma ordem no mundo estabelecida
pela linguagem, conquanto tal ordem receba uma valorao negativa como uma coao do pensamento. Evidentemente, entre isso e o
mundo como todo lingisticamente interpretado de Gadamer, no
h substancial distncia8.
Se for assim, parece reaparecer aqui, em uma nova verso, uma
velha e venervel idia: a do livro da natureza ou do mundo.
certo que explcita e precisamente no a achamos em Nietzsche nem
em Gadamer. Mas, o que significa dizer que o mundo est articulado lingisticamente?
Que a idia do mundo-livro uma idia velha e venervel, podese apreciar j em Santo Agostinho. Nele teria origem a teoria dos
dois livros: a Escritura Sagrada e o livro da natureza; o autor de
ambos seria Deus. Essa idia reaparece com freqncia na tradio
agostiniana da Idade Mdia com um sentido eminentemente teolgico. Esse sentido teolgico do livro da natureza experimenta, no
comeo da Idade Moderna, uma mudana importante. Se bem que
no perca de todo o carter teolgico, um outro carter mais acentuado, posteriormente chamado cientfico-natural. Desse modo, por
exemplo, Bacon; e Galileu, que vai em direo dos averrostas em
defesa de uma origem nica dos dois livros, da palavra de Deus, a
fim de neutralizar a doutrina da exciso entre f e saber. Tambm
para Galileu o livro da natureza ou do mundo foi escrito por Deus,
porm em linguagem matemtica. No prprio Discurso do mtodo,
acha-se claramente a idia, quando Descartes, no momento em que
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 103
Prebisch, L. P.
quer desprender-se do ensinamento de seus preceptores, decide no
buscar outra verdade que aquela que pode achar em si mesmo e no
grande livro do mundo (cf. Nobis 11). A idia desse livro do
mundo vai-se debilitando ao longo da Idade Moderna.
O sentido da idia renascida no meu modo de ver em
Nietzsche e na hermenutica no o teolgico, como em Santo Agostinho e nos agostinianos medievais, nem cientfico-natural ainda
que sem perder totalmente seu ingrediente teolgico , como em
Descartes e Galileu. Com que sentido se que resulta em algo
sustentvel o que digo apresentar-se-ia em um Nietzsche e em
um Gadamer a velha idia do livro do mundo? Em um sentido histrico-cultural. Livro, ou melhor, texto, escrito pelas experincias
dos homens no decorrer do tempo, no mais pelo dedo de Deus
(Hugo de Saint Victor), nem em linguagem matemtica, mas pelas
experincias histrico-culturais, em uma linguagem basicamente
comum. Sobre a qual, eventualmente, a cincia e a filosofia podem
pr tambm, certamente, sua quota com seus termos especiais.
Assim como arrisquei a idia de que a interpretao no igual
arbitrariedade, pelo fato de ser a interpretao relacionada com
necessidades vitais, agora me arrisco a dizer que essa idia do
mundo-texto, surgida de uma experincia filolgica, mostra-nos outras limitaes dessa equao inquietante.
O que o texto? O texto um momento dentro de um processo
de compreenso, que exige a interpretao. algo ininteligvel fora
de um processo de compreenso e recriao interpretativa.
Tragamos comparao nossa experincia de professores com
o que se chama texto. Texto aquilo a que nos remetemos como
ponto de referncia para glosas, comentrios, explicaes, etc. A
um estudante que comea a se desviar na exposio de um tema,
pede-se que se remeta ou que se limite ao texto. De Plato, de Aristteles, etc. O que significa isso? Acaso no significa que o texto se
faz, s vezes, ponto de referncia obrigatrio para a interpretao?
104 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
Que, como o demnio socrtico, mais o que evita dizer do que o
que incita a dizer? Que, como o demnio socrtico, alerta-nos silenciosamente quando nossa interpretao se desvia?
Alm disso, no algo dado e que se sustenta por si mesmo.
produto humano e seu ser prprio de texto requer a interpretao.
No existe, enquanto texto, fora de um processo de compreenso e
de recriao interpretativa. Foi feito para isso. O elo mais elementar de tal processo a leitura. ininteligvel sem o processo de interpretao. Ou de interpretaes... de modo necessrio, como se
mostra mais claramente no texto de uma lei que supe e implica
uma jurisprudncia.
No algo dado que se valha por si mesmo; mas internamente tramado, entretecido, com coerncia interna, que ope tcita resistncia ao capricho da interpretao. A menos que se trate da interpretao deliberadamente transgressora, em geral raiz da arte.
Voltemos ao texto do mundo. Do mundo fixado, interpretado e
estruturado dinamicamente pelas designaes e pela sintaxe, quem
o autor do texto? O texto uma obra coletiva e como tal impe
regras de jogo intersubjetivas de interpretao. No somente, pois a
intersubjetividade dialgica a lgica da pergunta e da resposta,
de Gadamer, por exemplo o que impe limites arbitrariedade
e o que implica a eliminao dialtica do arbitrrio. Comea por
imp-los a trama mesma do texto.
Certamente, fatos, precisamente no, somente interpretaes... Contudo, interpretaes requeridas por um texto que, com
certeza, segue sendo gerado e que e que segue sendo o precipitado de uma decantao em um processo histrico coletivo9.
Talvez, levando a srio essa idia do mundo como texto, tambm se possa resolver a inquietante alternativa deixada em suspenso
por Nietzsche: o que interpretao? uma imposio arbitrria
de sentido ou uma descoberta de sentido? Impomos o sentido?
Ou ento o descobrimos pela probidade filolgica (Rechtschaffen-
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 105
Prebisch, L. P.
heit)? Os escritos de Nietzsche do suporte para responder em favor tanto de uma quanto de outra das maneiras de conceber a interpretao, tanto do ponto de vista auctoris quanto do ponto de vista
lectoris. Tanto a imposio de sentido a Wille zur Macht interpreta quanto o exerccio da probidade filolgica, que pretende
atravessar os estratos de interpretaes que encobrem as necessidades vitais s quais eles, a seu tempo, responderam. Porm, a probidade filolgica parece exigir uma coisa em si, fora da linguagem, como pauta da fidelidade de seu modo de proceder.
Penso, no entanto, que levar a srio a renovada idia do mundo
como texto tem uma grande vantagem frente s outras concepes
do mundo do pargrafo 109 de A gaia cincia. Entre o conhecerinterpretar e o mundo como ordem e como cosmos legal, entre o
conhecer-interpretar e o mundo como organismo, entre o conhecerinterpretar e o mundo como mecanismo, produz-se um salto entre a
interpretao e seu objeto, produz-se um salto de uma esfera a
outra. O mundo como texto, todavia, resulta ser da mesma substncia que o interpretante. Sua prpria substncia, para o homem
ao menos, interpretao.
Quero dizer que conceber o mundo como texto nos permitir,
talvez, recuperar uma condio da racionalidade10 e resgatar uma
diferena entre interpretao e arbitrariedade: tal condio da
racionalidade a natureza similar do interpretante e do interpretado ou, para usar expresses mais convencionais e inadequadas, do
cognoscvel e do conhecido.
106 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
Abstract: The equalization of interpretation and arbitrariness is usually
ascribed to Nietzsche without further comments. The aphorism that
includes the assertion facts, precisely not; only interpretation is here
examined and it is referred to other contexts to disparage, at last to a great
extent, such equalization. It is pointed out how the preeminence given by
Nietzsche and by the current hermeneutics to language as worlds
constitution allows us to think that the old image of book of the world
is reborn.
Key-words: Nietzsche interpretation text book of the world
notas
Nota do tradutor: O animal originalmente utilizado pela autora a toupeira (em espanhol, topo). Preferimos utilizar
outro animal escavador, o tatu, pois em portugus toupeira tem vrios sentidos pejorativos de ampla difuso: pessoa de olhos pequenos e piscos; pessoa estpida, muito
curta de inteligncia; entre outros. Um outro animal, a
marmota, foi preterido pelo mesmo motivo: em grande parte
do Brasil, conota pessoa feia e mal-vestida.
2
Sobre essa tripartio na atitude de Nietzsche ante a filosofia, cf. Piossek Prebisch 12.
3
Nietzsche Werke. Kritische Gesamtausgabe (KGW) VIII-1
7 [60] do fim de 1886 / primavera de 1887 (Em Wille zur
Macht, af. 481). Nota do tradutor: essa referncia corresponde, na edio Smtliche Werke. Kritische Studienausgabe.
Hrsg G. Colli und M. Montinari. Berlin/Munique: Walter
de Gruyter/DTV, 1988 (KSA), ao fragmento pstumo XII
7 [60] do fim de 1886 / primavera de 1887.
4
Poder-se-ia mencionar o livro de Granier, tese realizada
sob a orientao de Ricoeur, Nietzsche et le problme de la
1
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 107
Prebisch, L. P.
vrit, cuja proposio que a filosofia de Nietzsche deveria
ser designada filosofia do ser interpretado (cf. Granier 7).
5
Acredito que com essa afirmao desprendida do conjunto
ocorre o mesmo que em Os irmos Karamazov, quando
uma das personagens chega a esta concluso: se Deus est
morto, tudo permitido. Em nosso caso seria: se tudo
interpretao, tudo arbitrariedade.
6
o que, um tempo depois de redigir estas linhas, advirto
ser o problema de Umberto Eco, a raiz da incitao, qual
deu lugar seu livro Opera aperta, para acentuar em excesso
a intentio lectoris por sobre a intentio auctoris e em particular a intentio operis. Cf. especialmente Eco 2 e 3.
7
Mais adiante teria que fazer a distino entre interpretao
inconsciente similar retrica inconsciente que destaca
Lynch e interpretao consciente. E, por conseguinte, a
consciente de que interpretao, com tudo o que ela significa (cf. Lynch 8).
8
Muito grande, no entanto, considerando a valorao da
linguagem ou como coao do pensamento, ou como fator
de liberdade, como assinalei em Pensar y hablar (cf.
Piossek Prebish 14).
9
H uma indissolvel relao entre texto e interpretao,
que no h, por exemplo, entre organismo e interpretao
ou entre mquina e interpretao. Organismo e mquina,
que foram venerveis metforas do mundo.
10
Acerca da questo da racionalidade na hermenutica, cf.
Berti 1, um importante trabalho.
108 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Interpretao: arbitrariedade ou probidade filolgica?
referncias bibliogrficas
1. BERTI, Enrico. Cmo argumentan los hermeneutas.
In: VATTIMO, G. Hermenutica y racionalidad. Trad.
S. Perea Latorre. Santa F de Bogot, Norma, 1994.
2. ECO, Umberto. Interpretacin y sobreinterpretacin. Trad.
Juan Gabriel Lpez Guix. Cambridge, Cambridge
University Press, 1995.
3. _______. Los lmites de la interpretacin. Trad. Helena
Lozano. Barcelona, Lumen, 1992.
4. FIGL, Johann. Nietzsche und die philosophische Hermeneutik des 20. Jahrhunderts. Mit besonderer
Bercksichtigung Diltheys, Heideggers und Gadamers. In: Nietzsche Studien 10/11, Berlin, Walter de
Gruyter, 1981.
5. FOUCAULT, Michel. Les mots et les choses. Paris, Gallimard, 1966.
6. GADAMER, Hans-Georg. Verdad y mtodo. Trad. A. A.
Aparicio e R. de Agapito. Salamanca, Sgueme, 1977
e 1994. 2 v.
7. GRANIER, Jean. Le probleme de la vrit dans la philosophie de Nietzsche. Paris, Du Seuil, 1966.
8. LYNCH, Enrique. Dionisos dormido sobre un tigre. A travs de Nietzsche y su teora del lenguaje. Barcelona,
Destino, 1993.
9. NIETZSCHE, Friedrich. Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Trad. de L. Piossek Prebisch. In:
Discurso y realidad, Tucumn, vol. II, n. 2, 1987.
10. _______. Werke. Kritische Gesamtausgabe. Ed. ColliMontinari. Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1967.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 109
Prebisch, L. P.
11. NOBIS, H. M. Buch der Natur. In: RITTER, J.; GRNDER, K. (ed.) Historisches Wrterbuch der Philosophie.
Band II. Basel/Stuttgart, Schwabe & Co. AG., s.d.
12. PIOSSEK PREBISCH, Luca. Nietzsche, actualidad de
un inactual. In: Humboldt, Munique, n. 26, 1975.
13. _______. Nietzsche: lenguaje y pensamiento. In: Discurso y realidad, Tucumn,vol. II, n. 3, 1987.
14. _______. Pensar y hablar. Acerca de la transformacin de la filosofa a raz del giro lingstico. In:
CIUNT Transformaciones de nuestro tiempo. Tucumn,
Facultad de Filosofa y Letras / Universidad Nacional
de Tucumn, 1996.
15. _______. Pensar, sujeto, lenguaje y metafsica en un
pstumo del ao 85. In: CRAGNOLINI, M.; KAMINSKY, G. (Ed.) Nietzsche actual e inactual. vol. II.
Buenos Aires, Instituto de Filosofa de la UBA, 1996.
16. ROJO, Roberto. Solipsismo y lmite en el Tractatus.
In: Rojo, R. (org.) En torno al Tractatus. Tucumn,
Facultad de Filosofa y Letras de UNT, 1997.
17. STEGMAIER, W. Resenha do livro de Johann Figl,
Interpretation als philosophisches Prinzip. Friedrich
Nietzsches universale Theorie der Auslegung im sptes
Nachlass. In: Nietzsche Studien 14, Berlin, Walter
de Gruyter, 1985.
110 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
Conveno para a citao
das obras de Nietzsche
Os cadernos Nietzsche adotam a conveno proposta pela edio
Colli/Montinari das Obras Completas do filsofo. Siglas em portugus acompanham, porm, as siglas alems, no intuito de facilitar o trabalho de leitores pouco familiarizados com os textos originais.
I. Siglas dos textos publicados por Nietzsche:
I.1. Textos editados pelo prprio Nietzsche:
GT/NT Die Geburt der Tragdie (O nascimento da tragdia)
DS/Co. Ext. I Unzeitgemsse Betrachtungen. Erstes Stck: David Strauss:
Der Bekenner und der Schriftsteller (Consideraes extemporneas I:
David Strauss, o devoto e o escritor)
HL/Co. Ext. II Unzeitgemsse Betrachtungen. Zweites Stck: Vom Nutzen
und Nachteil der Historie fr das Leben (Consideraes extemporneas
II: Da utilidade e desvantagem da histria para a vida)
SE/Co. Ext. III Unzeitgemsse Betrachtungen. Drittes Stck: Schopenhauer
als Erzieher (Consideraes extemporneas III: Schopenhauer como educador)
WB/Co. Ext. IV Unzeitgemsse Betrachtungen. Viertes Stck: Richard
Wagner in Bayreuth (Consideraes extemporneas IV: Richard Wagner
em Bayreuth)
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 111
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
MAI/HHI Menschliches Allzumenschliches (vol. 1) (Humano, demasiado
humano (vol. 1))
VM/OS Menschliches Allzumenschliches (vol. 2): Vermischte Meinungen
(Humano, demasiado humano (vol. 2): Miscelnea de opinies e sentenas)
WS/AS Menschliches Allzumenschliches (vol. 2): Der Wanderer und sein
Schatten (Humano, demasiado humano (vol. 2): O andarilho e sua sombra)
M/A Morgenrte (Aurora)
IM/IM Idyllen aus Messina (Idlios de Messina)
FW/GC Die frhliche Wissenschaft (A gaia cincia)
Za/ZA Also sprach Zarathustra (Assim falava Zaratustra)
JGB/BM Jenseits von Gut und Bse (Para alm de bem e mal)
GM/GM Zur Genealogie der Moral (Genealogia da moral)
WA/CW Der Fall Wagner (O caso Wagner)
GD/CI Gtzen-Dmmerung (Crepsculo dos dolos)
NW/NW Nietzsche contra Wagner
I.2. Textos preparados por Nietzsche para edio:
AC/AC Der Antichrist (O anticristo)
EH/EH Ecce homo
DD/DD Dionysos-Dithyramben (Ditirambos de Dioniso)
II. Siglas dos escritos inditos inacabados:
GMD/DM Das griechische Musikdrama (O drama musical grego)
ST/ST Socrates und die Tragdie (Scrates e a tragdia)
DW/VD Die dionysische Weltanschauung (A viso dionisaca do mundo)
GG/NP Die Geburt des tragischen Gedankens (O nascimento do pensamento trgico)
BA/EE ber die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Sobre o futuro de
nossos estabelecimentos de ensino)
112 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
CV/CP Fnf Vorreden zu fnf ungeschriebenen Bchern (Cinco prefcios
a cinco livros no escritos)
PHG/FT Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen (A filosofia
na poca trgica dos gregos)
WL/VM ber Wahrheit und Lge im aussermoralischen Sinne (Sobre verdade e mentira no sentido extramoral)
Edies:
Salvo indicao contrria, as edies utilizadas sero as organizadas
por Giorgio Colli e Mazzino Montinari: Smtliche Werke. Kritische Studienausgabe em 15 volumes, Berlim/Munique, Walter de Gruyter & Co./
DTV, 1980 e Smtliche Briefe. Kritische Studienausgabe em 8 volumes,
Berlim/Munique, Walter de Gruyter & Co./DTV, 1986.
Forma de citao:
Para os textos publicados por Nietzsche, o algarismo arbico indicar
o aforismo; no caso de GM/GM, o algarismo romano anterior ao arbico
remeter parte do livro; no caso de Za/ZA, o algarismo romano remeter parte do livro e a ele se seguir o ttulo do discurso; no caso de GD/
CI e de EH/EH, o algarismo arbico, que se seguir ao ttulo do captulo,
indicar o aforismo.
Para os escritos inditos inacabados, o algarismo arbico ou romano,
conforme o caso, indicar a parte do texto.
Para os fragmentos pstumos, o algarismo romano indicar o volume
e os arbicos que a ele se seguem, o fragmento pstumo.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 113
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
114 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
Contents
The challenges of
Philosophy of Interpretation
Clademir Lus Araldi
Truth and Interpretation
15
Marxists mistakes
33
Our virtues.
Remarks on a future morality
53
Nietzsche on interpretation:
instinctual perpectives
71
Interpretation: arbitrariness
or philological probity?
91
Gnter Abel
Mazzino Montinari
Antonio Edmilson Paschoal
Vnia Dutra de Azeredo
Luca Piossek Prebisch
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 115
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
116 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
INSTRUES PARA OS AUTORES
1. Os trabalhos enviados para
publicao devem ser inditos,
conter no mximo 55.000
caracteres (incluindo espaos) e
obedecer s normas tcnicas da
ABNT (NB 61 e NB 65) adaptadas para textos filosficos.
2. Os artigos devem ser acompanhados de resumo de at 100
palavras, em portugus e ingls
(abstract), palavras-chave em
portugus e ingls e referncias
bibliogrficas, de que devem
constar apenas as obras citadas.
Os ttulos dessas obras devem
ser ordenados alfabeticamente
pelo sobrenome do autor e
numerados em ordem crescente, obedecendo s normas
de referncia bibliogrfica da
ABNT (NBR 6023).
3. Reserva-se o direito de aceitar,
recusar ou reapresentar o original ao autor com sugestes de
mudanas. Os relatores de parecer permanecero em sigilo.
S sero considerados para apreciao os artigos que seguirem
a conveno da citao das obras
de Nietzsche aqui adotada.
NOTES TO CONTRIBUTORS
1. Articles are considered on the
assumption that they have not
been published wholly or in part
else-where. Contributions
should not normally exceed
55.000 characters (including
spaces).
2. A summary abstract of up to 100
words should be attached to the
article. A bibliographical list of
cited references beginning with
the authors last name, initials,
followed by the year of publication in parentheses, should be
headed References and placed
on a separate sheet in alphabetical order.
3. All articles will be strictly refereed, but only those with strictily
followed the convention rules
here adopted for the Nietzsches
works.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 117
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
Os cadernos Nietzsche visam a constituir um forum de debates em
torno das mltiplas questes colocadas acerca e a partir da reflexo
nietzschiana.
Nos cem anos que nos separam do momento em que o filsofo interrompeu a produo intelectual, as mais variadas imagens colaram-se
sua figura, as leituras mais diversas juntaram-se ao seu legado. Conhecido sobretudo por filosofar a golpes de martelo, desafiar normas e destruir
dolos, Nietzsche, um dos pensadores mais controvertidos de nosso tempo, deixou uma obra polmica que continua no centro da discusso filosfica. Da, a oportunidade destes cadernos.
Espao aberto para o confronto de interpretaes, os cadernos
Nietzsche pretendem veicular artigos que se dedicam a explorar as idias do filsofo ou desvendar a trama dos seus conceitos, escritos que se
consagram influncia por ele exercida ou repercusso de sua obra,
estudos que comparam o tratamento por ele dado a alguns temas com os
de outros autores, textos que se detm na anlise de problemas especficos ou no exame de questes precisas, trabalhos que se empenham em
avaliar enquanto um todo a atualidade do pensamento nietzschiano.
Ligados ao GEN Grupo de Estudos Nietzsche, que atua junto
ao Departamento de Filosofia da USP, os cadernos Nietzsche contam
difundir ensaios de especialistas brasileiros e tradues de trabalhos de
autores estrangeiros, artigos de pesquisadores experientes e textos de doutorandos e mestrandos ou mesmo graduandos.
Publicao que se dispe a acolher abordagens plurais, os cadernos
Nietzsche querem levar a srio este filsofo to singular.
118 |
cadernos Nietzsche 12, 2002
Conveno para a citao das obras de Nietzsche
Founded in 1996, cadernos Nietzsche is published twice yearly every May and September. Its purpose is to provide a much needed forum in a professional Brazilian context for contemporay readings of
Nietzsche. In particular, the journal is actively committed to publishing
translations of contemporary European and American scholarship, original articles of Brazilian researchers, and contributions of postgraduated
students on Nietzsches philosophy.
Cadernos Nietzsche is edited by Scarlett Marton with an internationally recognized board of editorial advisors. Fully refereed, the journal
has already made its mark as a forum for innovative work by both new
and established scholars. Contributors to the journal have included
Wolfgang Mller-Lauter, Jrg Salaquarda, Mazzino Montinari, Michel
Haar, and Richard Rorty.
Attached to GEN Grupo de Estudos Nietzsche, which takes place
at the Department of Philosophy of the University of So Paulo, cadernos
Nietzsche aims at the highest analytical level of interpretation. It has a
current circulation of about 1000 copies and is actively engaged in expanding its base, especially to university libraries. And it has been sent
free of charge to the Brazilian departments of philosophy, foreigner libraries
and research instituts, in order to promote the discussion on philosophical
subjects and particularly on Nietzsches thought.
cadernos Nietzsche 12, 2002
| 119
Você também pode gostar
- Memória Sem Limites - Kevin HolderDocumento134 páginasMemória Sem Limites - Kevin HolderRick Correia100% (2)
- 10 Passos para Tirar Sua Vida Do Escuro PDFDocumento32 páginas10 Passos para Tirar Sua Vida Do Escuro PDFJoshua PhillipsAinda não há avaliações
- Listas de Verbos em InglêsDocumento10 páginasListas de Verbos em InglêsSuzy BrancalhãoAinda não há avaliações
- Apostila de Supervisão e Orientação EscolarDocumento85 páginasApostila de Supervisão e Orientação EscolarAna Paula Brito83% (6)
- Fichamento de Gesto InacabadoDocumento19 páginasFichamento de Gesto InacabadoThais UedaAinda não há avaliações
- Recursos ExpressivosDocumento6 páginasRecursos ExpressivosSaul RoloAinda não há avaliações
- Aplicação de Baralho Na Clínica Infantil - ESTÁGIO E2ADocumento10 páginasAplicação de Baralho Na Clínica Infantil - ESTÁGIO E2ABeatriz AlmeidaAinda não há avaliações
- Primeiros Passos Rumo À Psicanálise - Renato Dias MartinoDocumento106 páginasPrimeiros Passos Rumo À Psicanálise - Renato Dias MartinoRenata Tirolla100% (2)
- Projeto Estágio - Romero BritoDocumento7 páginasProjeto Estágio - Romero BritoMiguel SanchesAinda não há avaliações
- O Desmonte Do Estado e A Pandemia Agravam Drama Dos TrabalhadoresDocumento28 páginasO Desmonte Do Estado e A Pandemia Agravam Drama Dos Trabalhadoresrsantos_674856Ainda não há avaliações
- O Colapso Da Democracia No BrasilDocumento3 páginasO Colapso Da Democracia No Brasilrsantos_674856Ainda não há avaliações
- Coletânea de Textos Sobre A Maioridade PenalDocumento2 páginasColetânea de Textos Sobre A Maioridade Penalrsantos_674856Ainda não há avaliações
- Programação Anpof 2018Documento158 páginasProgramação Anpof 2018rsantos_674856Ainda não há avaliações
- Três Narrações Reais e EngraçadasDocumento3 páginasTrês Narrações Reais e Engraçadasrsantos_674856Ainda não há avaliações
- Exercícios de Interpretação de TextosDocumento2 páginasExercícios de Interpretação de Textosrsantos_674856Ainda não há avaliações
- Brasileiros Têm de Entender Que Estudar Não É ChatoDocumento1 páginaBrasileiros Têm de Entender Que Estudar Não É Chatorsantos_674856Ainda não há avaliações
- Como Fazer Uma Boa DissertaçãoDocumento2 páginasComo Fazer Uma Boa Dissertaçãorsantos_674856Ainda não há avaliações
- Resumo - Figuras de LinguagemDocumento2 páginasResumo - Figuras de LinguagemHenrique MalloneAinda não há avaliações
- Cap 16Documento21 páginasCap 16emersonrodrigues2008Ainda não há avaliações
- Psicologia GeralDocumento16 páginasPsicologia GeralAbilio José EveraldoAinda não há avaliações
- Critérios para Avaliar em ArteDocumento3 páginasCritérios para Avaliar em ArteThiago Rodrigues NascimentoAinda não há avaliações
- Kant - Sobre A Expressão - Isto Pode Ser Correto Na Teoria Mas Nada Vale Na PráticaDocumento49 páginasKant - Sobre A Expressão - Isto Pode Ser Correto Na Teoria Mas Nada Vale Na PráticaLuan OliveiraAinda não há avaliações
- Revisão Teórica Sobre A Educação de Adultos para Uma Aproximação Com A AndragogiaDocumento12 páginasRevisão Teórica Sobre A Educação de Adultos para Uma Aproximação Com A AndragogiaLuciano MedradoAinda não há avaliações
- Prova de MatematicaDocumento7 páginasProva de MatematicaNilton Pereira dos SantosAinda não há avaliações
- Encontro 19 - Introdução À Administração - Processo Administrativo Planejamento, Organização, Direção e ControleDocumento24 páginasEncontro 19 - Introdução À Administração - Processo Administrativo Planejamento, Organização, Direção e ControleCarlos GSWAinda não há avaliações
- Transtorno de Personalidade Histrionico Adriana Peixoto Justi IBH Julho 2014Documento34 páginasTranstorno de Personalidade Histrionico Adriana Peixoto Justi IBH Julho 2014Monica GomesAinda não há avaliações
- Antropologia Visual Na Prática PDFDocumento307 páginasAntropologia Visual Na Prática PDFYeshua MarmansAinda não há avaliações
- Big Data Mach Lear Recup Inf Luis Albano Nusp11167417Documento33 páginasBig Data Mach Lear Recup Inf Luis Albano Nusp11167417Luís Albano da SilvaAinda não há avaliações
- Psicologia Do Esporte A Ansiedade e o Estresse Pre CompetitivoDocumento9 páginasPsicologia Do Esporte A Ansiedade e o Estresse Pre CompetitivoCaroline Silveira MoraesAinda não há avaliações
- A Importancia Do Judo Na EscolaDocumento14 páginasA Importancia Do Judo Na EscolascootscootAinda não há avaliações
- Acontecimentos de Vida Positivos, Savoring e Bem-EstarDocumento62 páginasAcontecimentos de Vida Positivos, Savoring e Bem-EstarAllan Gonçalves AraujoAinda não há avaliações
- Bachelard Filosofia Das CiênciasDocumento13 páginasBachelard Filosofia Das CiênciasRejane OliveiraAinda não há avaliações
- Procedimentos Técnicos de TraduçãoDocumento86 páginasProcedimentos Técnicos de TraduçãoShirlei Almeida100% (1)
- 75 Anos UFBA Congresso VirtualDocumento56 páginas75 Anos UFBA Congresso VirtualFernanda MeloAinda não há avaliações
- João PaisanaDocumento8 páginasJoão PaisanaTayrone Barbosa Justino AlvesAinda não há avaliações
- TEMOS PRONTO - (32 98482-3236) - Projeto Interdisciplinar Que Viabilize A Realização de Uma Semana Cultural - PedagogiaDocumento8 páginasTEMOS PRONTO - (32 98482-3236) - Projeto Interdisciplinar Que Viabilize A Realização de Uma Semana Cultural - Pedagogiasportfolios 123100% (2)
- Nicola Stefano GalganoDocumento180 páginasNicola Stefano GalganogubanuleAinda não há avaliações
- Formas de Organização Do Trabalho de Alfabetização e LetramentoDocumento12 páginasFormas de Organização Do Trabalho de Alfabetização e LetramentoMariana MonteAinda não há avaliações