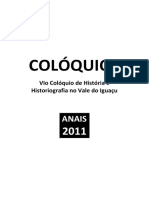Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Issn - 1808-1967
Issn - 1808-1967
Enviado por
Cris CrisTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Issn - 1808-1967
Issn - 1808-1967
Enviado por
Cris CrisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.
2010
ISSN 18081967
DE MEMORIAL NACIONAL A ESPAO DE REFLEXO SOBRE A HISTRIA
Cecilia Helena de Salles OLIVEIRA*
Resumo: O objetivo principal do artigo propor algumas reflexes sobre os espaos
expositivos do Museu Paulista da USP, problematizando a tradio comemorativa da
Independncia do Brasil que cerca a instituio bem como a noo banalizada de que
nos museus de Histria possvel visualizar o passado.
Palavras-chave:
Museu
de
Histria;
Museu
Paulista
da
USP;
memria;
comemoraes nacionais.
FROM A NATIONAL MEMORIAL TO A SPACE FOR HISTORICAL REFLECTION
Abstract: The main purpose of this article is to offer some historical remarks on the
exhibition areas of the Paulista Museum of the University of So Paulo. Attempts will
be made to raise questions concerning the traditional ways of celebrating Brazils
independence and to discuss interpretations that vulgarize the historical museum as a
space where it is possible to visualize the past.
Keywords: history museum; Paulista Museum of USP; memory; national celebrations.
1. Museu Paulista: referncia urbana e memorial nacional
Em 1902, a memorialista britnica Marie Robinson Wright registrou em seu
dirio:
...O principal ponto de atrao de todos os visitantes da cidade
[So Paulo] o Ipiranga, o magnfico monumento erigido em 1885
no lugar onde foi proclamada a Independncia do Brasil em 1822.
a mais bela realizao da arquitetura brasileira, planejada no s
para comemorar esse glorioso evento mas tambm para servir
como instituio de conhecimentos. O Museu do Ipiranga possui
*
Prof. Dr. Ceclia Helena Lorenzini de Salles Oliveira. Diretora do Museu Paulista da
Universidade de So Paulo. Parque da Independncia s/n Ipiranga. CEP 04263-000 - So
Paulo/Brasil. E-mail: dirmp@usp.br
Cecilia Helena de Salles Oliveira
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
tesouros de grande interesse histrico e cientfico; valiosas e
curiosas relquias e tambm algumas das melhores pinturas de
1
artistas brasileiros... .
Imagem 1 - Vista do Parque da Independncia e da fachada do edifcio-monumento em que se
localiza o Museu Paulista da Universidade de So Paulo. Foto Hlio Nobre e Jos Rosael.
Acervo do Museu Paulista/USP.
A despeito do tempo transcorrido, essas impresses conservam ainda grande
atualidade pois, alm de referencial fsico e simblico do traado urbano paulistano, o
Museu Paulista um dos mais freqentados do Brasil, ocupando lugar cativo nos
mapas, guias e demais publicaes de divulgao voltados para a descrio histrica
e turstica de So Paulo.
As relaes que, desde os fins do sculo XIX, estabeleceram-se entre a
memria da Independncia, o Museu e a cidade foram retratados no s por essa
cronista, mas pela imprensa local e por outros memorialistas do perodo que
buscavam, em momento de visvel transformao econmica e social, demarcar as
singularidades do crescimento material de So Paulo2. Entretanto, os depoimentos
mais precisos e evidentes desses vnculos esto, sobretudo nos Relatrios de cunho
institucional apresentados ao governo do Estado de So Paulo por Hermann Von
Ihering, primeiro diretor do Museu Paulista, entre 1894 e 1916, e por Affonso d
Escragnolle Taunay, que o sucedeu3.
Memorial Nacional
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
Ihering e Taunay no compartilhavam a mesma perspectiva museolgica. As
divergncias que os distanciavam estavam pautadas, por um lado, nas conjunturas
polticas que nortearam suas respectivas gestes. Ihering assumiu os encargos de
criar a infra-estrutura e dar vida instituio, simultaneamente organizao do
regime republicano, enquanto Afonso Taunay assumiu a direo em 1917,
praticamente s vsperas das festividades do centenrio da Independncia, marcadas
para 1922. Nessa ocasio, os conflitos entre monarquistas e republicanos de vrios
matizes tinham arrefecido, abrindo espao para a construo de uma perspectiva
histrica conciliadora em relao ao passado imperial4. Por outro lado, ambos
acalentavam concepes cientficas dotadas de historicidade e centradas em reas do
saber especficas, no caso as cincias naturais e a cincia da histria. No entanto,
vale frisar, suas posies no eram excludentes como tambm no o foram os
acervos dos quais se tornaram curadores. O fato de Ihering ser zologo no fez a
instituio e seu diretor avessos aos acervos tradicionalmente vistos como histricos.
E se Taunay implementou reformulaes que comearam a modificar o perfil do
Museu e o adequaram aos princpios e procedimentos historiogrficos e estticos de
sua poca, a exemplo da decorao interna do prdio5, isso no quer dizer que tivesse
se desvencilhado do imenso acervo de histria natural que poca fazia parte da
histria nacional, exprimindo o ambiente no qual foi definido o contedo do que era
interpretado como civilizao brasileira.6
Apesar do museu projetado por Ihering inspirar-se nitidamente em congneres
de histria natural norte-americanos, e de Taunay procurar suas fontes de referncia
em museus europeus, particularmente franceses, havia entre eles um aspecto em
comum: a preocupao em relao dimenso pedaggica da instituio que
dirigiram, quer no sentido de consider-la como local destinado instruo pblica e
formao de cidados, quer como lugar propcio para a formulao de
pressupostos do saber sobre a natureza, a histria e a vida humana7.
Ambos
associaram a importncia da instituio a trs condies particulares: os servios que
prestava do ponto de vista da produo e difuso de conhecimentos cientficos; a
presena constante de visitantes ilustres, como representantes diplomticos, homens
de cincia e polticos de prestgio; e a afluncia de uma multido que, conforme suas
palavras, freqentava assiduamente as exposies.
Estimativas elaboradas por von Ihering, em 1906, indicaram que, entre 1895 e
1905, o nmero de freqentadores atingira uma mdia anual de 40 mil pessoas. A
quantidade de pblico teria se mantido nos anos subseqentes, embora o ento
Cecilia Helena de Salles Oliveira
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
diretor tivesse ressaltado que, em 1912, por ocasio das festividades dos noventa
anos da Independncia, o Museu recebera somente no dia 7 de setembro mais de 10
mil crianas8. Na mesma direo situam-se observaes feitas, tambm em 1912, pelo
memorialista britnico Archibald Stevenson Forrest:
... Aos domingos e feriados, o passeio favorito do povo italianos,
negros, portugueses, alemes, paulistas e ingleses ir de carro
da Praa da S at os jardins e o Museu do Ipiranga. A viagem
ocupa cerca de meia hora, e o percurso feito saindo-se do Largo
7 de setembro, descendo pela rua da Glria, com suas pequenas
casas uniformes, passando pelo Matadouro, e seguindo pelas
alamedas arborizadas de ambos os lados e que vo em direo
aos bairros, onde os edifcios avanam em todas as direes e os
operrios executam suas tarefas apesar de ser domingo... A
maioria dos passageiros desce para os jardins do Ipiranga,
situados em terreno de largas caladas que vai se elevando
suavemente marginado por ciprestes, canteiros de flores muito
bem tratados e todos os tipos de arbustos. O Museu erigido como
monumento para comemorar o histrico acontecimento, uma
construo imponente e bem desenhada, com belas escadas e
luxuosas galerias em uma das quais est um enorme quadro
9
ilustrando o episdio Independncia ou Morte!...
Imagem 2 - Independncia ou Morte. leo sobre tela confeccionado por Pedro Amrico de
Figueiredo e Mello, entre 1886 e 1888. Fotografia Hlio Nobre e Jos Rosael. Acervo do Museu
Paulista/USP.
Registros semelhantes foram feitos por Taunay. Em 1917, a freqncia ao
Museu, segundo seu Relatrio havia sido excepcional, superando as 50 mil pessoas
e, conforme suas estimativas, no dia 7 de setembro de 1922, mais de 20 mil pessoas
teriam percorrido as dependncias do edifcio. No ano das comemoraes do
6
Memorial Nacional
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
Centenrio, o Museu recebeu, segundo seu diretor, perto de 120 mil pessoas, nmero
extraordinrio levando-se em conta que, em funo das reformas, a instituio havia
permanecido fechada por longo tempo, sendo parte das festividades sua reabertura ao
pblico.10
Dados como os mencionados carecem, sem dvida, de comparao com
outras fontes do perodo para que se possa avaliar seu significado, bem como o que
representavam no universo da cidade. At porque outros registros sublinham que,
especialmente em 1922, a chuva criou inmeros transtornos e impedimentos aos
populares motivados em visitar o Museu para conhecer sua decorao interna, ainda
que
parcialmente
concluda11.
Mas,
tanto
Relatrios
institucionais
quanto
memorialistas, particularmente durante as primeiras dcadas da organizao do
regime republicano, assinalam os vnculos estabelecidos entre a instituio e seu
pblico bem como os slidos liames entre o saber ensinado nas escolas na poca e o
monumento-museu, entendido como marco da Proclamao da Independncia e, ao
mesmo tempo, local que teria por misso consolidar e avalizar esse saber.
Manifestaes desses liames podem ser ainda observadas cotidianamente por
intermdio da visitao de professores e alunos de ensino fundamental e mdio, mas
principalmente pela assdua freqncia espontnea de milhares de pessoas s reas
expositivas. Entre 2001 e 2003, o Museu manteve a mdia anual de 280 mil visitantes,
nmero que, entre 2004 e 2009, variou de 320 mil a 360 mil/ano. A esses indicadores
devem ser acrescidos os dados de freqncia de pblico no dia 7 de setembro,
reiterando-se ritual cvico exercido sistematicamente por segmentos do pblico
visitante, desde a inaugurao do Museu, em 7 de setembro de 1895. Assim, em
2001 e 2002 a mdia de visitantes nesse dia foi de 4.500 pessoas. Entre 2003 e 2007,
ocorreu ampliao considervel desse nmero, pois ao longo desses anos mais de 10
mil pessoas estiveram no Museu nessa data nacional. J entre 2008 e 2010, a
visitao nesse feriado manteve-se na casa das 7 mil pessoas12. Embora exigindo
estudo aprofundado, esses dados apontam que a memria da histria nacional
incrustada no Museu encontra agasalho na percepo e na sensibilidade de parcelas
da sociedade paulista e brasileira. Como interpretar tais manifestaes? O que podem
evidenciar no tocante a formas pelas quais a Histria vem sendo abordada nos
museus?
2. Museu, memria, representaes do passado
Cecilia Helena de Salles Oliveira
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
Imagem 3 - Imagem do Saguo do Museu Paulista, 7/09/2007. Foto Jos Rosael. Acervo do
Museu Paulista/USP
Esses questionamentos nos levam a reconhecer diferenciadas formas de
demanda em torno do conhecimento do passado, como apontou Beatriz Sarlo. Para a
autora, coexistem, em um mesmo momento, diferentes passados, construdos por
intermdio de registros e preocupaes de variada natureza. Assim, ao lado da
sensao de um tempo acelerado e da vertigem gerada pela rapidez com a qual
museificao e obsolescncia se alternam, atingindo nos dias atuais coisas, lugares e
pessoas, a Histria de corte acadmico convive com snteses histricas que visam a
atender o mercado de consumo cultural e tambm com reconstituies do passado,
pautadas nos trabalhos da memria13. Esses entrelaamentos entre dimenses
dspares e mesmo incongruentes do saber histrico constituem problema que diz
respeito tanto disciplina da Histria, de modo geral, quanto aos museus em
particular, instituies que, operando acervos materiais, congregam funes
cientficas, documentais, educativas e culturais14, interagindo cotidianamente com
pblicos de matizada feio que esperam, procuram ou idealizam nesses espaos
vises do passado.
Duas situaes permitem delimitar a importncia da percepo, e ao mesmo tempo
certeza, de ver o passado espelhado em exposies museolgicas. A primeira, foi
registrada por Madame de Stal, na obra Corinne ou lItalie. Em dado momento da
visita cidade de Roma, a protagonista observou:
Memorial Nacional
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
... em vo que se confia na leitura da histria para compreender
o esprito dos povos; aquilo que se v excita em ns muito mais
idias que aquilo que se l, e os objetos exteriores provocam uma
emoo forte, que confere ao estudo do passado o interesse e a
vida que se encontra na observao dos homens e dos fatos
15
contemporneos... .
Publicado pela primeira vez em 1807, o romance relaciona-se a circunstncias
e a projetos polticos e culturais, em curso aps a Revoluo Francesa, que
imbricaram a organizao das naes e dos Estados nacionais, no sculo XIX, a
configurao da disciplina da Histria e a organizao de museus, lugares destinados
a provocar no visitante a crena na realidade do passado, interpretado e
instrumentalizado poca como recurso para a justificar, entre outras situaes, a
emergncia do progresso material e moral do mundo burgus. No romance, a
viso das runas da antiga Roma, mais do que a leitura de textos eruditos, que
sustenta o entendimento dos nexos entre passado, presente e futuro, bem como o
saber sobre a Histria. Nesse sentido, cabe lembrar, retomando-se Hartog, que no
regime de historicidade moderno h no s uma ntida quebra entre passado e
presente como a Histria passa a ser compreendida como processo nico, como
narrativa do unvoco; os acontecimentos ocorrem pelo tempo e faz-se premente e
necessrio visitar o passado para antever o futuro16.
Mas a essa experincia de conhecimento detalhada por Madame de Stal
poder-se-ia acrescentar uma outra tambm proporcionada pela observao de stios
erguidos e habitados em tempos anteriores. Dela fornece registro um texto de Freud
que descreve, em 1936, a lembrana de uma situao por ele vivenciada, em 1904,
quando realizou viagem de frias a Atenas17. A viso da Acrpole e das runas gregas
era um sonho de h muito alimentado e uma das sensaes provocadas por sua
presena ali foi a de que existia mesmo tudo aquilo, da maneira como aprendramos
na escola, da maneira como os livros ensinavam e ajudavam a imaginar. Enquanto
para Corinne a fruio imediata do passado inscrito no espao de Roma que
inaugura o caminho para a imaginao e para o conhecimento, pois parece revelar-se
muito mais preciosa e contundente que qualquer livro, quase um sculo depois, o
contato sensorial com as runas de Atenas que veio comprovar o que os livros
continham, legitimando o saber conservado em suas pginas.
Ambas as experincias no se contradizem, ao contrrio se completam,
apontando por vias singulares as relaes entre viso e escrita e, sobretudo, a
importncia do olhar como mediao para o conhecimento.
Cecilia Helena de Salles Oliveira
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
No foi assim por acaso a escolha dos seguintes versos de Paul Valry como
epgrafe para o captulo dedicado aos museus includo na obra LHistoire et ses
mthodes:
Coisas raras ou coisas belas
Aqui sabiamente arrumadas
Instruindo o olho a olhar
Como jamais ainda vistas
18
Todas as coisas que esto no mundo
Alfredo Bosi chamou a ateno para o fato de que os psiclogos da percepo
so unnimes em afirmar que a maioria absoluta das informaes que o homem
moderno recebe lhe vem por imagens. O homem de hoje, comenta, um ser
predominantemente visual. Em seu estudo sobre a fenomenologia do olhar, observa
que a cultura grega, acentuadamente plstica, enlaava pelos fios da linguagem o ver
ao pensar. Eidos, forma ou figura, termo afim de idea . Em latim, com pouca
diferena de sons: vdeo (eu vejo) e idea. E os etimologistas encontram na palavra
historia (grega ou latina) o mesmo timo id, que est em eidos e em idea. A histria
uma viso-pensamento do que aconteceu. Adverte, contudo, para o equvoco de se
estabelecer uma coincidncia absoluta entre olhar e conhecer, no s porque o ser
humano dispe de outros sentidos como porque o olhar no est isolado e no se
exercita isoladamente, sem intermediaes19.
Tanto a perspectiva expressa por Corinne quanto aquela de Freud, assim
como a noo da Histria como viso-pensamento do que aconteceu, podem ser
adotadas, a meu ver, como referncias pertinentes para a compreenso dos modos
pelos quais parcelas do pblico do Museu Paulista interpretam sua visita e o papel
celebrativo desempenhado por um museu de Histria, o que implica retomar
observaes de Sarlo sobre a produo de diferentes vises e concepes de
passado pelas sociedades contemporneas.
H algum tempo tive oportunidade de entrevistar visitantes do Museu Paulista
e dos depoimentos que colhi restaram poucas constataes e muitas perguntas20. Nas
falas que registrei foi recorrente a noo de que o Museu um smbolo da cidade de
So Paulo e um lugar de referncia da Histria do Brasil, dada sua vinculao com a
data de 7 de setembro e o movimento de construo da memria da Independncia.
Mas, sua relevncia advm, igualmente, do fato de ser um espao cultural e ldico que
no somente guarda coisas e lembranas do passado como permite ver, rever e
10
Memorial Nacional
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
reviver a histria, entendida ora como processo ininterrupto e inelutvel do
transcurso do tempo, ora como conjunto de episdios e de protagonistas que
aconteceram e viveram em tempos anteriores e que, mesmo situados em um passado
nebuloso e por vezes difcil de precisar, relacionam-se com o presente.
Palavras como ver e rever, entretanto, no esto necessariamente
associadas a uma ao contemplativa ou passiva frente aquilo que possvel
observar. Tampouco aparecem como sinnimos da percepo de que no Museu o
passado possa ser vislumbrado tal como foi, a despeito de, por vezes, ocorrer essa
interpretao.
No resta dvida que o Museu aparece nos depoimentos que tive a
oportunidade de registrar como local que possibilita a visualizao do passado como
realidade
experiencial,
como
denominou
Stephen
Bann
ao
referir-se
21
empreendimentos museolgicos do sculo XIX . Ou seja, os acervos ali expostos
parecem conduzir a uma aproximao em relao a pocas que existiram antes de
ns, mas que so diferentes e distantes temporal e substancialmente. Nesse sentido,
so interpretados ora como relquias e objetos histricos cuja observao supera o
que livros e ensino escolar poderiam proporcionar em termos de conhecimento e
imaginao, ora como legitimao daquilo que no apenas os livros, mas
principalmente, os meios de comunicao divulgam e exploram especialmente por
ocasio de comemoraes cvicas, a exemplo da data da Independncia. Em ambos
os movimentos o liame entre ver e conhecer e entre viso e pensamento se manifesta,
mas por meio de complexas mediaes que exigem, para sua identificao e
entendimento, estudos sistemticos e abrangentes sobre as concepes e prticas
culturais compartilhadas pelos diferenciados segmentos de pblico que freqentam a
centenria instituio.
Contudo, as entrevistas que realizei permitem entrever, igualmente, que os
apelos polticos, historiogrficos e estticos mobilizados nos espaos do Museu
Paulista, particularmente no mbito dos marcos de sua configurao como memorial
nacional, desde os fins do sculo XIX, receberam mltiplas reelaboraes,
permanecendo em aberto tanto a compreenso daquilo que os visitantes vem, ou
julgam ver, quanto a capacidade da releitura das aparncias e dos sentidos atribudos
a objetos e imagens, pois vrias depoentes mencionaram que haviam percorrido o
Museu diversas vezes, o que mostra a atrao que exercem a instituio e as
possibilidades de visualizao do passado ali inscritas, notadamente o painel de Pedro
Cecilia Helena de Salles Oliveira
11
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
Amrico Independncia ou Morte e a decorao interna idealizada nas dcadas de
1920 e 1930.
Imagem 4 - Vista da escadaria central do edifcio do Museu Paulista, adornada com nforas de
cristal, painis e imponente escultura em bronze de D. Pedro I, confeccionada por Rodolfo
Bernardelli, c. 1926. Foto Hlio Nobre e Jos Rosael. Acervo Museu Paulista/USP.
necessrio reconhecer que os depoimentos que colhi foram obtidos sob
condies precisas e datadas, o que impede generalizaes bem como a transposio
para o momento presente daquilo que foi registrado. Evidenciam, porm, um conjunto
de questes significativas a respeito do que o Museu representa no universo de
alternativas culturais da cidade e do pas e, sobretudo, do espao que ocupa no
mbito da construo e da divulgao de saberes histricos. Apontam, tambm, a
necessidade de enfrentar interrogao fundamental para quem trabalha em um museu
de Histria: refiro-me s tenses/contradies entre os procedimentos que cercam a
produo de conhecimentos no campo da Histria contemporaneamente e os modos
pelos quais so exteriorizados em um museu.22
No se trata apenas de constatar que nos museus assim como em outras
instituies criadas com a finalidade de preservao de patrimnios, a exemplo de
bibliotecas e arquivos o acolhimento, seleo, catalogao e conservao de peas
e colees so prticas atravessadas por critrios histrica e politicamente concebidos
e, portanto, envolvem excluses e incorporaes deliberadas, recortes do imenso
arsenal que culturalmente forjado, consumido e considerado obsoleto ou
12
Memorial Nacional
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
descartvel. Trata-se de reconhecer, em especial, que os museus so espaos de
configurao de escritas sobre e da Histria cujos suportes so prioritariamente
visuais. Ou seja, ainda que conceitos possam ser veiculados nos museus pela palavra,
prevalece o recurso visualidade. Sob esse ponto, cabe sublinhar que os
depoimentos flagraram impresses fragmentadas de objetos, pinturas e detalhes, seja
das exposies existentes poca seja, particularmente, do prdio e de sua
decorao interna, tema central de minhas investigaes na ocasio.
Imagem 5 - Vista da escadaria central do Museu Paulista, destacando-se as nforas de cristal
com guas de rios brasileiros, bem como parte do saguo onde se localizam as esculturas em
mrmore de bandeirantes. Foto Hlio Nobre e Jos Rosael. Acervo do Museu Paulista/USP.
Esse aspecto contribuiu, a meu ver, para nuanar e mesmo arrefecer, do ponto
de vista do visitante, o peso da memria e dos desgnios celebrativos projetados pelo
edifcio e pelas interpretaes historiogrficas que ajudaram a configurar o conjunto
ornamental exposto no saguo, na escadaria e no Salo Nobre ou de Honra, onde se
encontram expresses emblemticas da histria paulista e brasileira, a exemplo das
impactantes esculturas em mrmore de bandeirantes. Mas, essa percepo
fragmentada ao mesmo tempo em que marca diferenas entre passado e presente
sustenta, contraditoriamente, fortes ligaes entre eles, j que os visitantes que
entrevistei foram ao Museu em busca de histria e da Histria. Se, a imediatez da
experincia do presente e das motivaes mais volteis da visita ao Museu que
Cecilia Helena de Salles Oliveira
13
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
confere sentido viso do passado ali procurada e celebrada, os depoimentos
revelam a atualizao de noes que entrelaam a exemplaridade das coisas e
pessoas de outras pocas, a utilidade do passado em relao ao presente e ao futuro,
bem como a certeza de que aquele passado, rememorado pela visitao, tornado
visvel e autenticado pelas exposies, efetivamente existiu e imutvel, ainda que
possam ser ampliados ou modificados os conhecimentos sobre ele.
Tomando-se como horizonte consideraes de Hartog, possvel propor a
hiptese de que os depoimentos sejam constitudos por runas, fiapos e reelaboraes
de diferentes regimes de historicidade, articulando-se em caleidoscpio, sempre
movente, a percepo da histria mestra da vida, o regime moderno em que o futuro
que ilumina o passado e uma relao muito imediata e consumista com o tempo e a
Histria, nela prevalecendo superficialidade prpria torrente de informaes e
imagens que impregna o dia-a-dia. Ou seja, as substncias que conformam os temas
e problemas com os quais o historiador reflete sob a operao historiogrfica (e sobre
a operao museogrfica) que realiza em seu cotidiano, emergem nos depoimentos
transformadas em premissas que no carecem de indagaes. Talvez esteja aqui
justamente uma das dimenses do distanciamento entre a escrita da Histria atual e
os museus, apontado por Dominique Poulot. Na argumentao do autor, essas
instituies
ilustrariam,
contemporaneamente,
discrepncia
entre
narrativa
historiogrfica e representaes evocativas do passado e da memria nacional, mas,
ao mesmo tempo, seriam locais privilegiados para um dilogo entre saberes histricos
diferentes, a ser fundamentado na problemtica crtica da cultura material, por meio da
qual seria possvel empreender a reescrita simultnea da histria do museu e da
Histria no museu 23.
No entanto, poder-se-ia indagar se o interesse e a curiosidade despertados
pelo Museu Paulista, no caso especfico dos segmentos de pblico que o freqentam,
no estariam ancorados na possibilidade de oferecer releituras de experincias visuais
e sensoriais do passado promovendo uma singular concomitncia entre novidade e
permanncia, o que faria de instituies como esta um contraponto vivncia do
tempo premente, marcado pela rapidez, pela sucesso e pela substituio veloz de
eventos e referncias, o que enseja a representao/percepo da ausncia de
durabilidade. Experincia que tambm atinge os historiadores e os que militam nos
museus,
aprofundando-se
ganhando
contornos
especficos
procedimentos
concernentes ao que guardar e ao que denominar patrimnio.
14
Memorial Nacional
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
O que nos distingue do regime de historicidade moderno, a despeito da
presena e entrelaamento da tradio dos sculos XVIII e XIX com nosso modo de
pensar , conforme Salgado Guimares, colocar em discusso o modo de produo
do conhecimento histrico, questionando-se o estatuto daquilo que se elege como
documento, as concepes e prticas de saber que fundamentaram essa eleio, bem
como e principalmente o lugar ocupado pelo historiador na teia (para lembrar Carlos
Vesentini) que envolve movimento da histria e construo da memria, ou dito de
outro modo, as mediaes entre acontecimentos, sua narrao e suas interpretaes
posteriores, o que, entretanto no significa que a Histria e o saber sobre ela possam
ser reduzidos a textos ou formas de visualizao. 24
Se esses podem ser considerados mtodos prprios ao ofcio do historiador
hoje, como essas prticas podem ser exercidas e explicitadas em um museu de
Histria do porte do Museu Paulista? Mesmo reconhecendo-se que nas sociedades
contemporneas h demandas significativas por conhecimentos histricos que no se
circunscrevem ao saber acadmico, os museus de Histria poderiam harmonizar
distintas narrativas histricas e representaes sobre o passado? Como encaminhar
as demandas de diferentes pblicos em busca da celebrao de datas, episdios e
heris? E, ao mesmo tempo, como acolher as demandas de historiadores e
especialistas que pensam os museus e suas exposies por meio da crtica
historiogrfica atual?
O museu de Histria hoje, conforme sublinhou Poulot, deixou de ser o
legislador do tempo, o lugar de partilha entre passado e futuro, podendo tornar-se
espao
para
um
profcuo
debate
entre
saberes
histricos
ancorados
em
25
conhecimentos produzidos pelo estudo dos e sobre os objetos . No seria, ento, o
momento de se pensar na construo de narrativas que no s explicitassem seus
fundamentos e os modos pelos quais se articulam a tradies historiogrficas, mas
que evidenciassem os nexos entre museu, celebrao e visualidade da Histria?
Nesse sentido, parece-me enriquecedor voltar ao poema de Paul Valry, para
destacar o verso em que sublinha a importncia dos museus como espaos dedicados
a instruir o olho a olhar. No mbito de um museu como o Museu Paulista a frase
poderia significar, entre outras acepes, a prtica de proporcionar a viso e o
entendimento de como os saberes histricos podem ser construdos, o que implica
privilegiar os trabalhos da ateno, como apontou Alfredo Bosi ao debruar-se sobre
a obra de Simone Weil26. O olhar atento vence a angstia da pressa, desapega-se das
iluses compensadoras da apropriao consumista, enseja o trabalho da percepo e
Cecilia Helena de Salles Oliveira
15
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
se exerce no tempo: colhe por isso as mudanas que sofrem homens e coisas. A
educao pelo olhar se apresenta assim como proposta enriquecedora, um convite
para aprender a ver nos museus no apenas celebraes de datas nacionais, coisas
belas ou vises do passado, mas dimenses da vida humana que nenhuma outra
instituio de cultura e de preservao do patrimnio pode oferecer.
Recebido em 11/10/2010
Aprovado em 17/10/2010
NOTAS E REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1
WRIGHT, Marie Robinson. The New Brazil (1902). Citao de Ernani da Silva Bruno no livro
Memria da Cidade de So Paulo. Depoimentos de moradores e visitantes, 1553/1958. So
Paulo: Prefeitura Municipal/DPH, 1981, p. 136-137.
2
Sobre a organizao de museus e suas vinculaes com o processo de urbanizao,
consultar: MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. O museu na cidade/a cidade no museu:
para uma abordagem histrica dos museus de cidade. Revista Brasileira de Histria. So
Paulo, ANPUH/Marco Zero, v.5, n. 8/9, set/1984-abril/1985, p. 197-206; CHOAY, Franoise. A
alegoria do patrimnio. Trad. L.V.Machado. So Paulo, UNESP/Estao Liberdade, 2001;
MENEGUELLO, Cristina. Da runa ao edifcio. Neogtico, reinterpretao e preservao do
passado na Inglaterra vitoriana. Campinas, UNICAMP, 2000, tese de doutoramento; POULOT,
Dominique (ed) Patrimoine et modernit. Paris, LHarmattan, 1998. Sobre as transformaes
fsicas e sociais em curso na cidade de So Paulo durante o sculo XIX e o incio do sculo
XX, consultar, entre outros: DNIS, Pierre. Le Brsil ao XXe. Sicle (1906). Paris, Armand
Colin, 1910; Coleo do peridico A Provncia de So Paulo, edies referentes especialmente
dcada de 1880. Exemplares conservados no Museu Paulista/USP; MORSE, Richard.
Formao histrica de So Paulo. So Paulo, Difel, 1970; QUEIROZ, Suely Robles. So Paulo.
Madrid, 1992; Cadernos de Histria de So Paulo. So Paulo, Museu Paulista/USP,
1992/1996, vols. 1-5; BRESCIANI, Maria Stella (org). Palavras da cidade. Porto Alegre,
UFRGS, 2001.
3
Os Relatrios referentes ao Museu Paulista durante a gesto de Hermman Von Ihering
encontram-se publicados nos primeiros volumes da Revista do Museu Paulista, 1895/1915.
Quanto aos Relatrios referentes direo de Afonso dEscragnolle Taunay, podem ser
consultados no Servio de Documentao Textual e Iconografia do MP/USP.
4
A esse respeito consultar especialmente: ELIAS, Maria Jos. Museu Paulista: memria e
histria. So Paulo: USP, 1996. Tese de Doutorado; BREFE, Ana Cludia Fonseca. O Museu
Paulista. Affonso dEscragnolle Taunay e a memria nacional. So Paulo, UNESP/Museu
Paulista, 2005; ALVES, Ana Maria de Alencar. O Ipiranga apropriado. Cincia, poltica e
poder. O Museu Paulista, 1893/1922. So Paulo, Humanitas/PPGHS/USP, 2001; OLIVEIRA,
Cecilia Helena de Salles. O espetculo do Ypiranga: mediaes entre histria e memria. Tese
de Livre-docncia. So Paulo, Museu Paulista da USP, 2000.
5
As obras de decorao interna foram inicialmente idealizadas para as comemoraes do
Centenrio da Independncia, em 1922, mas sua realizao prolongou-se por mais de duas
dcadas. Em 1937, a parcela maior da decorao estava pronta, mas os ltimos nichos na
parede do edifcio foram preenchidos apenas no incio dos anos de 1960. A decorao ocupou
os espaos propositadamente definidos no monumento do sculo XIX para a montagem de um
panteo nacional. Em linhas gerais, projetou um panorama do percurso da histria do Brasil do
16
Memorial Nacional
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
sculo XVI at o sculo XX, do qual a grandiosidade do Museu era expresso o que se somava
s demais salas de exposio compostas na poca, destinadas a expor aspectos da sociedade
brasileira e paulista, em especial. Da colonizao representada visualmente pelos retratos de
Martim Afonso de Souza, de Tibiri, de D. Joo III e de Joo Ramalho transita-se para a
poca em que teria se ocorrido a configurao do territrio representada pelas figuras dos
bandeirantes e pelas nforas de cristal contendo guas dos rios brasileiros adentrando-se,
ento, ao momento da independncia e soberania, exposta por meio da escultura monumental
de D. Pedro e por retratos e registros nominais em bronze daquelas personagens
consideradas, naquele momento, como os fundadores da nao, aos quais foram integradas as
figuras de Da. Leopoldina, Maria Quitria e Sror Anglica. Essa construo historiogrfica e
visual pode ser considerada como complemento representao do 7 de setembro,
confeccionada por Pedro Amrico, nos fins do XIX, especialmente para ornamentar o edifciomonumento. O direcionamento institucional em direo ao campo da Histria foi reforado com
a transformao do Museu em rgo complementar Universidade de So Paulo, j em 1934.
A incorporao definitiva Universidade deu-se em 1963. Consultar sobe o tema as obras j
citadas de ELIAS, BREFE e OLIVEIRA.
6
Sobre as especificidades dos museus de histria natural no final do sculo XIX e incio do
sculo XX, consultar: LOPES, Maria Margareth. O Brasil descobre a pesquisa cientfica. Os
museus e as cincias naturais no sculo XIX. So Paulo: Hucitec, 1999. Sobre o ambiente
intelectual do perodo e o Museu Paulista, consultar: TAUNAY, Affonso dEscragnolle. Os
princpios gerais da moderna crtica histrica. Revista do Instituto Histrico e Geogrfico de So
Paulo, vol. XVI, 1914, p. 323-344; ARAJO, Karina Anhezini. Um metdico brasileira. A
Histria da historiografia de Affonso dEscragnolle Taunay, 1911-1939. Tese de Doutorado.
Franca, UNESP, 2006; e MORAIS, Fbio Rodrigo de. Uma coleo de histria em um museu
de cincias naturais: o Museu Paulista de Hermann von Ihering. Anais do Museu Paulista, vol.
16, n.1, jan/jun. 2008, p. 203-233.
7
Em obra citada, Ana Maria de Alencar Alves mostra como von Ihering procurou seguir os
procedimentos analticos e expositivos propostos por George Brown Goode, aplicados no
Museu Nacional dos Estados Unidos, o que coadunava com os desgnios polticos e cientficos
defendidos pelos governantes republicanos em So Paulo, logo aps a organizao do novo
regime. Nesse sentido, o Museu Paulista foi concebido para ser um centro de cincia e de
ilustrao do povo. J durante os primeiros anos da gesto Taunay, em funo dos
preparativos para o Centenrio da Independncia e da gradual mudana que se imps ao perfil
da instituio, a principal inspirao foi buscada nos museus localizados na cidade de Paris,
particularmente o Museu Carnavalet. Entretanto, esse aspecto no alterou o carter
pedaggico e ilustrativo das exposies. Ver a esse respeito: OLIVEIRA, Cecilia Helena de
Salles. Ob.cit, cap.3.
8
O Museu Paulista nos anos de 1903 a 1905. Revista do Museu Paulista. So Paulo, Cardoso,
1907, vol. VI;IHERING, Hermann von. O Museu Paulista nos anos de 1910, 1911 e 1912.
Revista do Museu Paulista. Tomo IX. So Paulo, Tipografia do Dirio Oficial, 1914, p. 8.
9
FORREST, Archibald Stevenson. A tour through south America (1912).In: BRUNO, Ernani da
Silva. Ob.cit., p. 172-173.
10
Relatrio referente ao ano de 1917, apresentado por Afonso dEscragnolle Taunay, a 2 de
janeiro de 1918, a Oscar Rodrigues Alves, Secretrio do Interior. Servio de Documentao
Textual e Iconografia do MP/USP.
11
Ver, por exemplo, o depoimento de Da. Brites em: BOSI, Ecla. Memria e Sociedade.
a
Lembranas de velhos. 1 reimpresso. So Paulo: TA Queirz, 1983, p. 251.
12
Cabe destacar que o Museu Paulista, bem como o Parque da Independncia, no
lembrado somente na data de 7 de setembro. Em outros dois feriados locais, a instituio
recebe um pblico significativo: o dia 25 de janeiro, comemorativo do aniversrio da cidade de
So Paulo e o dia 9 de julho, feriado comemorativo da Revoluo constitucionalista de 1932.
13
SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memria e guinada subjetiva. So Paulo,
editada no Brasil, em 2007. Especificamente sobre os trabalhos da memria e os mecanismos
psquicos e sociais da rememorao, fundamentais para a problematizao dos significados
dos museus, consultar a obra Memria e Sociedade de Ecla Bosi, j citada.
Cecilia Helena de Salles Oliveira
17
UNESP FCLAs CEDAP, v.6, n.2, p. 3-18, dez.2010
ISSN 18081967
14
Sobre as funes e o lugar ocupado pelos museus de Histria na produo do conhecimento
histrico, consultar o artigo Do teatro da memria ao laboratrio da Histria: a exposio
museolgica e o conhecimento histrico de Ulpiano Toledo Bezerra de Meneses, editado nos
Anais do Museu Paulista, vol. 2, 1994. Ver, tambm, a combativa entrevista que o mesmo
historiador concedeu Revista de Histria da Biblioteca Nacional e publicada em abril de 2007.
15
Ver o artigo de Manuel Luiz Salgado Guimares, Vendo o passado: representaes e escrita
da Histria. Anais do Museu Paulista, vol. 15, n. 2, jul/dez, 2007. A citao de Madame de Stal
foi extrada deste artigo.
16
Consultar, especialmente, HARTOG, Franois. Rgimes dhistoricit. Paris, Seuil, 2003.
17
Foi Manoel Luiz Salgado Guimares que analisou e traduziu a experincia de Freud no
artigo Expondo a Histria: imagens construindo o passado, publicado nos Anais do Museu
Histrico Nacional, vol 34, 2002, p.71-ss.
18
Ver o captulo intitulado Les Muses, escrito por Pierre Pradel, na coletnea composta por
Charles Samaran, LHistoire et ses mthodes, editada em Paris, pela editora Gallimard, em
1961, p. 1024-ss. Grifos meus.
19
BOSI, Alfredo. Fenomenologia do Olhar. In: NOVAES, Adauto. O Olhar. So Paulo,
Companhia da Letras, 1988, p. 65-88.
20
Ver: OLIVEIRA, Cecilia Helena de Salles. O espetculo do Ypiranga: mediaes entre
histria e memria. Tese de Livre-Docncia defendida no Museu Paulista da USP, em 2000.
Consultar, tambm da mesma autora o artigo Museu Paulista: espao de evocao do passado
e reflexo sobre a Histria, publicado nos Anais do Museu Paulista, v. 10/11, 2003, p. 105-126.
21
BANN, Stephen. As invenes da Histria. Ensaios sobre a representao do passado. Trad.
F Villas-Boas. So Paulo, UNESP, 1994.
22
Em relao a essa questo ver, especialmente, as reflexes lanadas por vrios autores na
seo Debates Vendo o passado: representao e escrita da Histria, Anais do Museu
Paulista, vol. 15, n.2, jul/dez/2007; o artigo de Dominique Poulot Le muse dHistoire em
France entre traditions et soucis identitaires. Anais do Museu Paulista, vol. 15, n.2, jul/dez,
2007; e a conferncia de Dominique Poulot Nao, museu, acervo. IN: BITTENCOURT, J. N.,
BENCHETRIT, S. & TOSTES, V (org). Histria representada: o dilema dos museus. Rio de
Janeiro, Museu Histrico Nacional, 2003, p. 26-62.
23
Ver a j citada conferncia de Poulot, denominada Nao, museu, acervo, p. 53.
24
Ver o artigo de Manoel Luiz Salgado Guimares publicado nos Anais do Museu Paulista, vol.
15, n.2, jul/dez, 2007. Consultar, tambm, VESENTINI, Carlos Alberto. A teia do fato. So
Paulo, Hucitec/PPGHS, 1997.
25
Ver a j citada conferncia de Poulot, denominada Nao, museu, acervo, p. 53-62.
26
Ver o artigo j citado de Alfredo Bosi, Fenomenologia do Olhar.
18
Memorial Nacional
Você também pode gostar
- TopografiaDocumento11 páginasTopografiaMarisa EmmerickAinda não há avaliações
- Palacio de BalsemaoDocumento10 páginasPalacio de BalsemaotarzannabordaAinda não há avaliações
- Teste Diagnostico Hora HDocumento6 páginasTeste Diagnostico Hora HPaula SantosAinda não há avaliações
- Revista Colóquios 2011Documento114 páginasRevista Colóquios 2011Revistas100% (1)
- ConJur - Priscilla Yamamoto - Consumidor Tem Prazo para Buscar Produto em ConsertoDocumento4 páginasConJur - Priscilla Yamamoto - Consumidor Tem Prazo para Buscar Produto em ConsertoFabio Franco SenhorinhoAinda não há avaliações
- MIGUEL LOPES - Carta Aberta Aos Professores e AlunosDocumento5 páginasMIGUEL LOPES - Carta Aberta Aos Professores e AlunosSheila CaetanoAinda não há avaliações
- Bandeira NacionalDocumento15 páginasBandeira Nacionaljoelrp1Ainda não há avaliações
- Readequação Curricular - Ciências Humanas PDFDocumento105 páginasReadequação Curricular - Ciências Humanas PDFCristiane AquinoAinda não há avaliações
- 20 Questoes Sobre ExecuçãoDocumento10 páginas20 Questoes Sobre ExecuçãoLuciano Alexandro100% (1)
- Redacao CientificaDocumento100 páginasRedacao CientificaMylena Seabra Toschi100% (1)
- 10 Mandamentos Des Defeitos Do LiderDocumento3 páginas10 Mandamentos Des Defeitos Do LiderJoão PauloAinda não há avaliações
- Modelo Peças Direito Do TrabalhoDocumento120 páginasModelo Peças Direito Do TrabalhoLouise Braga100% (1)
- Slide Palestra Nova Lei Do MotoristaDocumento2 páginasSlide Palestra Nova Lei Do MotoristaCarlos BrilhanteAinda não há avaliações
- AHRENS, Rudy B. A GESTÃO ESTRATÉGICA NA ADMINISTRAÇÃO Vol 1 PDFDocumento373 páginasAHRENS, Rudy B. A GESTÃO ESTRATÉGICA NA ADMINISTRAÇÃO Vol 1 PDFMarcio Tadeu da Costa50% (2)
- UntitledDocumento35 páginasUntitledBruna Luiza de PinhoAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, Plínio Corrêa. Projeto de Constituição Angustia o PaísDocumento221 páginasOLIVEIRA, Plínio Corrêa. Projeto de Constituição Angustia o PaísAndréa MartinsAinda não há avaliações
- 2023.2 - Mna889 - MedbDocumento14 páginas2023.2 - Mna889 - MedbFabio Alberto Chipana HerreraAinda não há avaliações
- DOM218Documento7 páginasDOM218Luana TorresAinda não há avaliações
- Jornal Alavanca 84Documento7 páginasJornal Alavanca 84eulersalvaterraAinda não há avaliações
- Arrendamento Rural PecuariaDocumento3 páginasArrendamento Rural PecuariadeuzielsAinda não há avaliações
- Contrato Aquisicao AbadaDocumento4 páginasContrato Aquisicao AbadamrasilveiraAinda não há avaliações
- A Sátira Romana D'onofrio Diatribe PDFDocumento151 páginasA Sátira Romana D'onofrio Diatribe PDFEdelberto Pauli JúniorAinda não há avaliações
- Portaria 500 31 Agosto 2010Documento12 páginasPortaria 500 31 Agosto 2010binhoconcursoAinda não há avaliações
- Gestão Cultural, Construindo Uma Identidade Profissional - Maria Helena Cunha PDFDocumento15 páginasGestão Cultural, Construindo Uma Identidade Profissional - Maria Helena Cunha PDFFran ReisAinda não há avaliações
- A Contra-Revolução e A Sua Imprensa No Vintismo Luís Reis Torgal Análise Social RevistaDocumento14 páginasA Contra-Revolução e A Sua Imprensa No Vintismo Luís Reis Torgal Análise Social RevistacosmopolitanoAinda não há avaliações
- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO COM CAUÇÃO (3) ElianeDocumento4 páginasCONTRATO DE LOCAÇÃO DE PRAZO DETERMINADO COM CAUÇÃO (3) ElianeAdriana RibeiroAinda não há avaliações
- Modelo - Revisão CriminalDocumento3 páginasModelo - Revisão CriminalGiann Lucca InterdonatoAinda não há avaliações
- Termo de Isenção de ResponsabilidadeDocumento2 páginasTermo de Isenção de ResponsabilidadejaKJAinda não há avaliações
- Fichamento Grupo DurkheimDocumento12 páginasFichamento Grupo DurkheimRosyane de MoraesAinda não há avaliações
- Jose Rubens Mascarenhas de Almeida PDFDocumento433 páginasJose Rubens Mascarenhas de Almeida PDFTyrone ChavesAinda não há avaliações