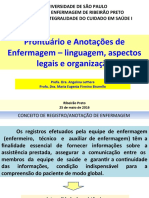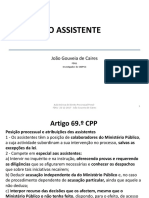Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ação Civil Pública em Matéria Tributária e Controle de Constitucionalidade
Ação Civil Pública em Matéria Tributária e Controle de Constitucionalidade
Enviado por
Renato RosaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ação Civil Pública em Matéria Tributária e Controle de Constitucionalidade
Ação Civil Pública em Matéria Tributária e Controle de Constitucionalidade
Enviado por
Renato RosaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACVLDADE DE DIREITO
Largo São Francisco
Curso de Pós-graduação
RENATO XAVIER DA SILVEIRA ROSA
Ação civil pública em matéria tributária e controle de
constitucionalidade
Trabalho apresentado para conclusão do
curso da Disciplina “DPC5836-2/4 —
Processos Coletivos”, ministrada pelo
Prof. Dr. Carlos Alberto de Salles, no
Curso de Pós-graduação stricto sensu da
Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, Largo São Francisco.
JUNHO, 2010
SÃO PAULO — BRASIL
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
ROSA, Renato Xavier da Silveira. Ação civil pública em matéria tributária e
controle de constitucionalidade. 2010. 19 f. Trabalho de Conclusão de
Curso (Disciplina “DPC5836-2/4 — Processos Coletivos”, pós-graduação
stricto sensu) — Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2010.
Resumo
A ação civil pública foi criada pela Lei nº 7.347/85 com o objetivo de permitir o
acesso à justiça de direitos de natureza coletiva, assim compreendidos os interesses ou
direitos difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. A Constituição Federal de 1988
permite no artigo 129, III, que o Ministério Público proponha a ação civil pública “para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos”. A Lei nº 8.078/90 acrescentou à Lei nº 7.347/85 a possibilidade de se tutelar
por meio de ação civil pública qualquer interesse difuso ou coletivo. Nesse quadro, estuda-
se a validade do parágrafo único do artigo 1º da Lei nº 7.347/85, acrescentado atualmente
pela Medida Provisória 2.180-35 de 2001, parágrafo único este que proíbe a veiculação de
questão tributária em ação civil pública. Estuda-se em seguida a viabilidade de se
questionar a constitucionalidade de uma norma, em sede de ação civil pública. Por fim,
conclui-se a respeito da conjugação de ambos os mecanismos, ou seja, se controle de
constitucionalidade difuso e questões tributárias podem ser debatidos e julgados em ação
civil pública.
Palavras-chave:
ação civil pública; controle de constitucionalidade; direito tributário; direito
processual civil; código de defesa do consumidor.
Renato Xavier da Silveira Rosa 1
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
Lista de Abreviações
Abreviação Significado
ACP Ação Civil Pública
ADC Ação Declaratória de Constitucionalidade
ADIn Ação Direta de Inconstitucionalidade
CDC Código de Defesa do Consumidor
CF Constituição Federal do Brasil
CF-88 Constituição Federal do Brasil, de 1988
CPC Código de Processo Civil
CPC-73 Código de Processo Civil, de 11-01-1973
LACP Lei da Ação Civil Pública, nº 7.347/85
MP Ministério Público
MP [xxx] Medida Provisória nº [xxx]
STF Supremo Tribunal Federal
STJ Superior Tribunal de Justiça
Renato Xavier da Silveira Rosa 2
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
Sumário:
1.! Introdução! 4
2.! O controle de constitucionalidade no Brasil! 8
3.! Ação civil pública e controle de constitucionalidade! 10
4.! Ação civil pública e matéria tributária! 14
6.! Conclusão! 17
.! Referências bibliográficas! 19
Renato Xavier da Silveira Rosa 3
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
Ação civil pública em matéria tributária e
controle de constitucionalidade
1. Introdução
O instrumento da Ação Civil Pública foi criado com a Lei nº 7.347, de 24 de julho
de 1985 (a Lei da Ação Civil Pública, ou simplesmente “LACP”). Com o objetivo de
permitir o acesso à justiça a direitos de natureza coletiva lato sensu (que classificam-se
em direitos ou interesses coletivos stricto sensu, difusos e individuais homogêneos), foi
previsto no artigo 1º que devem ser tutelados danos causados a interesses ou direitos: I,
ao meio-ambiente, II, ao consumidor e III, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico.
Com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei nº 8.078,
de 11 de setembro de 1990), foi acrescentado o inciso IV, para proteção “a qualquer outro
interesse difuso ou coletivo”.
Posteriormente, a Lei nº 8.884/94 alterou o rol do artigo 1º para incluir a proteção
por danos “morais e patrimoniais” aos direitos acima, bem como por infração da ordem
econômica. Mais tarde, a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, acrescentou a proteção à
ordem urbanística.
Por fim, encerrando as alterações, e mais importante, a Medida Provisória nº 19.84,
sucessivamente reeditada, e depois inaugurada sob nova série pela Medida Provisória nº
2.180, de 2001, em todas suas reedições, culminando na de nº 35 (ou simplesmente a
“MP 2.180-35”), acrescentou a proteção à economia popular e incluiu o seguinte
parágrafo único ao artigo 1º:
Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos
de natureza institucional cujos beneficiários podem ser
individualmente determinados.
O que se pretende abordar no presente estudo é justamente a validade desse
parágrafo único que foi incluído pela MP 2.180-35, quando se trate de questões
tributárias, assim compreendidas as causas que versem sobre a validade de tributos em
Renato Xavier da Silveira Rosa 4
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
geral (impostos, taxas, contribuições de qualquer natureza, inclusive previdenciárias etc.)
ou prestações acessórias relacionadas ao direito tributário, fundamentando-se a ação
também na inconstitucionalidade do parágrafo único mencionado, bem como na eventual
inconstitucionalidade de ato relativo ao tributo ou ato que se pretende ver impugnado.
Para tanto, deve-se estudar primeiro a possibilidade de se veicular na ação civil
pública o mecanismo do controle difuso de constitucionalidade, apresentando como causa
de pedir também a desconsideração de uma norma por sua inconstitucionalidade, como
questão prejudicial para o conhecimento do mérito, de natureza tributária.
Seguindo na introdução, então, mencionamos que no plano constitucional,
posteriormente à entrada em vigor da Lei nº 7.347/85, a Constituição Federal de 1988
(ou simplesmente a “CF-88”) previu o instrumento já em sua redação original,
expressamente no artigo 129, III, in verbis:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[…]
III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de
outros interesses difusos e coletivos;
Assim, ao menos quando proposta pelo Ministério Público, a ação civil pública pode
ter como objeto a proteção de qualquer interesse difuso ou coletivo. Se acrescentarmos que
o artigo 5º, XXXV, da CF-88, prevê que “a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito”, então devemos concluir que nenhuma lei poderá
restringir o direito de acesso à justiça; mais que isso, nenhum instrumento processual
poderá ser proibido por lei, se ele for adequado para a situação do caso concreto, sendo
inócua tal vedação porque pode ser inconstitucional (NERY JR; NERY, 2007: 1577, n. 1
do coment. ao art. 1º da Lei nº 8.437/1992).
Sobre a legitimidade do Ministério Público, preciosa a lição de NERY JR e NERY
(2006: 247, n. 6 do coment. ao art. 82 do CDC) nestes termos:
Pode [o Ministério Público] mover qualquer ação coletiva, para a
defesa de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos,
porque a ação coletiva, vale dizer, o instrumento de que pode
valer-se o legitimado autônomo (direitos difusos ou coletivos) ou
extraordinário (direitos individuais homogêneos), é per se
manifestação do interesse social, conforme expressamente
determina o CDC 1.º. A CF 129 III legitima o MP para a ACP na
Renato Xavier da Silveira Rosa 5
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
tutela de direitos difusos e coletivos, mas não menciona os
individuais homogêneos. A CF 129 IX autoriza a lei federal a
atribuir outras funções ao MP, desde que compatíveis com seu
perfil institucional. A CF 127 diz competir ao MP a defesa dos
direitos e interesses sociais e individuais indisponíveis. Como as
normas de defesa do consumidor (incluída aqui a ação coletiva
tout court) são, ex vi legis, de interesse social (CDC 1.º), é
legítima e constitucional a autorização que o CDC 82 I dá ao MP
de promover a ação coletiva, ainda que na defesa de direitos
individuais disponíveis. O cerne da questão é que na ação coletiva,
em suas três modalidades, é de interesse social. As teses
restritivas, portanto, inclusive a que entende ser inconstitucional o
CDC 82 I, não se amoldam ao texto constitucional, razão porque
não podem ser acolhidas, maxima venia concessa.
De tal sorte, não importa a natureza do direito, individual ou coletiva: ele deve ser
adjudicado com os instrumentos processuais adequados, em toda a plenitude do sistema
processual civil. Assim, nenhum direito coletivo poderá ter a sua judicialização restringida,
sob pena de afronta ao inciso XXXV mencionado. É o caso das ações civis públicas, em
matéria tributária e previdenciária, que não poderá ter seu cabimento restringido por uma
lei, quanto menos por uma Medida Provisória. Portanto, o parágrafo único do artigo 1º da
Lei nº 7.347/85 não pode ser considerado compatível com a Constituição Federal de 1988.
No que tange à legitimidade ativa, podem propor a ação civil pública: o Ministério
Público; a União, os Estados e Municípios; uma autarquia, empresa pública, fundação,
sociedade de economia mista ou associação civil. Alteração operada pela Lei nº 11.448, de
2007, previu a propositura da ação pelo Distrito Federal e pela Defensoria Pública.
Por fim, cabe apontar que o artigo 21 estabelece que “aplicam-se à defesa dos
direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do
Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”.
E é no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90 — CDC) que podemos
encontrar previsões a respeito da proteção dos interesses individuais homogêneos, que
somente são levados a juízo coletivamente por meio de ação civil pública (os interesses
coletivos têm à disposição outros mecanismos, como o mandado de segurança coletivo).
Primeiro, encontram-se definidos no parágrafo único do artigo 81 do Código de
Defesa do Consumidor (CDC) os conceitos dos interesses coletivos (lato sensu):
Art. 81. […] Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida
quando se tratar de:
Renato Xavier da Silveira Rosa 6
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que
sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias
de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim
entendidos os decorrentes de origem comum.
Sobre os interesses individuais homogêneos, KAZUO WATANABE (in GRINOVER et
al., 2004: 806) afirma que os seus requisitos são a homogeneidade e a origem comum. O
segundo requisito pode ser de fato ou de direito, bem como essa causa pode ser próxima
(imediata) ou remota (mediata), de acordo com a proximidade entre a causa e o dano.
Exemplifica-se que seria próxima a queda de um avião e remota a nocividade de um
medicamento que causa danos à saúde, sendo que “quanto mais remota a causa, menos
homogêneos serão os direitos” (GRINOVER et al., 2004: 807). Já a homogeneidade,
conforme WATANABE ensina na mesma passagem, é mais do que a origem comum, é uma
certa uniformidade entre os direitos, ou do dano (que embora comum, pode ter diferentes
reflexos nas vítimas).
Sobre a distinção ente interesses (ou direitos) difusos e coletivos, WATANABE
esclarece que “é necessário fixar com precisão os elementos objetivos da ação coletiva a ser
proposta (pedido e causa de pedir)” (GRINOVER et al., 2004: 808). Isso porque de
acordo com tais elementos é que se verifica se o pedido requer um tratamento coletivo, ou
se a causa de pedir eleita faz emanar uma natureza indivisível ou afeta a uma coletividade.
Se houver pessoas pertencentes a um mesmo grupo, categoria ou classe, ligadas entre ou
com a parte contrária por uma relação jurídica base, trata-se dos coletivos; se houver
interesses transindividuais e indivisíveis, e as pessoas titulares forem indeterminadas e
ligadas por circunstâncias de fato, trata-se dos difusos (GRINOVER, et al., 2004: 808).
Assim, precisaremos verificar no caso concreto a formulação do pedido de
inconstitucionalidade, e a causa de pedir eleita, para então estabelecer se se trata de
interesses individuais homogêneos, de coletivos ou de difusos. Certamente a
inconstitucionalidade é um interesse difuso, sendo titulares toda a comunidade do Brasil,
que quer ver a vigência apenas de normas constitucionais. Mas também determinados
grupos, apenas aqueles que suportam o ônus da inconstitucionalidade em matéria tributária
Renato Xavier da Silveira Rosa 7
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
(os contribuintes), podem pretender ver a inconstitucionalidade da norma, o que poderia
ser feito por um sindicato, por exemplo, para defesa da indústria do seu setor. Já os
indivíduos que tiverem de suportar a tributação, mas que não tiverem nenhum outro
relacionamento entre si, que não tal fato, então também poderão ver seu direito assegurado
por meio da tutela coletiva de seus respectivos direitos individuais.
Vemos portanto que tais mecanismos são potenciais veículos para demandas que
envolvem questões individuais que são automaticamente idênticas para todos os
contribuintes do mesmo tributo, pela própria natureza da obrigação tributária — exige-se
previsão constitucional e legal para se tributar, normas de extrema abrangência e grande
implicação jurídica e repercussão social —, desde que se encontrem as pessoas na mesma
situação, nas mesmas condições.
Assim, justifica-se o presente estudo pela importância e abrangência das questões
tributárias que são levadas a juízo, podendo o instrumento da Ação Civil Pública servir de
mecanismo por excelência para este tipo de demanda, que em sua maioria coloca no
centro da tese a alegação de inconstitucionalidade do tributo ou ato normativo a ele
relacionado, já que o sistema tributário nacional encontra-se previsto e limitado pela
Constituição Federal de 1988.
2. O controle de constitucionalidade no Brasil
O ordenamento jurídico brasileiro prevê um sistema misto de controle de
constitucionalidade, tanto difuso quanto concentrado. O sistema difuso vem consagrado
em todas as Constituições Republicanas do Brasil, desde a de 1891 (PALU, 2001: 275), e
por este sistema qualquer magistrado está habilitado a reputar inconstitucional um
determinado ato, desde que o faça ao julgar um caso concreto. Este sistema in concreto,
realizado por qualquer magistrado, decorre do exercício da função jurisdicional e deve ser
admitido independentemente de previsão expressa, tal como concluído nos Estados Unidos
da América e reafirmado pelo Ministro Moreira Alves no voto de julgamento do Recurso
Extraordinário nº 91.740-ES (MENDES, 2007: 153).
O sistema difuso, portanto, há de ser realizado no momento do julgamento do
mérito de um processo judicial, quando da decisão de um caso concreto, submetido ao
magistrado. Por isso mesmo, a declaração não produz efeitos para além do processo,
limitando-se às regras processuais atinentes à extensão subjetiva da coisa julgada, isto é,
Renato Xavier da Silveira Rosa 8
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
aplicam-se as normas sobre as pessoas que são atingidas pela decisão judicial. De acordo
com a principal dessas regras, inserida no artigo 472 do Código de Processo Civil – CPC
(Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973), “a sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”, ou seja, apenas os sujeitos
processuais são atingidos subjetivamente pela coisa julgada, segundo a regra geral.
Conforme será visto mais abaixo neste trabalho, a coisa julgada é estendida no caso das
demandas coletivas.
O sistema concentrado de controle de constitucionalidade é realizado abstratamente,
sem nenhuma caso concreto para decidir, por meio de ações que julgam diretamente a
constitucionalidade da norma, como ocorre nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade
(ADIn) e Ações Declaratórias de Constitucionalidade, (ADC) previstas no artigo 103 da
Constituição Federal de 1988, de competência do Supremo Tribunal Federal (STF), e
regulamentadas pela Lei nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, para a guarda da
Constituição Federal. Para defesa das respectivas Constituições Estaduais, o artigo 125 da
Constituição Federal estabelece que é de competência dos Estados-membro organizar a sua
justiça, sendo que segundo o §2º “cabe aos Estados a instituição de representação de
inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da
Constituição Estadual”.
Por fim, cabe consignar que em âmbito federal, perante o STF, há cabimento
expresso para a Ação Declaratória de Constitucionalidade, inspirada na Ação Avocatória
introduzida pela Emenda nº 7 de abril de 1977, à Carta Constitucional de 1967, reavivada
com a Emenda Constitucional nº 3/93, em evidente movimento autoritário, em clara
oposição ao democrático procedimento da ADIn, de extirpação de uma lei ou ato com o
qual não se coaduna o sistema.
Dispunha a Constituição Federal de 1967, após emendas, que:
Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal:
I — processar e julgar originariamente: […]
o) as causas processadas perante quaisquer juízos ou Tribunais,
cuja avocação deferir, a pedido do Procurador-Geral da República,
quando decorrer imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde,
à segurança ou às finanças públicas, para que se suspendam os
efeitos de decisão proferida e para que o conhecimento integral da
lide lhe seja devolvido.
Renato Xavier da Silveira Rosa 9
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
Nota-se portanto que não se trata de mera multiplicação dos efeitos de determinada
decisão, mas de evidente supressão da autonomia do juiz de direito. Embora não seja mais
essa a assumida função da Ação Declaratória de Constitucionalidade, certamente trata-se
de mais que mera inspiração, podendo se falar até mesmo em mesma natureza entre as
ações (ADC e avocatória).
A razão pela entendemos não ser a ADC um meio compatível com o Estado
Democrático de Direito pode ser explicitada por meio do seguinte quadro: quando uma
Ação Declaratória de Constitucionalidade é julgada procedente, poder-se-ia inferir que a
norma é constitucional, para todos os fins; todavia, uma outra ADC poderá ser proposta,
com outro fundamento, e esta poderá ser julgada improcedente, declarando-se
inconstitucional a norma e retirando-a do sistema; contrariamente, se uma ADIn for
julgada procedente, nenhuma outra ADC posterior poderá repristinar a norma; desta
forma, a ADC procedente dá para a norma uma suposta validade que ela não tem, sendo
que apenas mantém a presunção de constitucionalidade que é deferida a todas as normas,
até prova em contrário por meio do controle difuso ou concreto de constitucionalidade.
Feita essa ressalva — sobre a incompatibilidade da ADC com o Estado Democrático de
Direito, embora haja expressa previsão constitucional — o controle abstrato de
constitucionalidade se presta a obter unicamente a declaração da constitucionalidade ou
não da norma, com validade erga omnes.
Assim, no Brasil, temos tanto o sistema difuso (e concreto) de controle da
constitucionalidade, tradicionalmente aceito em nossas Constituições, quanto o controle
concentrado (e abstrato). Necessário verificar, então, se a ação civil pública é um meio
idôneo para permitir o controle difuso do controle de constitucionalidade, controle difuso
este que segundo OSWALDO LUIZ PALU (2001: 279) é democrático e acessível, por
permitir a atuação direta do cidadão nas instâncias ordinárias. Contudo, o controle
concentrado não deixará de ser abordado, pois este permanece em discussão sempre como
o parâmetro de comparação para a questão principal.
3. Ação civil pública e controle de constitucionalidade
Muito se debate a respeito da possibilidade de se efetuar o controle difuso da
constitucionalidade por meio de ação civil pública. Em uma análise superficial, não se
encontra nenhum impedimento expresso a tal controle, muito pelo contrário.
Renato Xavier da Silveira Rosa 10
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
Exercendo notável oposição a tal entendimento, contra a possibilidade de se efetuar
o controle de constitucionalidade em ações coletivas, GILMAR FERREIRA MENDES afirma
que a ação civil pública equivale na prática a uma decisão dada em ação direta de
inconstitucionalidade, dentre outros fundamentos, porque a ação civil pública não
questiona uma situação concreta, pois de questão concreta não se trata, segundo o autor.
Com maior vagar, eis in verbis o resumo do entendimento do autor (MENDES, 2007:
162–163):
Em outros termos, admitida a utilização da ação civil pública
como instrumento adequado de controle de constitucionalidade,
tem-se ipso jure a outorga de poderes direta à jurisdição ordinária
de primeiro grau de poderes que a Constituição não assegura
sequer ao Supremo Tribunal Federal. É que, como visto, a decisão
sobre a constitucionalidade da lei proferida pela Corte no caso
concreto tem, necessária e inevitavelmente, eficácia inter partes,
dependendo a sua extensão da decisão do Senado Federal.
É certo, ademais, que, ainda que se desenvolvam esforços no
sentido de formular pretensão diversa, toda vez que na ação civil
ficar evidente que a medida ou providência que se pretende
questionar é a própria lei ou ato normativo, restará inequívoco que
se trata mesmo é de uma impugnação direta de lei.
Nessas condições, para que se não chegue a um resultado que
subverta todo o sistema de controle de constitucionalidade
adotado no Brasil, tem-se de admitir a inidoneidade completa da
ação civil pública como instrumento de controle de
constitucionalidade, seja porque ela acabaria por instaurar um
controle direto e abstrato no plano da jurisdição de primeiro grau,
seja porque a decisão haveria de ter, necessariamente, eficácia
transcendente das partes formais.
Vê-se assim que GILMAR MENDES conclui pela impossibilidade de se questionar a
constitucionalidade de lei ou ato normativo, e o faz com base em três premissas que
seriam suficientes para afirmar essa conclusão, as quais veremos abaixo, impugnando-as
com outros entendimentos, que entendemos melhor fundamentados.
Primeiro, MENDES afirma que sempre que se questionar a constitucionalidade de ato
ou norma, o ataque é direto ao ato normativo. Conforme ensina JOSÉ ADONIS CALLOU DE
ARAÚJO SÁ, ainda que consista em inconstitucionalidade de ato normativo a causa de pedir
da ação civil pública, “o objeto continua a ser a defesa dos bens e interesses tutelados na
Constituição Federal e na legislação específica” (SÁ, 2002: 128). Em seguida, CALLOU DE
ARAÚJO SÁ afirma que a inconstitucionalidade é sempre posta como prejudicial à decisão
Renato Xavier da Silveira Rosa 11
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
de mérito, como uma premissa anterior ao julgamento do mérito, uma questão que
analisada leva diretamente à conclusão que se pretende.
O segundo argumento de MENDES trata da suposta abstração da ação civil pública,
que negaria sua possibilidade de se questionar concretamente uma situação jurídica, em
controle difuso de constitucionalidade. Ocorre que, diferentemente do que entendeu
MENDES, temos como mais correto compreender que “há situações concretas a serem
resolvidas e que, neste particular, não diferem de situações discutidas em outras ações,
como o mandado de segurança, em que também se exercita o controle incidental de
constitucionalidade” (SÁ, 2002: 129, após mencionar casos concretos como exemplos).
Ademais, a ação civil pública não é um processo objetivo, sem partes (PALU, 2001: 280),
sendo imprescindível a presença de partes, como o autor e a ré.
O terceiro argumento de MENDES, quanto à eficácia erga omnes do julgamento das
ações civis públicas, consiste em um argumento aparentemente mais sólido, mas não se
mantém após detida análise. É que essa eficácia geral é aparente, pois “falar de coisa
julgada erga omnes não significa necessariamente dizer que atingiria a ‘todos’, mas apenas
‘a comunidade titular do direito lesado – e somente esta’ ” (SÁ, 2002: 138). É assim que
entendemos que a eficácia erga omnes significa oponibilidade contra todos, e apenas isso,
sendo que a decisão somente beneficia os integrantes da comunidade titular do direito
garantido. Desta forma, MENDES está equivocado ao entender que a eficácia erga omnes da
ação civil pública equivale à da ação direta de inconstitucionalidade. Entendemos que a
ação civil pública beneficia um número limitado de pessoas (os integrantes da comunidade
titular do direito) e o artigo 16 da Lei nº 7.347/85 (a “LACP”), invocado por MENDES,
sobre eficácia erga omnes — artigo este, aliás, revogado tacitamente pelo posterior artigo
103 do CDC (NERY JR.; NERY, 2006: 258, n. 2 do coment. ao art. 103 do CDC) —,
trata equivocadamente a questão.
O correto, no artigo 103 do CDC (e numa eventual inclusão de um novo artigo 16 à
LACP), seria admitir, tal qual o faz o artigo 472 do Código de Processo Civil, que “a
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem
prejudicando terceiros”, com a ressalva de que, no caso da ação civil pública, a
comunidade, substituída pelo legitimado a propor a ação, não é uma terceira parte; trata-se
de grupo com participação em juízo e portanto sujeito à coisa julgada, o que não equivale
à coisa julgada erga omnes da ação direta de inconstitucionalidade, que vincula inclusive
Renato Xavier da Silveira Rosa 12
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
quem nunca teve qualquer relação com o processo. Aliás, o artigo 103, III, do Código de
Defesa do Consumidor, demonstra que a eficácia erga omnes da ação civil pública não
deve ter o mesmo significado da ADIn, mas deve se limitar ao condenado e às vítimas do
dano e seus sucessores.
Reforça-se o argumento com a lição de DINAMARCO (2005: 240, n. 87), segundo
a qual
A idoneidade dessas entidades [legitimadas a propor a ação
coletiva] qualifica-as como legítimas substitutas processuais dos
interessados e sua participação satisfaz às exigências do
contraditório – agora visto da óptica do direito moderno e dos
objetivos da tutela referente a direitos e interesses difusos,
coletivos e individuais homogêneos. Os efeitos da sentença e a
autoridade da coisa julgada vão além dos próprios sujeitos que
nesses casos figuram como autores, atingindo e vinculando os
integrantes do grupo ou comunidade substituída no processo pelo
autor (CDC, art. 103). Não reside nisso qualquer ultraje à garantia
constitucional do contraditório, porque os entes qualificados para
o exercício da ação [civil] pública atuam no interesse do grupo ou
comunidade interessada, sendo tecnicamente qualificados como
seus substitutos processuais.
Desta forma, acreditamos que não há violação ao contraditório e nem há vinculação
erga omnes ao julgado, mas somente aos sujeitos processuais (autor e réu, substituídos e
demais legitimados a agir como substitutos). Aliás, quando uma determinada coletividade
é substituída em juízo, esta demanda há de induzir a litispendência a todas as demais,
eventualmente propostas por outros legitimados ativos, em nome da mesma coletividade,
já que as partes essencialmente são as mesmas.
Por fim, a respeito da distinção entre Ação Civil Pública e Ação Direta de
Inconstitucionalidade, necessário trazer o entendimento de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY, nestes termos (apud SÁ, 2002: 140–141):
O objeto da ACP [Ação Civil Pública] é a defesa de um dos
direitos tutelados pela CF [Constituição Federal de 1988], pelo
CDC [Código de Defesa do Consumidor] e pela LACP [Lei da
Ação Civil Pública]. A ACP [ação civil pública] pode ter como
fundamento a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O
objeto da ADIn [Ação Direta de Inconstitucionalidade] é a
declaração, em abstrato, da inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, com a conseqüente retirada da lei declarada
inconstitucional do mundo jurídico por intermédio da eficácia erga
omnes da coisa julgada. Assim, o pedido na ACP [ação civil
Renato Xavier da Silveira Rosa 13
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
pública] é a proteção do bem da vida tutelado pela CF
[Constituição Federal de 1988], CDC [Código de Defesa do
Consumidor] ou LACP [Lei da Ação Civil Pública), que pode ter
como causa de pedir a inconstitucionalidade de lei, enquanto o
pedido na ADIn [Ação Direta de Inconstitucionalidade] será a
própria declaração da inconstitucionalidade da lei. São
inconfundíveis os objetos da ACP [Ação Civil Pública] e da ADIn
[Ação Direta de Inconstitucionalidade].
Desta forma, hemos de conceber a ação civil pública como completamente distinta
da Ação Direta de Inconstitucionalidade, não havendo que se atribuir os efeitos de uma à
outra, ou se concluir que uma não possa coexistir com a outra. A função delas é distinta e
há diversas hipóteses em que o objetivo da ação civil pública não pode ser obtido com a
ADIn (qualquer obrigação de fazer ou indenização, por exemplo), de modo a justificar a
existência de ambos os instrumentos, cada qual com os seus objetivos (PALU, 2001: 281).
Mais que isso, não se deve impedir que a ação civil pública discute a
inconstitucionalidade de normas, em controle difuso de constitucionalidade. Por meio dele,
pode-se (e deve-se, sempre que necessário) argumentar em caráter prejudicial ao mérito a
inconstitucionalidade de normas, de modo a se impedir que normas ou atos
inconstitucionais sejam confirmados por decisões judiciais sob o falso pretexto de não se
poder discutir a afronta de normas ou atos à Carta Constitucional.
Por outro lado, a decisão proferida no bojo de uma ação civil pública pode se
assemelhar à ação direta de inconstitucionalidade, quando o pedido consista
exclusivamente em declaração de inconstitucionalidade. Neste único caso, concordamos
que não é a ação civil pública o meio idôneo para a declaração da inconstitucionalidade,
sendo que no presente trabalho essa hipótese é excluída de todo e qualquer raciocínio ou
conclusão.
4. Ação civil pública e matéria tributária
Muito embora tenha sido inicialmente irrestrita a aplicação da ação civil pública,
operou-se alteração com a atual redação dada pela MP 2.180-35, de 2001, para se vedar a
ação civil pública em matéria tributária ou previdenciária.
Fundamentando-se no supra transcrito parágrafo único do artigo 1º da Lei da Ação
Civil Pública, a inovação se destina a vedar o cabimento de ação civil pública para veicular
Renato Xavier da Silveira Rosa 14
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
a discussão de matéria tributária ou previdenciária. Todavia, “essas limitações […] são de
questionável validade” (SÁ, 2002: 154), porque
A ação civil pública e a legitimidade do Ministério Público têm
sede na própria Constituição Federal, que contém cláusula de
referência a interesses difusos e coletivos. Portanto, parece-nos
que a Medida Provisória não pode impor restrições materiais ao
cabimento da ação civil pública.
Perfeita a afirmação de SÁ, pois o artigo 129, III, da Constituição Federal não traz
qualquer ressalva, e assim, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público, para
tutela de direitos difusos e coletivos, não encontra qualquer limitador, sendo portanto
inconstitucional o parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.347/85.
Por essa razão, se o Ministério Público propuser uma ação civil pública, esta poderá
veicular toda e qualquer matéria. Em razão do evidentemente contrário comando do tal
parágrafo único, a sua inconstitucionalidade deverá ser aduzida em caráter prejudicial ao
mérito.
Assim, para o conhecimento do pedido principal, de natureza tributária, o
magistrado deverá analisar a inconstitucionalidade do parágrafo único e, por ela
concluindo, passará a conhecer o pedido principal da demanda. Por meio deste controle
difuso de constitucionalidade, caso a caso, a norma passará a ser desconsiderada, em cada
caso concreto, julgando-se normalmente demandas coletivas tributárias propostas pelo
Ministério Público.
Passada essa fase e reconhecida a inconstitucionalidade do parágrafo único, a
demanda tributária em si também poderá depender de reconhecimento de outra
inconstitucionalidade para se conhecer o pedido principal, que normalmente é o de
declarar a inexistência de relação jurídica tributária entre substituídos processuais e
entidade tributante, ou então pedido de repetição do indébito.
Para citar um caso em que o tratamento coletivo teria sido muito mais eficiente do
que o individual, recordemos a inconstitucionalidade do §1º do artigo 3º da Lei nº 9.718,
de 27 de novembro de 1998. A celeuma jurídica toda decorre do alargamento da base de
cálculo das Contribuições para o PIS/PASEP (“PIS”) e para o Financiamento da
Seguridade Social (“COFINS”), que incidiam sobre o faturamento do empregador e, pela
Lei 9.718/98, passou a (supostamente) incidir sobre a receita bruta das empresas.
Renato Xavier da Silveira Rosa 15
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
Preconizava o artigo 3º, caput e §1º, o seguinte:
Art. 3º O faturamento a que se refere o artigo anterior
corresponde à receita bruta da pessoa jurídica.
§1º Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.
Ocorre que à época da edição desta lei a Constituição Federal dispunha no artigo
195, I, que a seguridade social será financiada por toda a sociedade, mediante recursos
fornecidos por contribuições sociais “dos empregadores, incidente sobre a folha de
salários, o faturamento e o lucro”. Esse era o fundamento constitucional e certamente a
receita bruta, conceito maior que o faturamento, não podia ser tributado pelas
contribuições sociais destinadas à seguridade social.
Percebido o erro, de inconstitucionalidade formal originária do artigo 3º, caput e
§1º, foi aprovada a Emenda Constitucional nº 20, em 15 de dezembro de 1998, alterando
o inciso I do artigo 195 para permitir contribuições sociais sobre a receita das empresas, o
que não tem o condão de repristinar a norma que lhe é anterior, e portanto, seria
necessária outra norma para se permitir o tributo sobre a receita bruta.
Foi essa a conclusão do Supremo Tribunal Federal, que em 9 de novembro de 2005
julgou o Recurso Extraordinário nº 346.084/PR e, ao analisar a tese da constitucionalidade
superveniente, decidiu “declarar a inconstitucionalidade do §1º do artigo 3º da Lei nº
9.718, de 27 de novembro de 1998”.
Ocorre que esse pronunciamento foi feito em controle difuso de constitucionalidade,
em uma ação ordinária de uma empresa contra a União Federal, e portanto somente a
estas partes faz coisa julgada. Desde então todos os Recursos Extraordinários sobre a
mesma questão precisam ser julgados, no mesmo sentido. Ademais, não houve resolução
do Senado Federal que pudesse suspender a execução do referido dispositivo e, assim,
continuou a norma em pleno vigor.
Apenas 4 anos mais tarde veio a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, convertida
da Medida Provisória nº 449, de 2009, revogando o §1º do artigo 3º da Lei nº 9.718/98.
Nota-se que foi percorrido um longo caminho desde a edição da lei, em 1998, até a sua
retirada do ordenamento jurídico, mesmo diante de conclamos doutrinários sobre a
Renato Xavier da Silveira Rosa 16
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
inconstitucionalidade da norma e de centenas de milhares de sentenças e acórdãos no
mesmo sentido. Viu-se uma verdadeira enxurrada de ações sobre tal assunto.
Neste caso, o sistema processual brasileiro deveria ter sido seguido de acordo com
suas bases, especialmente pelo processo coletivo, permitindo-se que ações civil públicas
discutissem a matéria tributária de fundo, conhecendo-se a inconstitucionalidade, por
controle difuso, do artigo 3º da Lei nº 9.718/98.
Posteriormente à (re)edição das Medidas Provisórias que introduziram o parágrafo
único do artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, a inconstitucionalidade deveria continuar
a ser argüida, também com relação a esse dispositivo.
Destarte, todos perdem com a proibição, que no nosso sentir é injustificável e, mais
do que isso, inconstitucional. O acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da
Constituição Federal, inclui também a necessidade de que seja dado um adequado
tratamento a direitos de natureza coletiva, conforme KAZUO WATANABE (in GRINOVER
et al., 2004: 834). Isso significa que os direitos coletivos devem ser adjudicados de alguma
forma, sob pena de violar o mencionado inciso XXXV do artigo 5º da CF-88.
E esse adequado tratamento, em matéria tributária, deve necessariamente incluir a
possibilidade de se adjudicar os conflitos em Ação Civil Pública, inclusive mediante
argüição de inconstitucionalidade de dispositivos normativos ou atos do poder tributante.
6. Conclusão
1. A Constituição Federal de 1988 assegura no artigo 5º, XXXV, que nenhum
direito deixará de ser apreciado pelo Poder Judiciário por disposição legal. Assegura ainda,
no artigo 129, III, que o Ministério Público tem a prerrogativa de ajuizar Ação Civil
Pública em defesa de qualquer direito difuso ou coletivo, sem quaisquer restrições.
2. A inclusão do parágrafo único ao artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública é uma
afronta direta aos dois dispositivos mencionados acima, de modo que é flagrantemente
inconstitucional esse parágrafo único, se não em geral (qualquer interesse coletivo e
qualquer legitimado ativo a propor a ação), ao menos com relação ao Ministério Público
em defesa de interesses difusos e coletivos.
Renato Xavier da Silveira Rosa 17
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
3. O controle difuso de constitucionalidade é realizado em concreto, em caráter
prejudicial ao conhecimento de um pedido principal de mérito, de modo que a argüição de
inconstitucionalidade é uma questão a ser apreciada em momento anterior ao julgamento
do mérito. Confirmada pelo magistrado a inconstitucionalidade, conhece-se do pedido
principal, com efeitos vinculantes às partes do processo (autor e réu, incluindo os sujeitos
substituídos em juízo pelo substituto processual, que não são terceiras partes).
4. Em matéria tributária, alega-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do
artigo 1º da Lei da Ação Civil Pública, para conhecimento da matéria e, se necessário,
argúi-se inconstitucionalidade de dispositivo tributário, chegando à conclusão de que há
um excesso por parte do poder tributante, no bojo de uma ação civil pública, que
beneficiará a todos os titulares do direito levado a juízo.
5. Desta forma, perfeitamente aplicável o instrumento da Ação Civil Pública em
matéria tributária, controlando-se difusamente a constitucionalidade de atos ou normas,
para se concluir pela procedência de um pedido principal de repetição de indébito ou de
declaração de inexistência de relação jurídica-tributária entre poder público tributário e
contribuintes (substituídos em juízo).
Renato Xavier da Silveira Rosa 18
Ação civil pública em matéria tributária e controle de constitucionalidade
. Referências bibliográficas
DINAMARCO, CÂNDIDO RANGEL. Instituições de Direito Processual Civil –
Volume I. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005. 735 pp.
GRINOVER, ADA PELLEGRINI; et al. Código brasileiro de defesa do consumidor:
comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2004.
MENDES, G ILMAR F ERREIRA . Direitos fundamentais e controle de
constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 3ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2004. pp. 285–298.
______. Ação civil pública e controle de constitucionalidade. In: MILARÉ, Édis.
Ação civil pública após 20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: RT,
2005. pp. 195/205.
______. “Ação civil pública e controle de constitucionalidade”. In: WALD,
Arnoldo (coord.). Aspectos polêmicos da ação civil pública, 2ª ed. rev. e
atualizada. São Paulo: Saraiva, 2007. pp. 151–165.
NERY JR., NELSON; NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE. Código de Processo Civil
comentado e legislação extravagante. 10ª ed. São Paulo: RT, 2007.
______.; ______. Leis Civis Comentadas. São Paulo: RT, 2006.
NERY, ROSA MARIA DE ANDRADE; NERY JR., NELSON. Código de Processo Civil
comentado e legislação extravagante. 10ª ed. São Paulo: RT, 2007.
______.; ______. Leis Civis Comentadas. São Paulo: RT, 2006.
PALU, OSWALDO LUIZ. Controle de constitucionalidade: conceitos, sistemas e
efeitos. 2ª ed. São Paulo: RT, 2001, pp. 273–283, n. 9.14.4.
SÁ, JOSÉ ADONIS CALLOU DE ARAÚJO. Ação civil pública e controle de
constitucionalidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, pp. 127–154, nn. 3.6–
3.8.
Renato Xavier da Silveira Rosa 19
Você também pode gostar
- Check List Fechamentos 2011Documento5 páginasCheck List Fechamentos 2011Clayton FreitasAinda não há avaliações
- Arrendamento Rural PecuariaDocumento3 páginasArrendamento Rural PecuariadeuzielsAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido de GEOGRAFIADocumento1 páginaEstudo Dirigido de GEOGRAFIAmeulugarAinda não há avaliações
- Lei Complementar 136 2011 Bombinhas SC Consolidada (04 12 2020)Documento82 páginasLei Complementar 136 2011 Bombinhas SC Consolidada (04 12 2020)SoL AvelarAinda não há avaliações
- Clube de Fornecedores Da PT - Pedido de Autorização de Registo PDFDocumento2 páginasClube de Fornecedores Da PT - Pedido de Autorização de Registo PDFPaulo JaneiroAinda não há avaliações
- YamamotoDocumento8 páginasYamamotoHelderSouzaAinda não há avaliações
- Direitos Políticos IIDocumento16 páginasDireitos Políticos IITúlio ZancaneloAinda não há avaliações
- Sobre o Direito FeudalDocumento3 páginasSobre o Direito FeudalAliceAinda não há avaliações
- Lei Organica Sumare PDFDocumento69 páginasLei Organica Sumare PDFLeonardo FernandezAinda não há avaliações
- Fichas Interpretativas IGTDocumento160 páginasFichas Interpretativas IGTjeanvitorin1987Ainda não há avaliações
- N 1346Documento8 páginasN 1346dafespAinda não há avaliações
- Questão ReligiosaDocumento16 páginasQuestão ReligiosaJoelHeboAinda não há avaliações
- O Que Acontece Quando o Código Deontológico Dos Jornalistas É VioladoDocumento4 páginasO Que Acontece Quando o Código Deontológico Dos Jornalistas É VioladoramiromarquesAinda não há avaliações
- Petição Inicial - Usucapião ExtraordinárioDocumento5 páginasPetição Inicial - Usucapião Extraordinárioluan rick silva de oliveira100% (1)
- Carreira Agente Autônomo de Investimento (AAI)Documento16 páginasCarreira Agente Autônomo de Investimento (AAI)Bruno ChivalskiAinda não há avaliações
- 10 Parashá 05Documento3 páginas10 Parashá 05quem tem ouvidos ouça, quem tem celebro penseAinda não há avaliações
- PNATER Avanços e DesafiosDocumento9 páginasPNATER Avanços e DesafiosSarita CoelhoAinda não há avaliações
- Direito EmpresaDocumento7 páginasDireito EmpresaArthur NogueiraAinda não há avaliações
- Diário Da Justiça Eletrônico - Data Da Veiculação - 07 - 04 - 2017 PDFDocumento687 páginasDiário Da Justiça Eletrônico - Data Da Veiculação - 07 - 04 - 2017 PDFfrc2013Ainda não há avaliações
- Diário Oficial Ceará Software LivreDocumento72 páginasDiário Oficial Ceará Software LivreAlex GomesAinda não há avaliações
- Medicina LegalDocumento9 páginasMedicina LegalLuiz Henrique CarvalhoAinda não há avaliações
- Significado de PlágioDocumento2 páginasSignificado de PlágioFernando CorreiaAinda não há avaliações
- Segunda Via Boleto - Prestação 70Documento2 páginasSegunda Via Boleto - Prestação 70Darcinio SilverioAinda não há avaliações
- 2020 Revista Juridica AGE 17 2020 1Documento301 páginas2020 Revista Juridica AGE 17 2020 1Igor TofaneliAinda não há avaliações
- As Principais Escolas Do Pensamento Jurdico - Trabalho Avaliativo - FlavianyaDocumento16 páginasAs Principais Escolas Do Pensamento Jurdico - Trabalho Avaliativo - FlavianyaFLAAinda não há avaliações
- Fichamento - Cap 1 - Teoria Do Ordenamento Jurídico - BobbioDocumento2 páginasFichamento - Cap 1 - Teoria Do Ordenamento Jurídico - BobbioJoão NetoAinda não há avaliações
- DECISÃODocumento5 páginasDECISÃOSilvio StanleyAinda não há avaliações
- Contrato de Alienação BrancoDocumento2 páginasContrato de Alienação BrancoRayane GomesAinda não há avaliações
- ME e Angelina - Aula Anotações de Enfermagem E PRONTUÁRIOSDocumento20 páginasME e Angelina - Aula Anotações de Enfermagem E PRONTUÁRIOSThalita VeigaAinda não há avaliações
- Aula Teórica DPP - 16-17 - O AssistenteDocumento17 páginasAula Teórica DPP - 16-17 - O AssistenteIsabelAinda não há avaliações