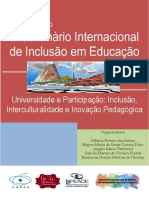Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Poderregio
Poderregio
Enviado por
Helder SantosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Poderregio
Poderregio
Enviado por
Helder SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Mdulo 2 : O Poder Rgio, fator estruturante da coeso interna do reino
Monarquia feudal Monarquia na qual o rei se assume como o maior e mais poderoso
dos senhores feudais; em troca de doaes e da concesso de proteo faz convergir
para a sua figura os laos de dependncia pessoal de vassalos e sbditos. Seguindo as
tendncias ento vigentes na Frana dos scs. XII e XIII, a monarquia feudal
portuguesa, que tambm fundamentava o poder real no direito divino, caminhou para a
centralizao, em virtude de o rei nunca abdicar da chefia militar e da justia suprema.
Dotada de funcionrios e de rgos do governo especializados, a monarquia portuguesa
foi capaz, desde 1211, de criar Leis Gerais.
Analisar o funcionamento da monarquia feudal.
Na monarquia feudal, cabia figura rgia e instituio monrquica o difcil e
importante papel de unificar os particularismo, dotando o espao territorial de coeso
interna e conferindo s suas gentes uma identidade nacional. Esta monarquia pode ser
caracterizada como tocada pelas vivncias e relaes de dependncia feudal, que o rei
habilmente manejava para se afirmar e impor.
Na monarquia feudal portuguesa o rei era o dominus rex (rei senhor). Isto , o rei
assumia-se como um senhor feudal na sua corte de vassalos.
Tal como no resto da Europa o reino era considerado um bem pessoal do rei, que ele
transmitia aos seus descendentes (primognito varo primeiro filho homem) tal como
podia doar parcelas do territrio nacional (coutos, honras) a senhores nobres e
eclesisticos, como recompensa de servios prestados nos primrdios da monarquia que,
em troca de tal cedncia de bens e poderes (fundirios, militares, judiciais e fiscais),
criou a realeza uma corte de vassalos, que lhe devia fidelidade e apoio nas tarefas de
defesa, expanso e administrao do reino. Ao rei era lhe permitido cobrar rendas ou
exercer o poder pblico nos seus domnios pessoais, os reguengos, mas tambm nos
aldios e nos concelhos, que exigia prestaes pblicas de natureza judicial, militar ou
fiscal.
Tambm o governo do reino era considerado patrimnio pessoal, neste caso, de uma
famlia ou dinastia.
Sublinhar a passagem da monarquia feudal monarquia centralizada.
(Fatores que contriburam para a centralizao do poder rgio)
1. O monarca considerado um representante de Deus na Terra (monarquia de
direito divino)
2. O monarca (=rei) concentra cada vez mais as funes de rei:
poder militar (chefia do exrcito e convocao direta dos homens para a
guerra);
poder judicial (o rei possui a justia maior: aplica pena de morte,
talhamento de membros e direito de apelao);
poder fiscal (criao das Sisas Gerais, impostos por todos os sbditos; e
cunhagem exclusiva de moeda);
poder legislativo (em 1211 Afonso II publica as primeiras Leis Gerais:
destinavam-se a combater os privilgios senhoriais; regulamentarem
questes monetrias; tabelarem dos preos e ainda para impor os bons
costumes e a moral)
3. Reestruturao da administrao central:
Criao de um corpo de altos funcionrios:
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Alferes-mor: posto mais alto da hierarquia militar
Mordomo-mar: chefiava na administrao civil do reino
Chanceler (auxiliado por notrios e escrives) : guarda os selos rgios
e redao dos diplomas rgios)
Escrivo da Puridade : secretrio pessoal do rei
O concelho consultivo do rei ou CRIA RGIA passa a estar dividido
em trs rgos:
Concelho rgio correspondendo s antigas reunies ordinrias
(normais) da Cria Rgia, este concelho funciona como um rgo
permanente de apoio ao rei (passa a ser composto maioritariamente
por legistas);
Tribunais superiores trata das questes da justia maior e so
compostos tambm por legistas.
Cortes as primeiras cortes reuniram em 1254, no reinado de
D.Afonso II, em Leiria. Correspondem s antigas reunies
extraordinrias da Cria Rgia. Eram compostas por representantes
do Clero, da nobreza e dos Concelhos (povo). Tratavam das questes
mais importantes como: aclamao de novos reis, lanamento de
novos impostos, quebra da moeda.
4. Reforo do poder do rei ao nvel da administrao local:
O pas foi dividido em comarcas (diviso administrativa dirigida por
um meirinho), julgados (divises judiciais dirigidas por corregedores e
juzos de fora), almoxarifados (divises fiscais dirigidas por almoxarifes).
5. Reforo do poder do rei face aos grandes senhores:
leis de Desamortificao
inquiries
confirmaes
A partir do sc. XIII Progressiva Centralizao do Poder Rgio
Monarquia Centralizada (sc. XIV)
Como era composta a reestruturao da administrao central.
A administrao central era marcada pela itinerncia da corte que com ela acompanha
o governo central compostos por um corpo de funcionrios e assembleias (pgt acima).
Como rgo consultivo de apoio administrao, dispunham os monarcas de uma
Cria Rgia. Nela se debatiam todos os problemas relativos administrao do reino,
desde os assuntos da governao quotidiana s questes econmicas e desde a
confirmao das doaes rgias s questes da paz e da guerra. Acrescentavam ainda
importantes funes judiciais como, o julgamento dos conflitos da nobreza e, cabia
ainda o papel de supremo tribunal do reino, decidindo da aplicao da justia maior e
dos casos que apelavam para o rei.
Quando os assuntos revestiam uma dimenso nacional, o monarca convocava uma
Cria extraordinria em que todos os elementos da Cria ordinria entre outros de
importantes cargos eram chamados para a sua resoluo.
Este divide-se em trs rgos (pgt acima)
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Evidenciar a interveno do rei na administrao local.
Nas reas concelhias, para alm da organizao da administrao dividida das regies
(2pgt), o rei intervinha ao longo dos sculos XIII e XIV nestes concelhos
representado :
pelo alcaide-mor, que comandava as tropas ao servio da Coroa e vigiava as
atividades judiciais locais;
pelos almoxarifes e mordomo, que cobravam os direitos e as rendas devidos
ao rei;
pelo corregedor e juzes de fora, que inspecionavam os magistrados e a
administrao municipal;
pelos vereadores, os novos magistrados concelhios.
Com esta interveno, o rei no pretendia anular a autonomia dos concelhos mas zelar
pelos seus direitos; mas, sobretudo, estava interessado em promover o bem pblico,
eliminando abusos e arbitrariedades do poder local.
Discriminar as medidas rgias de combate expanso senhorial.
Criao nas Leis Gerais no reinado de D.Afonso II as:
Leis de Desamortizao (proibio de os mosteiros e igrejas adquirirem
bens de raiz)
Confirmaes (representaram o reconhecimento, pelo rei, dos ttulos de
posse de terras e direitos da nobreza e do alto clero, doados pelos
predecessores);
Inquiries (averiguaes feitas nos bens reguengos sobre os direitos e
rendas devidos ao rei, permitiram descobrir que os fidalgos, as ordens
militares, os bispos e os abades haviam cometido inmeras usupaes,
tendo o monarca determinado que as propriedades rgias usurpadas
deveriam voltar posse da Coroa)
Exemplificar a afirmao de Portugal no quadro poltico Ibrico.
O prestgio da monarquia portuguesa atravessou fronteiras, em que no contexto poltico
ibrica, o rei de Portugal, D.Dinis, foi um interlocutor apreciado que interveio nas
decises internas do reino de Castela. Uma dessas intervenes suscitou o Tratado de
Alcanises e, com ele, a resoluo do problema da fronteira terrestre entre os dois reinos.
Para a sua afirmao contribui tambm a Coroa de Arago onde se estreitaram os laos
o monarca portugus casou com a princesa Isabel de Castela; a interveno, no
reinado de Afonso IV, cujo apoio militar solicitado pelo seu genro, Afonso XI, em que
os Mernidas de Marrocos ameaavam restaurar o domnio muulmano na Pennsula.; e
ainda quando as foras portuguesas e castelhanas travaram a Batalha do Salado com as
hostes muulmanas, a vitria crist foi total. Portugal afirmava-se assim, entre os
grandes, ombreando com os monarcas peninsulares.
3.Valores, vivncias e quotidiano
Linha conceptual
No sculo XIII, a cidade fervilha de inovaes: abre as suas portas s novas formas de
arte, erguendo, em estilo gtico, catedrais altssimas; acolhe os estudantes que acorrem
s suas escolas e universidades; desenvolve novos laos de solidariedade, dando um
novo sentido caridade crist.
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Partilhando estes tempos de mudana, a velha nobreza guerreira deixa-se imbuir
(convencer) dos nobres ideias da cavalaria, que as histrias romanceadas de heris reais
e lendrios propagam pela Europa. Assim se adota, nas cortes rgias e senhoriais, outra
forma de estar e de conviver, mais refinada, em que o amor passa a assumir um lugar
destacado.
Nesta poca, abrem-se tambm novos horizontes geogrficos. O gosto pelas viagens,
adormecido desde o fim do mundo romano, desperta nos Europeus. Cruzam-se os
caminhos do comrcio, percorrem-se os caminhos de peregrinao, encetam-se longas
travessias rumo a um Oriente fabuloso e desconhecido. A vastido do mundo comea a
entrever-se. Aos Portugueses caber, mais tarde, precisar os seus contornos.
Reconhecer os elementos caractersticos do estilo gtico.
Principais elementos construtivos:
Arco quebrado veio substituir o arco de volta inteira, este arco tambm
chamado de arco gtico confere aos portais e s arcaturas interiores um aspeto de
verticalidade e elevao.
Abbada de cruzamentos de ogivas esta identifica-se pelos arcos diagonais
de suporte (ogivas) que so compostas por seces independentes (tramos)
justapostas. Os arcos de cada tramo desempenham o papel de uma armao,
suportando o peso da abbada e descarregando-o nos quatro ngulos onde se
encontram os pilares, permitindo assim fragilizar as paredes, introduzindo-lhes
grandes aberturas preenchidas por vitrais.
Arcobantes servem para reforar, no exterior, os pontos de presso. O
arcobante composto pelo estribo que reforado por um pinculo e por um ou
mais arcos que, partindo do estribo, vm apoiar as paredes da nave central.
Arcobantes, pinculos e elementos decorativos conferem catedral gtica grande
parte da sua imponncia e identidade.
Ligar o estilo gtico afirmao do mundo urbano.
Com o objetivo de embelezar e engrandecer, os burgueses contribuam com quantias
avultadas para as grandes construes urbanas, da que surge um novo estilo artstico, o
Gtico, que d expresso ao orgulho citadino. As suas construes eram elevadas a
grandes alturas como meio de competir com a cidade vizinha quem era a mais poderosa,
quanto mais alta fosse maior seria a importncia do burgo e das suas gentes.
Identificar construes gticas portuguesas.
Mosteiro de Alcobaa e da Batalha e a S de vora
Enquadrar a expanso do ensino nas transformaes econmicas e polticas
dos ltimos sculos da Idade Mdia.
No sc. XI, organizaram-se as primeiras escolas urbanas, onde a multiplicidade destas
deveram-se s novas necessidades da administrao e da economia. As cidades
precisavam de pessoas com estudos para os seus mais altos cargos nos tribunais, nas
reparties pblicas, ou seja, de homens de letra que constitussem o novo
funcionalismo pblico, necessrios centralizao do poder pelos monarcas. Assim
contriburam para o desenvolvimento econmico do pas e para preencher cargos na
politica.
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Sublinhar o papel desempenhado pelas universidades na renovao cultural
da Europa.
No decurso do sc. XII, algumas escolas catedralcias obtiveram, pela qualidade dos
seus mestres, fama internacional que atraam assim, numerosos estudantes
estrangeiros e especializaram-se em reas como o Direito, a Teologia ou a Medicina.
Consoante a estrutura da escola se foi dificultando, houve a necessidade de criar uma
estrutura rgida, que definisse claramente as matrias a estudar e a forma de obteno
dos graus acadmicos, podendo tambm defender os seus membros, docentes e
alunos. Foi ento que surgiram as universidades. Estudar numa universidade passou a
ser, desde ento, uma forma de adquirir prestgio e subir na escala social. Foi assim
que comearam importantes e prestigiadas Universidades pela Europa, como as duas
escolas catedrais a de Notre-Dame, em Paris, e a de Bolonha e, mais tarde em 1290 a
primeira universidade portuguesa de nome, o Estudo Geral de Lisboa.
Caracterizar o ideal cavaleiresco.
A nobreza identificava-se, por volta de 1300, com um ideal mais elevado: o do
perfeito cavaleiro.
A primeira condio exigida ao cavaleiro o seu bom nascimento, pois para entrar na
cavalaria tinha de ser nobre. Este deveria seguir uma srie de virtudes militares
herdadas dos sculos anteriores: a honra, a coragem, a lealdade para com o se senhor.
A estas somam-se a virtude e a piedade, pois a cavalaria , simultaneamente, um ideal
profano e religioso, que por isso deveriam tambm seguir um ideal de cruzadas.
Estes ainda deveriam seguir um cdigo de amor que existia entre os cavaleiros: o
cavaleiro o heri que serve por amor.
Descrever a educao do jovem cavaleiro.
A concretizao dos ideais cavaleirescos s poderia ser feita atravs de uma educao
rigorosa. S depois de ter transporto todas as suas etapas e de ter dado provas da sua
habilidade e valentia, o jovem tinha a suprema honra de ser armado cavaleiro.
A educao do jovem cavaleiro nos seus primeiros anos de vida era feita sob os
cuidados da sua me e depois, j rapaz, era enviado para o pao de um senhor de maior
estatuto, onde permanecia at a idade adulta. A servia, primeiro, como pajem (cerca de
7 anos), iniciando-se na equitao e no manejo de armas. Em adolescente este tornava-
se escudeiro onde, durante 7 anos, este servia um cavaleiro, a quem tratava do cavalo e
das armas, acompanhando-o nas suas expedies e assistindo-o em tudo o que
respeitasse s lides de cavalaria. Durante este perodo o jovem desenvolvia um treino
intenso onde praticava uma srie de desportos, onde se destacavam a caa, os torneios e
as justas.
Depois de cerca de 14 anos de aprendizagem, o jovem escudeiro proferia os votos de
cavalaria que eram enquadrados por um ritual solene. Por fim, era investido numa
ordem de cavalaria, recebendo as esporas de cavaleiro e a to desejada espada.
Sublinhar a importncia assumida pela literatura na difuso de novas
formas de sociabilidade.
O florescimento das cortes rgias e senhoriais proporcionaram o convvio entre os
dois sexos que, a partir do sc. XII, revestiu uma forma especfica, conhecida por
amor corts. O amor corts essencialmente espiritual em que a sua dama
corresponde ao tipo idealizado de mulher.
Esta propagao do ideal de amor corts tiveram importncia nas poesias
trovadorescas.
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
O amor foi, pois uma componente essencial da sociabilidade cortes, e da cultura
erudita da Idade Mdia. Sobre ele, a sua essencia e a sua valia travaram-se longos
debates e escreveram-se algumas das obras mais belas deste perodo. Ele foi, para
muitos, um cdigo de vida, seno mesmo um ideal de vida.
Explicar o renascimento do gosto e da prtica das viagens.
O renascimento do gosto d-se nos scs. XIII e XIV quando, sob o impulso do
comrcio, as velhas barreiras geogrficas, que tinham fechado a Europa entre si mesma
e isolado as suas regies, comearam a ceder. O desenvolvimento do grande comrcio
criou laos entre os mercadores e os governantes. Assim muitas viagens aliaram-se ao
negcio misses politico-diplomticas e muitos comerciantes comearam a
desempenhar o papel de embaixadores das cortes da Europa.
Reconhecer nas romarias e peregrinaes uma forma tpica de religiosidade
medieval.
Na Idade Mdia, a religio assumia contornos muito concretos exprimindo-se pela
prtica dos atos rituais: a orao nas horas cannicas, a assistncia aos ofcios
religiosos, a confisso, a penitncia, os jejuns e as peregrinaes eram obrigaes de
todos os que aspiravam vida eterna.
Em toda a Cristandade abundavam igrejas, capelas e ernidas que eram objeto de
devoo especial. A elas acorriam grande nmero de pessoas em busca de alvio para
as suas doenas, em pagamento de promessas feitas ou, simplesmente, para satisfao
da f.
Estas deslocaes incluam as romarias, celebraes organizadas em honra de um
santo, numa data fixa do ano, estas atraam numerosos fiis e assumia muitas vezes
um carter ldico e folgazo. Pela sua constante repetio e pela estreita aliana entre
a componente religiosa e profana, as romarias foram uma das expresses mais
notveis da cultura popular medieval.
O componente maior da tradio judaico-crist era o hbitos das grandes
peregrinaes estas eram feitas principalmente para trs locais distintos de
peregrinao da Cristandade Ocidental: Jerusalm, Roma e Santiago de Compostela.
Distinguir as expresses da cultura erudita das da cultura popular.
A cultura erudita a cultura prpria dos grupos mais elevados da sociedade,
intimamente ligada leitura e ao estudo. uma cultura intelectualizada, no acessvel
maior parte da populao. Na Idade Mdia, so focos de cultura erudita os conventos,
com as suas livrarias, as universidades e as cortes rgias e senhoriais.
Mdulo 3 : A Geografia cultural europeia de Quatrocentos e Quinhentos
Scs. XV e XVI
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Humanismo
Renascimento Classicismo
Individualismo
Luteralismo (Alemanha Lutero)
Protestante Calvinismo (Suia Calvismo)
Reforma Anglicanismo (Inglaterra Henrique VIII)
Catlica
Conslio de Trento
Inquisio/ Index (Censura)
Companhia de Jesus
Portugal
Expanso Martima
Espanha
Teoria heliocntrica (Nicolau Coprnico)
Inveno da Imprensa (Gutenberg)
Linha conceptual
Nos sculos XV e XVI, vive-se um dinamismo civilizacional notvel numa Europa que
se abre ao Mundo e ultrapassa as crises dos finais da Idade Mdia.
o tempo do Renascimento, movimento cultural iniciado em Itlia. Baseado na
Antiguidade Clssica, faz do Homem o centro do conhecimento, da cultura e da beleza
artstica.
Embora a Itlia, pela sua herana e contactos, sirva de matriz inspiradora ao
ressurgimento greco-latino, toda a Europa participa da renovao cultural.
No Ocidente da Europa, Lisboa e Sevilha so portas abertas para o Mundo, como ponto
de partida e chegada das rotas transocenicas que interligam para sempre a Europa, a
frica, a Amrica e a sia.
Pelo conhecimento (de experincia feito) de novas terras, novos mares, novos povos, os
pases ibricos contribuem para a vivncia universalista da cultura do Renascimento.
Reis da 2 Dinastia: de Avis ou Joanina (1385-1580)
D.Joo I (1385-1433)
D. Duarte (1433 1438)
D Afonso V (1438 1481)
D. Joo II (1481 1495)
D. Manuel I (1495 1521)
D. Joo III (1521 1557)
D. Sebastio (1557 1578)
Regncia Cardeal D. Henrique (1578 1580)
Explicar a ampliao do conhecimento do mundo empreendida pelos
europeus nos sculos XV e XVI.
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
na poca Moderna (1450) que se vive um dinamismo civilizacional do Ocidente.
Praticamente recuperados da fome, da peste e da guerra, as cidades europeias
reanimam-se e, nelas, elites burguesas e aristocrticas fazem fortunas, voltando,
ento, o continente a ser um mundo cheio.
nestas condies que surge a expanso cultural.
Sublinhar manifestaes de progresso econmico, demogrfico, social e
poltico europeu nos scs. XV e XVI.
A abertura do Mundo, a cargo dos povos ibricos, concretiza-se com a descoberta das
rotas do Cabo e das Amricas, assim que surge uma pluralidade de mares, terras e
gentes que se oferece ao olhar curioso dos Europeus.
Revolucionam-se as tcnicas e os conhecimentos, onde a nutica e a cartografia
sofrem transformaes de vulto, acompanhando o domnio do espao planetrio. A
plvora e as armas de fogo ditam a supremacia do Ocidente no mar e em terra. E
ainda, a Imprensa dissemina-se pela Europa e pelo mundo.
Salientar a importncia de alguns inventos tcnicos ento ocorridos, por
exemplo o da imprensa.
Em pleno sculo XV-XVI, na poca Moderna, surge a Imprensa (carateres metlicos
e a prensa de impresso), a inveno de Gutenberg que veio mudar o Mundo. Esta
que era muito diferente da atual, onde o trabalho do impressor era muito menos e
tambm menos complexo.
Este novo meio que veio expandir o conhecimento foi-se alastrando por toda a
Europa e pelo Mundo tornando-se assim um poderoso veculo, no s para a
expanso cultural mas tambm para o intercmbio de ideias e de difuso de notcias.
Com as novas tendncias que surgem do Ocidente, onde a Imprensa foi um meio
essencial para que estas chegassem a todos os cantos do Mundo, pelo qual neste
contexto o Renascimento eclode e se expande que, sem dvida, marcou a Europa.
Integrar a renovao cultural renascentista nos progressos tcnicos.
derivada ao contexto das perguntas anteriores que o Renascimento surge e se
expande. Com elas descobriu-se o Homem, como criatura boa, livre e responsvel,
feita medida de todas as coisas. E ainda, ele foi o protagonista do movimento
humanista.
Tendo a arte como a influncia da Antiguidade Clssica, o Homem continuou a seguir
os seus passos, continuando a usar os seus temas e estilos, os seus cnones, etc.
A extraordinria capacidade de interveno cultural do Homem renascentista
repercutiu-se tambm na investigao cientfica, que o incentivou na pesquisa e na
descoberta dos segredos da Natureza e do Universo .
Distinguir os principais centros culturais da Europa Renascentista.
Os principais centros culturais da Europa Renascentista foram o Sacro Imprio
Romano Germnico, Roma, Pennsula Ibrica, Pases Baixos e Frana
Reconhecer o papel inspirador da Itlia.
A origem do Renascimento d-se na Itlia. Porqu em Itlia?
Riqueza das cidades italianas (comrcio das rotas do Levante/ oriental);
Existncia de mecenato (proteo/apoio aos artistas) : ricos comerciantes,
banqueiros (ex.Mdicis) e os Papas.
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Rivalidade existente entre as cidades italianas (no apoio e contratao dos
melhores artistas, na construo dos edifcios)
Herana clssica.
Principal humanista na Itlia o Pico della Mirandola, o arquiteto Brunelleshi, os
pintores Botticelli, Tintoretto, Ticiano e Leonardo da Vinci e ainda prestigiados artistas
como Rafael e Miguel ngelo.
Identificar inovaes e snteses culturais. & Relacionar o dinamismo
civilizacional dos sculos XV e XVI com a promoo do Ocidente.
O renascimento italiano contagiou a Europa. Eram bastantes aqueles que
demandavam a Itlia em busca de novidades, regressando aos seus reinos e cidades com
outros saberes literrios, filosfico-morais e artsticos que os deram a conhecer. Assim
germinou e se desenvolveu o Renascimento europeu, que fundou a lio italiana com as
tradies locais, dando origem a curiosas snteses e reinterpretaes.
Os pases Baixos, que cedo se rivalizaram com a Itlia, contribram bastante atravs do
seu grau elevado de aperfeioamento tcnico na pintura. Os flamengos Van Eyck, Van
der Weiden, notabilizaram-se pelo segredo de uma pintura a leo de grande riqueza
cromtica e pormenor descritivo, em temticas religiosas, burguesas ou populares. E
ainda atravs do holands Erasmo de Roterdo, um notvel filsofo e moralista que
revelou, atravs do seu domnio do latim e do grego, a pureza original dos textos
bblicos.
A Frana brilha no panorama cultural renascentista, atravs do mecenato, onde
impulsionou os estudos humanistas e a aplicao nos castelos de uma decorao
classicizante.
No Imprio Germnico, mais propriamente em Nuremberga, tornou-se um importante
plo de estudos matemticos, astronmicos e cartogrficos, atravs dos seus centros de
imprensa e de universidades.
Da Alemanha provieram os pintores Durer e Holbein, cujos retratos combinam o
pormenor descritivo e a perceo psicolgica, de tradio nrdica, com a tcnica
italiana.
Na Pensnsula Ibrica, a Universidade de Alcat de Henares ou o Colgio das Artes e
Humanidades foram importantes focos do Humanismo.
Na Hungria contribui o mecenato e na Polnia a sua Universidade desempenhou um
papel primordial na irradiao das novas ideias.
Destacar a especificidade do contributo cultural ibrico para a sntese
renascentista.
O reino ibrico contribui bastante na sntese renascentista, no afluxo das mercadorias
ultramarinas, nos conhecimentos geogrficos e tambm no saber tcnico forjado na
experincia dos mares.
Interpretar o cosmopolitismo de Lisboa e Sevilha.
Lisboa e Sevilha, os dois primeiros imprios coloniais da Europa moderna, voltaram-
se as atenes dos coevos. Estas tornaram-se em cidades cosmopolitas, pois
fascinavam pelas riquezas que acolhiam e pelas muitas e variadas gentes que as
demandavam.
Devido s navegaes portuguesas para os arquiplagos atlnticos, a frica e a ndia
e o Brasil, Lisboa transformou-se, nos primeiros anos de Quinhentos, na metrpole
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
comercial e porta aberta para o do Mundo, ou seja, desde o sc. XV, Lisboa assumia,
o lugar de metrpole poltica.
O porto de Lisboa espantava pela concentrao de navios que o visitavam, vindo de
todos os quantos do mundo, vinham as tripulaes das armadas, soldados,
missionrios, mercadores e aventureiros, entre outros que partiam ou chegavam do
Imprio. L encontravam-se grandes variedades de produtos que vinham de todo o
mundo, mas que tambm serviam para a importao ou para a comercializao no
pas.
Foi assim que a capital do reino foi testemunha do seu dinamismo demogrfico, onde
nela a maior parte dos residentes, para alm dos naturais de l, tinham grandes
contingentes de escravos, mas tambm de fluxos migratrios que despovoavam o
interior.
Sevilha deve o seu imenso imprio territorial descoberta, por Cristvo Colombo,
da Amrica um continente bastante rico em especiarias e em ouro e prata.
A Sevilha coube o papel de capital econmica da Espanha, no sc. XVI, disputando,
juntamente com Lisboa, o domnio mundial das rotas ocenicas.
A sua conquista trouxe-lhes grandes riquezas e poder fazendo com que esta acolhe-se
os representante das grandes firmas comerciais estrangeiras. Chamaram-lhe mapa
geogrfico de todas as naes, com as suas colnias de genoveses, flamengos,
franceses e portugueses, que aguardavam ansiosamente a chegada dos galees.
Sevilha era uma cidade de contrastes, de grandezas e misrias, que nem as suas
adversidades fez com que deixa-se de ser uma cidade procurada por todos.
A Geografia Culturas de Quatrocentos e de Quinhentos
Scs. XV e XVI
POCA MODERNA
Viagens de navegao: Renascimento :
- portugueses; - cidades italiana;
- espanhis; - resto da Europa;
- Tcnicas nuticas Imprensa difuso
- Progressos da cultural - Classicismo;
cartografia - Descoberta do Mundo;
- Mecenato;
- Humanismo;
Cosmopolitismo: - Racionalidade;
Promoo do Oriente
- Lisboa; - Antropocentrismo
- Sevilha;
O alargamento do conhecimento do mundo
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Linha conceptual
Nos sculos XV e XVI, as viagens transocenicas dos Portugueses alargam o
conhecimento do Mundo. Desvendam novas terras, novos mares, novas gentes, novos
astros; revelam floras e faunas desconhecidas; conduzem ao aperfeioamento das
tcnicas nuticas; repercutem-se numa nova representao cartogrfica da Terra.
Fundados na observao e no contacto direto com as realidades, que descrevem rigorosa
e pormenorizadamente, os novos conhecimentos da Natureza e do Mundo desacreditam
as opinies dos Antigos. A experincia, madre das cousas, eleva-se a autoridade e fonte
do saber.
O experiencialismo, nome dado a esse novo saber, no , porm, ainda cincia. Quando
a reflexo matemtica o completar, o mtodo cientfico define-se. Um exemplo da sua
aplicao ocorre na astronomia, conduzindo revoluo das concees cosmolgicas.
Resumir os progressos nuticos e cartogrficos dos sculos XV e XVI.
Nos sculos XV e XVI, os descobrimentos martimos dos portugueses contriburam
para o alargamento do conhecimento do Mundo e para a sntese renascentista.
Estes quando comearam a sua expanso j beneficiaram de uma herana de invenes
e tcnicas de navegao. Como o leme montado no cadaste era mais fcil de manobrar
e permitia mudar de direo com maior rapidez; a bssola permitiu o traado de
rumos na navegao, traduzindo-se em cartas-potulano (misto de cartas-geogrficas e de
roteiro, com o nome dos portos e informaes diversas sobre a navegao); e ainda o
astrolbio e o quadrante instrumentos de orientao a partir da altura dos astros.
Com os avanos da navegao portuguesa no Atlntico, as tcnicas nuticas evoluram
desde meados do sc. XV. Surgindo assim:
Caravelas necessidade de navegar bolina, permitiu tirar partido de todas as
variaes e direes do vento; revelando-se um navio veloz.
Mau e o galeo navios mais resistentes e de maior porte, capazes de receber
uma carga mais avultada; fortemente artilhados, estes navios dominaram os
oceanos, forando os contactos com outras civilizaes.
Com a cartografia aconteceu o mesmo. O Mundo, que era at ao sc XV era conhecido
pela cartografia medieval entre outras antigas, foi-se mostrando muito longe do que era
na realidade, o que provaram nas viagens martimas ibricas. Foi com esta expanso
martima que se provaram a falsidade das representaes cartogrficas medievais,
apresentadas at ento: o Planisfrio T-O, O Planisfrio de zonas e o Planisfrio de
Ptolomeu.
No aperfeioamento notvel que foi feito, foram em primeiro lugar, vistas as concees
medievais, dando-se a conhecer com alguma exatido, muitas regies da Terra at ento
ignoradas ou mal conhecidas na Europa. Simultaneamente, contornos de mares e terras
adquiriram um traado mais rigoroso e as distncias tornaram-se mais prximas da
realidade. Os cartgrafos portugueses tornaram-se assim, os mais aptos para traduzirem
o mundo conhecido, no s graficamente, pois, introduziram nos mapas, a par das
escalas de latitude, dos planos hidrolgicos com vistas de costas e do registo das sondas,
toda uma exploso informativa de etnias, faunas e floras. Embora a graduao das
longitudes fosse ainda fictcia, os estudos portugueses sobre a declinao magntica
haveriam de contribuir para as projees mais rigorosas da cartografia europeia.
Relacionar esses progressos com a apropriao do espao planetrio
proporcionado pela expanso ibrica.
Navegar por rumo e estima, com o apoio da bssola e dos seus rumos e o clculo por
estimativa das distncias percorridas, revelaram-se insuficientes.
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
Para responder ao desafio da navegao no mar alto, na segunda metade do sculo XV,
os portugueses ensaiaram um conjunto de prticas metdicas que deram origem
chamada navegao astronmica tcnica de navegao martima que recorre
observao da altura dos astros e ao clculo da latitude (e, mais tarde, da longitude) para
a orientao dos marinheiros. Comearam por simplificar o astrolbio e o quadrante e
inventaram a balestilha: com eles mediam a altura dos astros; mais tarde, valeram-se de
tbuas solares e de regimentos dos astros, a fim de introduzirem correes na medio
das alturas entre tanto efetuadas. A latitude estava finalmente encontrada!
Sintetizar os grandes contributos da expanso martima, nomadamente da
portuguesa, nos domnios da geografia fsica e humana, da botnica, da
zoologia e da cosmografia.
A expanso martima proporcionou aos Portugueses uma atenta observao da
Natureza.
Nos Roteiros e noutras obras sobre geografia fsica, humana e econmica, os
Portugueses descreveram com notvel cuidado as informaes da realidade observada,
como o caso de D.Joo de Castro, em que nos seus Roteiros contm observaes
rigorosas sobre a hidrografia de baas e portos, a determinao de latitudes, o
magnetismo terrestre.
A mesma anlise realista e pormenorizada evidencia-se nas descries de faunas e floras
de frica, Oriente e Brasil. Pela primeira vez, foram dados a conhecer animais como a
girafa, o elefante e o rinoceronte, frutos, alimentos e plantas como o anans, a manga, o
milho ou as drogas da ndia.
Na botnica e farmacopeia oriental, tem um real destaque para Garcia da Orta, que
escreveu os Colquios, onde critica os autores clssicos de farmacopeias, sobrepondo-
lhes as suas opinies baseadas na observao direta e na experincia, nicas formas de
se atingir a verdade.
Sublinhar o carter experiencialista deste novo saber proporcionado pela
Expanso.
Ao negar ou corrigir os Antigos, os Portugueses ajudaram a construir um novo saber,
um saber de experincia feito, que tem o nome de experiencialismo. Com destaque para
o gegrafo e cosmgrafo, Duarte Pacheco Pereira, autor da obra Esmeraldo de Situ
Orbis, que nela conclui que a experincia nos faz viver sem engano das abuses e
fbulas. Pedro Nunes, matemtico e cosmgrafo, foi outro da mesma opinio e tambm
prestou homenagem ao contributo das viagens transocenicas dos Portugueses para o
conhecimento da Terra, dos astros e dos povos.
Todavia, os novos conhecimentos derivados do experiencialismo resumiram-se a
observaes e descries empricas da Natureza.
Mas se o saber portugus dos sculos XV e XVI ainda no foi cincia, a verdade que
ele contribui para o exerccio do esprito crtico que se encontra nas razes do
pensamento moderno.
Distinguir o experiencialismo da cincia moderna.
O experiencialismo uma forma de sabedoria que se identifica com a vivncia das
coisas, mais prxima da constatao emprica dos sentidos e do bom senso que da
reflexo cientfica. Enquanto que a cincia moderna defende um mtodo cientfico, ou
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
seja, os resultados da observao e da vivncia experiencial, para serem verdadeiros,
tm de ser justificados pela reflexo terica e matemtica.
Foi ento que o Renascimento produziu um conjunto de progressos nos domnios da
lgebra e da geometria que favoreceram o raciocnio matemtico. Fruto dos destes
progressos e suporte de explicaes cientficas, o Homem renascentista revelou uma
mentalidade quantitativa atitude que leva a dimensionar e a compreender todas as
facetas da vida em termos de nmeros e quantidades
Interpretar a revoluo cosmolgica coperniciana, completada por Galileu,
como uma manifestao da cincia moderna.
Atravs da combinao do clculo matemtico com a observao e o saber
experimental, operou-se a chamada revoluo das concees cosmolgicas que est na
origem da cincia moderna.
Tudo comeou com Coprnico (revoluo coperniciana) que se atreveu a contrariar a
teoria geocntrica de Ptolomeu, respeitada desde o Sc. II. A Igreja defendia a teoria de
Ptolomeu, de que de maneira nenhuma era a Terra que se movia e no o sol, pois
contrariava uma passagem da Bblia em que deus parava o Sol.
Coprnico criou uma nova teoria que a expos na sua obra, De Revolutionibus Orbium
Coelestium. Nela dizia que a Terra no era o centro do Universo, mas o Sol (teoria
heliocntrica). Todas as esferas celestes, incluindo a Terra giram em volta do Sol, num
movimento chamado de translao, tal como giram em torno do prprio centro, num
movimento de rotao. Apenas a Lua gira volta da Terra. Aos movimentos de rotao
e translao da Terra se deve a sucesso dos dias e das noites e das estaes de ano.
Quanto ao movimento, Coprnico explica-o como sendo o resultado da projeo na
abbada celeste do movimento da Terra.
As repercusses culturais das concluses de Coprnico no foram imediato, sentidas,
visto ter morrido pouco tempo depois mas, outros sbios, com as suas teorias
explicativas e os seus dados experimentais, prosseguiram o caminho iniciado por
Coprnico, abalando o universo geocntrico de Ptolomeu e a doutrina da Igreja. No
espao de um sculo, a revoluo das concees cosmolgicas receberia um grande
impulso, com os contributos de Giordano Bruno (defende a teoria de um mundo
infinito), Ticho Brahe, Jonhannes Kepler e Galileu Galilei (comprova, finalmente, a
teoria heliocntrica de Coprnico) .
O Alargamento do conhecimento do Mundo
Ana Rita Santiago
Resumo de Histria 1 teste, 3periodo
PORTUGAL
Saberes tcnicos Saberes cientficos Figuras histricas
- bssola;
- leme fixo popa;
- caravela;
- astrolbio;
- quadrante; Navegao Infante
- balestilha; astronmica D. Henrique
- tbuas de
declinao solar
- Cartas portulano;
- Mapas detalhados; Base de dados - Irmos Reinel
- Guias nuticos; cartogrficos - Irmos Homem
- Roteiros
Viagens de - Experiencialismo - Duarte Pacheco
navegao - Mentalidade Pereira
quantitativa - Pedro Nunes
Revoluo experimentalista
cosmolgica do sc. XVII
Ana Rita Santiago
Você também pode gostar
- Série Cadernos Pedagógicos Mais EducaçãoDocumento407 páginasSérie Cadernos Pedagógicos Mais Educaçãocomitedintegral_saopaulo89% (9)
- 6 Exercícios Recursos MarítimosDocumento18 páginas6 Exercícios Recursos MarítimosSofia SilvaAinda não há avaliações
- TCC - 2017Documento49 páginasTCC - 2017Maria ZoeAinda não há avaliações
- Teorias Sociais e AntropológicasDocumento3 páginasTeorias Sociais e AntropológicasMarinaAinda não há avaliações
- Conceitos de Missão-Visão e ValoresDocumento13 páginasConceitos de Missão-Visão e ValoresShirley AfonsoAinda não há avaliações
- #EstudoEmCasa EMeio Cidadania 3 4 Aula 8Documento3 páginas#EstudoEmCasa EMeio Cidadania 3 4 Aula 8Sofia SilvaAinda não há avaliações
- A Importância Do Bem-Estar Organizacional: Locais de Trabalho Mais Saudáveis e ProdutivosDocumento15 páginasA Importância Do Bem-Estar Organizacional: Locais de Trabalho Mais Saudáveis e ProdutivosSofia Silva100% (1)
- ContentServer (1) .En - PT (1) - 12Documento16 páginasContentServer (1) .En - PT (1) - 12Sofia SilvaAinda não há avaliações
- Revisoes Sobre Cesario VerdeDocumento2 páginasRevisoes Sobre Cesario VerdeSofia SilvaAinda não há avaliações
- Texto Sobre A Dança Do GambáDocumento11 páginasTexto Sobre A Dança Do GambáIvan VerasAinda não há avaliações
- História Do OmolokoDocumento9 páginasHistória Do OmolokoEduardo Martinez100% (1)
- MR - ARte - Por Toda ParteDocumento20 páginasMR - ARte - Por Toda ParteFrancisco Roque Magalhães Neto33% (3)
- Renato Alves 1Documento215 páginasRenato Alves 1Tu te tudiiAinda não há avaliações
- Livro PSICOLOGIA e DireitoDocumento35 páginasLivro PSICOLOGIA e DireitoLucas RibeiroAinda não há avaliações
- Encontros de Formação Liturgia e CatequeseDocumento15 páginasEncontros de Formação Liturgia e CatequeseCrissiqueiraAinda não há avaliações
- A Ditadura Escancarada Elio GaspariDocumento112 páginasA Ditadura Escancarada Elio GaspariPaulo RemuloAinda não há avaliações
- Relacionamentos Amorosos Na JuventudeDocumento20 páginasRelacionamentos Amorosos Na JuventudeEliezer BordinhãoAinda não há avaliações
- Existe Ogan RaspadoDocumento2 páginasExiste Ogan Raspadoologuny100% (1)
- Os Novos Movimentos ReligiososDocumento26 páginasOs Novos Movimentos ReligiososVictor Breno Farias BarrozoAinda não há avaliações
- Exegese BíblicaDocumento121 páginasExegese BíblicaJorgeAinda não há avaliações
- A Natureza Da Realidade Pessoal - Jane RobertsDocumento308 páginasA Natureza Da Realidade Pessoal - Jane RobertsAutodidático Aulas100% (7)
- A Cigarra e A Formiga PDFDocumento11 páginasA Cigarra e A Formiga PDFThais RabeloAinda não há avaliações
- 06 EclesiologiaDocumento12 páginas06 EclesiologiaJohnnata dos SantosAinda não há avaliações
- Maias - Critica Dos CostumesDocumento2 páginasMaias - Critica Dos CostumesCatarina EstanqueiroAinda não há avaliações
- Conceito Da Antropologia de CulturaDocumento7 páginasConceito Da Antropologia de CulturaRafael Manuel NhanombeAinda não há avaliações
- DESIGN GRÁFICO (TECNOLÓGICO) - Cruzeiro Do Sul VirtualDocumento5 páginasDESIGN GRÁFICO (TECNOLÓGICO) - Cruzeiro Do Sul VirtualHeriberto Carlos Dos SantosAinda não há avaliações
- Pisetta, Maria Angélica A.M (2017) - Escuta de Professores de Autistas Na Educação Infantil. in ANAIS UP5 - Atualizado 14-11-2019Documento322 páginasPisetta, Maria Angélica A.M (2017) - Escuta de Professores de Autistas Na Educação Infantil. in ANAIS UP5 - Atualizado 14-11-2019Angélica100% (1)
- História (Idade Média)Documento2 páginasHistória (Idade Média)Nico AnasaladoAinda não há avaliações
- Anotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetoDocumento9 páginasAnotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetofabiomojicaAinda não há avaliações
- Cultura OrganizacionalDocumento11 páginasCultura OrganizacionalGuilherme GomesAinda não há avaliações
- Como Conversar Com Um FascistaDocumento8 páginasComo Conversar Com Um FascistaCarlosGigante50% (2)
- Teoria Da LiteraturaDocumento56 páginasTeoria Da LiteraturaRonie JohnAinda não há avaliações
- Belo Horizonte - História AntigaDocumento432 páginasBelo Horizonte - História AntigaJosé Renato TeixeiraAinda não há avaliações
- Ana Julia Pacheco - Educação Física e Dança - Um Estudo BibliográficoDocumento16 páginasAna Julia Pacheco - Educação Física e Dança - Um Estudo BibliográficoOdraudeIttereipAinda não há avaliações
- Coleção Cadernos EJA - 05 Globalização e TrabalhoDocumento64 páginasColeção Cadernos EJA - 05 Globalização e TrabalhoCadernos EJA50% (2)