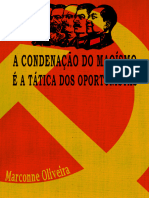Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
2 - Cidadania e Exclusão Social PDF
2 - Cidadania e Exclusão Social PDF
Enviado por
William Albuquerque0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações18 páginasTítulo original
2- Cidadania e Exclusão Social.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
19 visualizações18 páginas2 - Cidadania e Exclusão Social PDF
2 - Cidadania e Exclusão Social PDF
Enviado por
William AlbuquerqueDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 18
Cidadania e Exclusão Social
Sumário
Cidadania e Exclusão Social
Objetivos ...................................................................... 03
Introdução..................................................................... 04
1. Ideologias e Sistemas Econômicos....................... 05
2. Capitalismo e Exclusão Social.............................. 08
3. Cidadania............................................................ 11
4. O Surgimento do Terceiro Setor.......................... 14
Referências Bibliográficas............................................... 17
2 | Gestão Social e Ambiental
Objetivos
Ao final desta unidade, você deve apresentar os seguintes
aprendizados:
• Compreender as principais ideologias e sistemas políticos e
econômicos do século XX e da atualidade;
• Reconhecer a evolução do conceito de cidadania, bem como
seu significado na atualidade;
• Compreender o contexto de surgimento do Terceiro Setor
na sociedade, identificando suas principais características e
agentes.
Gestão Social e Ambiental | 3
Introdução
Nesta unidade de aprendizagem, abordaremos as principais
ideologias que alimentaram os sistemas econômicos e políticos
do mundo. Analisaremos o liberalismo e sua atual vertente (o
neoliberalismo), o socialismo e a social-democracia, para que possamos
entender melhor as diversas relações que se estabeleceram entre o
Estado, o mercado e a sociedade.
Na era da globalização, o capitalismo, alimentado pela
ideologia neoliberal, tornou-se o sistema econômico dominante,
provocando, porém, muitos impactos no fenômeno da desigualdade e da
exclusão social.
Nesta unidade, também estudaremos o conceito de cidadania,
bem como uma série de demandas que partem da sociedade e que não
são atendidas pelo Estado e, tampouco, pelo mercado. É neste contexto
que surge o Terceiro Setor na sociedade, no qual a sociedade civil
organizada terá importante papel, assim como as empresas.
4 | Gestão Social e Ambiental
1. Ideologias e Sistemas Econômicos
Para iniciar, é fundamental destacar que em cada regime político,
seja comunismo ou socialismo, capitalismo, social-democracia e neoliberalismo,
as diretrizes a serem tomadas pelo Estado apresentam diferenças.
Ao longo do século XX, nos países que acompanharam a
ordem comunista ou socialista, o aparelho estatal exerceu forte controle
sobre a ordem política e econômica, com pesados investimentos nas
áreas educacionais e de saúde. Entretanto, ao longo do período da
Guerra Fria, além do investimento nas áreas sociais, a indústria bélica
também se desenvolveu bastante.
Segundo Hunt e Sherman (2001), os regimes socialistas
ou comunistas basearam-se nas proposições de Karl Marx, teórico
do século XIX e um dos principais intelectuais a criticar os rumos
negativos do capitalismo industrial, acusando-o de ser um sistema
injusto e socialmente desigual. Para Marx, a forma da classe operária
se libertar desta dominação seria a organização em um movimento
revolucionário.
Esta organização destruiria a ordem capitalista e construiria o
socialismo, regime no qual os meios de produção econômica (como as
fábricas, as máquinas e as terras, por exemplo) seriam coletivos e toda a
economia seria controlada e planejada pelo Estado.
As proposições de Marx foram assimiladas por algumas
nações, dentre as quais a extinta União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS), Cuba, China, dentre outras. Entretanto, com a
Gestão Social e Ambiental | 5
queda do Muro de Berlim e o fim da URSS, saem de cena os principais
referenciais do movimento comunista.
Por outro lado, a social-democracia representou uma corrente
do marxismo que defendia a alternativa de construção de um Estado
socialista sem a dimensão revolucionária. Sua aposta era na alternativa
da democracia, baseada no pressuposto da igualdade, e na passagem
gradativa, por meio de processos legais e democráticos, do modelo
capitalista para o socialista.
A ideologia da social democracia se difundiu pela Europa,
pregando maior justiça social dentro do sistema capitalista, ao invés de
sua transformação radical, conforme pregavam os socialistas.
A ideia era a construção de um Estado de bem-estar social,
baseado na forte atuação dos governos para reduzir a pobreza e o
desemprego e garantir direitos sociais e trabalhistas.
Entretanto, segundo Negrão (1998), na década de 1980,
especialmente a partir dos governos de Margaret Thatcher (Inglaterra)
e Ronald Reagan (Estados Unidos), foi estabelecido um acordo
denominado “Consenso de Washington”, que definia os princípios do
neoliberalismo, que se tornaram a principal orientação das políticas
adotadas pelos governos na era da globalização. Vejamos a seguir os
princípios do neoliberalismo:
• Disciplina fiscal dos governos, que não devem gastar mais
do que arrecadam;
• Liberalização financeira, com o fim de restrições que
impeçam as instituições financeiras internacionais de
atuarem em igualdade de condições com as nacionais;
• Eliminação de restrições ao capital externo, tornando a
economia atraente para o investimento direto estrangeiro;
• Liberalização do comércio exterior e redução de taxas de
importação, com o objetivo de impulsionar a globalização
econômica;
• Redução da legislação de controle do processo econômico e
das relações trabalhistas.
6 | Gestão Social e Ambiental
No Brasil, a ideologia neoliberal mostrou-se influente,
especialmente a partir da década de 1990, quando o Estado privatiza
grandes empresas e abria o mercado para a atuação do capital
transnacional. É uma década considerada marcante para a entrada do
país na globalização econômica.
É importante esclarecer que a gênese da ideologia neoliberal
que domina o processo de globalização está no liberalismo clássico do
século XVIII, que questionou a legitimidade das monarquias absolutas
diante das demandas da sociedade. Assim, do ponto de vista intelectual,
surgia a necessidade de construção de um governo civil, baseado na ideia
de que a sociedade, devidamente organizada, deveria exercer algum tipo
de papel diante do Estado.
A ideia de individualismo surgiu como um forte aliado na
construção de uma doutrina que pudesse responder aos anseios de
uma camada da sociedade que começava a exigir representatividade e
legitimidade diante do Estado monárquico.
Quase dois séculos depois, no final do século XVIII,
a Revolução Francesa significou uma das maiores vitórias da
classe burguesa. Em seguida, a Inglaterra promoveu a primeira
Revolução Industrial.
Nesse contexto, a doutrina liberal assumiria um papel de
protagonismo nas políticas que foram impulsionadas pelos governos dos
países industrializados, na Europa do século XIX.
Ao final do século XIX, essa estrutura deu seus primeiros
sinais de declínio, com a crise de superprodução e a necessidade de
encontrar novos mercados consumidores. Como resultado, as empresas
começaram a buscar novas formas de enfrentamento da crise.
Entretanto, nenhum dos estilos de regime, nem o capitalismo nem
o comunismo, conseguiu, de fato, enfrentar a chamada “questão social”.
É fato que o capitalismo, do ponto de vista ideológico, é
o que mais se encaixa nos anseios das sociedades de consumo. Ele
Gestão Social e Ambiental | 7
está justamente baseado na ideia do consumo e da satisfação das
necessidades pessoais, de acordo com aquilo que o mundo do capital é
capaz de oferecer.
O capitalismo, embora tenha sua base na desigualdade
social, permanece no bojo da dinâmica social e é o sistema econômico
dominante na ordem global.
Atualmente, até mesmo em países que se definem comunistas,
como China e Cuba, é possível constatar a entrada de empresas, marcas
e outros ícones típicos das sociedades capitalistas.
Diante dessa crise, o capitalismo industrial promoveu algumas
mudanças, como a inserção de um modelo corporativo, atribuindo ao
Estado maior força e intervenção nas questões econômicas.
Por algum tempo, esse modelo foi assimilado. No início do
século XX, outros eventos colocaram em cheque o poder do capitalismo.
Dois acontecimentos fizeram estremecer a hegemonia do
capitalismo industrial, instaurando, pela primeira vez, uma nação dentro
de moldes socialistas:
• Primeira Guerra Mundial (1914 – 1917);
• Revolução Russa, em 1917.
Entre o final dos anos 1930 e início de 1940, a Segunda
Guerra Mundial redefiniu as esferas de poder ao dividir o mundo em
dois blocos: o socialista e o capitalista.
2. Capitalismo e Exclusão Social
O capitalismo, na condição de construção histórica, constitui-se
na manutenção da desigualdade social, pois, para que ele possa realizar
sua expansão, é necessário que exista, de fato, acumulação de capital.
Em outras palavras, podemos dizer que é preciso que exista, na
8 | Gestão Social e Ambiental
estrutura social, uma camada da sociedade destinada ao trabalho, sem
acesso a todos os bens de capital e cultural oferecidos pelo sistema. E,
por outro lado, é necessário que seja mantida uma determinada parcela
da população detentora do lucro.
O capitalismo leva a uma série de processos de exclusão social.
Segundo Popay (2008), a exclusão social é caracterizada por acessos
desiguais aos recursos, capacidades e direitos que produzem iniquidades,
resultando em processos de vulnerabilidade, fragilização ou precariedade
e até de ruptura dos vínculos sociais nas seguintes dimensões:
• Ocupacionais e de renda;
• Familiares e sociais;
• Culturais;
• Políticas ou de direitos de cidadania.
Sabemos que processos excludentes geram uma distribuição
desigual de recursos e impedem que certos grupos possam desfrutar
ou ir além das necessidades básicas de convivência em uma sociedade
diversa e participativa e em um meio ambiente sustentável.
A exclusão social tornou-se visível e contundente na sociedade,
a partir de fenômenos como a população de rua e a violência urbana.
(Nascimento, 1993).
Véras (2001) observa muito bem algumas consequências
desta exclusão social. As condições desfavoráveis de tais contingentes
contribuíram para gerar sentimentos de hostilidade, desconfiança e medo
por parte de outros segmentos da sociedade, gerando demandas que
fizeram proliferar os serviços voltados para a segurança e para a repressão.
Consequentemente, as energias são canalizadas não para a
resolução das graves questões sociais fomentadas pela exclusão, mas sim,
para implantar medidas paliativas, voltadas para a tentativa de conter os
efeitos perversos da exclusão.
A proliferação de loteamentos, condomínios fechados e
shopping centers, todos rigorosamente vigiados e com controle de
acesso, representam muito bem essa dinâmica.
Gestão Social e Ambiental | 9
A maior parte dos processos de exclusão social está relacionada
às condições econômicas dos grupos, e se fazem mais presentes em
situações de intensa pobreza e desigualdade social.
Porém, a exclusão social pode se desenvolver fora do âmbito
da pobreza, atingindo grupos minoritários que não têm acesso a certos
direitos.
Durante muito tempo, por exemplo, os casais homossexuais
estiveram excluídos do direito de constituir união estável e de transmitir
sua herança para os companheiros.
No sistema capitalista, ideologicamente falando, os detentores
do capital econômico e cultural formulam as diretrizes a serem
assimiladas pelas demais camadas da sociedade.
Alguns autores irão dizer que, por este motivo, o capitalismo
consegue, ao longo do tempo, sair de suas crises cíclicas, pois tem
um grande poder de se moldar à dinâmica política, econômica e social
(Hunt; Sherman, 2001).
O capitalismo é capaz de criar inúmeras alternativas, entre
as quais, notam-se os processos de reforma constante do Estado e sua
adequação à ordem econômica, como, por exemplo, no processo de
globalização da economia.
Um bom exemplo são as políticas sociais, típicas das
sociedades capitalistas, cujo principal objetivo é minimizar a questão
social (desemprego, índices altos de pobreza, insuficiência dos serviços
de saúde, habitação e educação, entre outros).
3. Cidadania
No sentido etimológico, a palavra cidadania deriva da palavra
civita, que, em latim, significa cidade. No Império Romano, contudo, os
plebeus, apesar de livres, não eram considerados cidadãos, pois apenas os
10 | Gestão Social e Ambiental
patrícios podiam usufruir dos direitos civis, políticos e religiosos.
O termo tem o seu correlato grego na palavra politikos – aquele
que habita na cidade. Porém, na Grécia Antiga, era considerado cidadão
apenas aquele que podia deliberar sobre as questões da cidade (polis).
Além disso, este homem deveria possuir determinadas condições para
ser considerado cidadão, como por exemplo, ser livre e não precisar
exercer qualquer tipo de trabalho para sobreviver.
Os demais membros daquela sociedade (mulheres, crianças,
estrangeiros e indivíduos que exerciam algum tipo de trabalho) não
possuíam o status de cidadão grego. O feudalismo, na condição de
estrutura política que mediava as relações sociais, tinha como característica
fundamental a dependência pessoal entre senhores e vassalos.
Por este motivo, a dimensão da cidadania se perdeu ao longo
da Idade Média, uma vez que a relação de dependência pessoal, na
qualidade de condição fundamental daquela sociedade, não permitia a
ideia de exercício pleno de cidadania, nem mesmo entre aqueles que, de
alguma forma, ocupavam status privilegiado.
Em meados do século XIV, a estrutura feudal começou a
apresentar indícios de crise. As inúmeras guerras, a peste negra e a
dificuldade do clero em manter a ordem social, levaram a nobreza (na
figura do rei) a fazer parte efetiva do corpo Estatal.
Na transição entre os séculos XV e XVI, o declínio do
feudalismo era irreversível e a nobreza assumiu o poder político. Este
período, conhecido como Estado Moderno, apresentou a dinâmica
social, política e econômica (Mercantilismo), baseada no poder do rei
(monarquias absolutas) e na necessidade de fazer comércio e acumular
riquezas no seu território.
Assim, as monarquias absolutas, devidamente organizadas,
exerciam o poder sobre os demais membros da sociedade.
Entretanto, uma série de incoerências na atuação das
monarquias desencadeou o surgimento de intelectuais (entre os quais,
Gestão Social e Ambiental | 11
Jean-Jacques Rousseau, Barão de Montesquieu, Didero e Volteire),
que discutiam e defendiam um governo em moldes democráticos tais
como a igualdade, a participação popular, a defesa dos direitos do
homem e a divisão do poder político em três instâncias (executivo,
legislativo e judiciário).
As lutas que se estabeleceram a partir deste período
culminaram na Independência dos EUA (1775 – 1783) e na Revolução
Francesa (1789). A partir destes eventos, a organização política e social
deixou de se basear nos deveres dos súditos e passou a se basear nos
direitos e deveres dos cidadãos. Ou seja, isso significa a participação
integral do indivíduo em uma comunidade política, que lhe confere um
conjunto de direitos e de deveres.
Em sua concepção moderna, a cidadania associa-se
estreitamente à democracia, pois depende da capacidade de participar
da vida política de uma nação. Embora submetido a uma autoridade
política, o cidadão é aquele que participa na formação dessa autoridade
(Marshall, 1967).
Só é cidadão o indivíduo que tem um vínculo jurídico com o
Estado, sendo portador de direitos e deveres fixados em uma estrutura
legal (como uma Constituição, por exemplo) que lhe concede também
uma nacionalidade.
No caso da América Latina, a discussão sobre cidadania e
exclusão social apresenta algumas diferenças. Ao longo do século XIX, a
maioria dos países estava em processo de independência e de construção
de seus Estados.
No caso do Brasil, a busca pela cidadania foi marcada por
vários embates ao longo de todo período colonial e do Império.
Entretanto, somente no século XX as discussões sobre cidadania e o
problema da exclusão social tornaram-se um tema de grande relevância.
Após a proclamação da República, em 1889, a discussão sobre
os rumos da sociedade foi intensa:
12 | Gestão Social e Ambiental
• Indagou-se de que forma a liberdade e o exercício da
cidadania poderiam ser construídos, uma vez que a
sociedade brasileira, recém-saída do regime escravocrata,
não apresentava uma população devidamente instruída para
esta finalidade;
• Os altos índices de pobreza e analfabetismo, ambos
resquícios do processo de colonização baseado na
exploração e na escravidão, dificultavam a formação de uma
sociedade apta para a cidadania e resolução dos problemas
sociais.
No Brasil, o uso do termo cidadania apareceu, pela primeira
vez, na Constituição Imperial de 1824 e, em seguida, na primeira
Constituição Republicana de 1891. Porém, o termo estava vinculado
à ideia de nacionalidade (aqueles que exercem direitos políticos) e
naturalidade (os que nasceram no território).
Nas constituições posteriores, o termo se afirmou e, ao
longo do século XX, foi amplamente debatido. Seus resultados estão
expressos na formulação do código civil, apresentando os direitos e
deveres do cidadão.
Também, ao longo do século XX, a exclusão social apresentou-
se como uma preocupação, tanto intelectual quanto para as diretrizes a
serem tomadas pelo Estado. É fato que todo país subdesenvolvido ou
em desenvolvimento, como o Brasil, encontra pelo caminho inúmeros
fatores que impedem a resolução dos graves problemas sociais.
De meados do século XX em diante, os índices de pobreza,
desemprego, ausência de um amplo programa de saúde e educação,
além da má distribuição de renda, entre outros, deixaram, aos poucos,
de serapenas uma preocupação do Estado.
Como podemos perceber, existem muitos problemas
relacionados à cidadania no Brasil. Segundo Saraiva (2006), nunca houve
uma cidadania genuinamente democrática no país que pudesse assegurar
o amplo acesso de todas as camadas à justiça, à segurança, à distribuição
de renda, à estrutura agrária, à educação, à saúde, à habitação etc. A
Gestão Social e Ambiental | 13
cidadania no Brasil permaneceu parcial, desequilibrada, excludente. A
mera existência formal de direitos em uma Constituição não foi capaz de
garantir o seu exercício efetivo na vida cotidiana da população.
4. O Surgimento do Terceiro Setor
Uma das principais questões que colocam em risco os regimes
políticos e as relações entre Estado, sociedade e mercados é o fato de
que a questão social continua sendo um dos principais problemas a
serem enfrentados.
As grandes transformações sociais ocorridas a partir
da segunda metade do século XX provocaram novos padrões de
desenvolvimento na sociedade, com o surgimento de novos agentes
econômicos, novas tecnologias de informação e comunicação, e novos
modelos de gestão das organizações.
Entretanto, o agravamento de problemas sociais e ambientais
representou a outra face desse mesmo contexto de desenvolvimento,
marcado também por fenômenos como o desemprego, a exclusão social,
a violência, os conflitos étnicos e religiosos e a degradação ambiental.
A exclusão social e a busca pelo exercício da cidadania
não é apenas obrigação do Estado. Na atualidade, a sociedade civil,
devidamente organizada, também atua no sentido de buscar alternativas
para minimizar os problemas sociais.
Este é o contexto que faz surgir e crescer o chamado Terceiro
Setor na sociedade. Segundo Saraiva (2006), sua função é, basicamente,
preencher uma lacuna cada vez maior entre o que os cidadãos
demandam e o que é oferecido pelo Estado.
Pressionado a ser cada vez menor, o Estado deixa de realizar o
que já foi considerado como seu papel essencial. Alguns setores tais como
habitação, educação e saúde foram, em grande parte, transferidos para o
domínio do mercado, cabendo ao Estado a função de regular a prestação
de serviços àquela parte da população que pode pagar por eles.
14 | Gestão Social e Ambiental
Evidentemente, essa condição de pagamento por tais serviços
exclui uma parcela significativa da população, surgindo aí a lacuna a que
se refere Saraiva (2006).
O terceiro setor é composto por organizações privadas
(que não fazem parte do aparato estatal) e voluntárias (que podem
ser constituídas livremente por qualquer grupo de pessoas), sem
fins lucrativos e que reúnem recursos particulares em defesa de
interesses coletivos.
O terceiro setor diferencia-se do primeiro setor (composto
pelas organizações estatais) porque, embora seja um mecanismo
social público que atua no interesse da sociedade, é composto por
organizações não estatais.
Entretanto, outros estudos questionam a transferência de
funções públicas para o terceiro setor, mostrando os pontos que
seriam negativos:
• A capacidade de a sociedade civil combater determinados
problemas sociais seria limitada, não podendo ser
equiparada aos recursos institucionais do Estado, muito
mais abrangentes.
Com um crescimento expressivo, o terceiro setor recebeu
considerável atenção da mídia e de estudos acadêmicos. E com isso,
alguns debates muito importantes sobre o significado deste setor na
sociedade ocorreram.
Há aqueles que acham que a atuação da sociedade civil
organizada no terceiro setor tem muitos aspectos positivos, promovendo
hábitos de cooperação, solidariedade e espírito público. Isso fortalece
a cultura cívica, em que cada um se sente responsável pelo coletivo,
compensando muito bem as deficiências do Estado no combate aos
problemas sociais. Além disso, estimula o fim do paternalismo, o que
compete à sociedade apenas esperar pelas resoluções do governo, sem
que seja necessária nenhuma postura proativa em relação a eles.
Gestão Social e Ambiental | 15
O envolvimento das empresas no terceiro setor, especialmente
por meio de fundações, está associado a estratégias mercadológicas e de
publicidade, algumas vezes explícita. Isso significa que o esforço dessas
empresas está voltado somente para o reconhecimento público, que elas
podem obter com ações sociais.
A evolução do conceito de cidadania atinge não apenas os
indivíduos, mas também organizações, gerando a ideia de cidadania
empresarial. Segundo Rodhen (1996) uma empresa cidadã é aquela que
não foge aos compromissos de trabalhar para a melhoria da qualidade
de vida de toda a sociedade.
No estágio de empresa-cidadã, a organização passa a agir na
transformação do ambiente social. A empresa não se atém apenas aos
resultados financeiros, mas busca avaliar a sua contribuição à sociedade
e se posiciona de forma proativa no enfrentamento das questões sociais
e ambientais.
Segundo Lemos (2013), as empresas atuam de diversas
maneiras no terceiro setor, entre as quais se destacam:
• Realizar investimentos privados em fundações próprias, que
funcionam como seu “braço social, executando projetos em
benefício da sociedade ou do meio ambiente;
• Realizar investimentos privados em parceria com ONGs que
executam os projetos socioambientais.
Segundo o Censo GIFE 2011-2012, os investimentos sociais
de origem empresarial alcançaram um aporte anual de R$ 2,2 bilhões,
com grande destaque para a área de educação.
Neste sentido, observamos que a sociedade civil organizada
por meio de ONGs e de organizações privadas, embora tente estabelecer
iniciativas para a resolução dessas questões, sabe que ainda há um longo
caminho a ser percorrido. E é isso que estamos buscando ao longo dos
nossos estudos: meios para minimizar os problemas ambientais.
16 | Gestão Social e Ambiental
Referências Bibliográficas
CAMARGO, M. F. et al. Gestão do terceiro setor no Brasil:
estratégias de captação de recursos para organizações sem fins
lucrativos. São Paulo: Futura, 2001.
HUNT, E. K; SHERMAN, H. J. História do pensamento econômico.
Petrópolis: Vozes, 2001.
IBGE. As fundações privadas e associações sem fins lucrativos
no Brasil — 2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/Home/
Estatistica/Economia/Fasfil/2010. Acesso em: 3 ago 2016.
LEMOS, Haroldo. Responsabilidade socioambiental. Rio de Janeiro:
FGV, 2013.
MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro:
Zahar Editores, 1967.
NASCIMENTO, E.p. Exclusão social no Brasil: as múltiplas
dimensões do fenômeno. Série Sociológica, Brasília: Unb, 1993.
NEGRÃO, João José. Para conhecer o neoliberalismo. Editora
Publisher Brasil, 1998.
PIMENTA, Maria Letícia. Terceiro setor, estado e cidadania:
construção de um espaço político. In: Terceiro Setor: Dilemas e
Polêmicas. São Paulo: Saraiva, 2006.
Gestão Social e Ambiental | 17
POPAY, J. Understanding and Tackling Social Exclusion. Final
Report to The Who Commission on Social Determinants of Health
From The Social Exclusion Knowledge Network, 2008.
ROHDEN, Fabíola. Filantropia empresarial: a emergência de novos
conceitos e práticas. Anais do Seminário Empresa Social. São Paulo:
Set. 1996.
SARAIVA, Luiz Alex. Além do senso comum sobre o terceiro setor:
uma provocação. In: Terceiro Setor: Dilemas e Polêmicas. São Paulo:
Saraiva, 2006.
VÉRAS, M. P. B. (Ed.) Por uma sociologia da exclusão social: o
debate com Serge Paugam. São Paulo: Educ, 2001.
18 | Gestão Social e Ambiental
Você também pode gostar
- Apol 2 EpistemologiaDocumento26 páginasApol 2 EpistemologiaMaurícioAinda não há avaliações
- Organização Política e Política de QuadrosDocumento224 páginasOrganização Política e Política de Quadrosmarianfeliz100% (1)
- Bingo Sobre Guerra FriaDocumento5 páginasBingo Sobre Guerra FriaDaniel VelasquezAinda não há avaliações
- Aula 2 - A Guerra FriaDocumento42 páginasAula 2 - A Guerra FriaCamila AmorimAinda não há avaliações
- No 1 MvaDocumento4 páginasNo 1 MvaPetrus NegreiroAinda não há avaliações
- Ideologia FilosofiaDocumento1 páginaIdeologia FilosofiaSabrina GabrielaAinda não há avaliações
- Aldo Agosti - O Socialismo Real, Um Balanço NecessárioDocumento5 páginasAldo Agosti - O Socialismo Real, Um Balanço NecessárioVictor Neves de SouzaAinda não há avaliações
- AnticomunismoDocumento13 páginasAnticomunismoJose Antonio FigueredoAinda não há avaliações
- (His) 2º em - Teorias Sociais Do Século Xix - SocialismosDocumento1 página(His) 2º em - Teorias Sociais Do Século Xix - SocialismosPriscila AlcântaraAinda não há avaliações
- 3 - O ABC Do CooperativismoDocumento132 páginas3 - O ABC Do CooperativismoRafael FariasAinda não há avaliações
- Dias Da Vergonha - Reis VenturaDocumento136 páginasDias Da Vergonha - Reis VenturaErnest Patata100% (1)
- James Cannon - A Luta Por Um Partido Proletário (Cap 4 e 6)Documento5 páginasJames Cannon - A Luta Por Um Partido Proletário (Cap 4 e 6)Renato FernandesAinda não há avaliações
- Controversias Ensino CosmologiaDocumento266 páginasControversias Ensino CosmologiaJulia Audujas PereiraAinda não há avaliações
- Ditaduras AtuaisDocumento3 páginasDitaduras AtuaisValdecyr SantosAinda não há avaliações
- A Imprensa Contracultural Made in BrazilDocumento241 páginasA Imprensa Contracultural Made in BrazilSilneiAinda não há avaliações
- Richard Shaull Teologia e RevolucaoDocumento21 páginasRichard Shaull Teologia e RevolucaohuffjrAinda não há avaliações
- Pode Um Homossexual Ser Um ComunistaDocumento14 páginasPode Um Homossexual Ser Um ComunistaEstrela da ManhãAinda não há avaliações
- A Condenação Do Maoismo É A Tática Dos OportunistasDocumento79 páginasA Condenação Do Maoismo É A Tática Dos Oportunistasforcenight646Ainda não há avaliações
- Pensamento de MarxDocumento2 páginasPensamento de MarxJuli BatichoteAinda não há avaliações
- Como Capturar Porcos SelvagensDocumento1 páginaComo Capturar Porcos SelvagensgelsasilvaAinda não há avaliações
- Chamando Os Filhos Do Sol (Marcelo Ramos Motta)Documento45 páginasChamando Os Filhos Do Sol (Marcelo Ramos Motta)alkrog100% (1)
- Slides - Marx, Engels, Lenin e o EstadoDocumento17 páginasSlides - Marx, Engels, Lenin e o EstadoBrunaRassiAinda não há avaliações
- Gadotti História Das Idéias PedagógicasDocumento19 páginasGadotti História Das Idéias PedagógicasRoseli RoseAinda não há avaliações
- Totalitarismo - o Que É, Origem, Características - Brasil EscolaDocumento4 páginasTotalitarismo - o Que É, Origem, Características - Brasil Escolajaimeazevedo7699100% (1)
- Ideologia - Conceito, Definição e O Que É IdeologiaDocumento2 páginasIdeologia - Conceito, Definição e O Que É Ideologiavidapretinha8879Ainda não há avaliações
- Lista de Exercícios Populismo e Golpe de 64Documento3 páginasLista de Exercícios Populismo e Golpe de 64Sandro SouzaAinda não há avaliações
- ArtigosDocumento206 páginasArtigosBreno ArrudaAinda não há avaliações
- GROSSI Diego - A Revolução Coreana Entre A Questão Nacional e o Marxismo: o Zuche e A Construção de Um Projeto Patriótico Na Coreia SocialistaDocumento17 páginasGROSSI Diego - A Revolução Coreana Entre A Questão Nacional e o Marxismo: o Zuche e A Construção de Um Projeto Patriótico Na Coreia SocialistaDiego Grossi100% (2)
- 2.1 - Miguel Reale - Miguel Reale Na UnB - Pág. 101-126Documento185 páginas2.1 - Miguel Reale - Miguel Reale Na UnB - Pág. 101-126Luiz Filipe AraújoAinda não há avaliações
- Manifestações Operárias e Socialistas em PernambucoDocumento243 páginasManifestações Operárias e Socialistas em PernambucoAlice Mendes RochaAinda não há avaliações