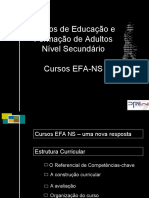Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cortella
Cortella
Enviado por
Cleia Crystina R0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações3 páginasResumo
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoResumo
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações3 páginasCortella
Cortella
Enviado por
Cleia Crystina RResumo
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
Para os Professores
Resumo do livro da parte geral do concurso - A escola e o conhecimento
Resumo do livro da parte geral do concurso para docentes da rede estadual de São Paulo
(2013):
CORTELLA, Mário Sérgio. A escola e o conhecimento: fundamentos epistemológicos e
políticos. 14. ed., São Pau-lo, Cortez, 2011.
VISÃO GERAL
O livro tem o objetivo de demonstrar que o conhecimento é uma construção cultural e que a
escola tem um comprometimento político, de caráter ao mesmo tempo conservador e inovador.
Inicia com uma visão sobre o conhecimento para a seguir rebater a ideia de que o
conhecimento seja uma “descoberta”. Em continuação, volta sua atenção para a escola e suas
práticas, enfatizando o sentido social do trabalho pedagógico e acenando com a possibilidade
do conhecimento como ferramenta da liberdade e do poder de convivência entre iguais.
Introdução – em nenhum momento da história republicana a frase “A educação está em crise”
deixou de ser dita, pois não atingimos ainda patamares mínimos de uma justiça social
compatível com a riqueza produzida pelo país e usufruída por uma minoria. A crise é de todos
os setores sociais, mas a da educação tem raízes específicas: confronto entre ensino
confessional e laico; conteúdos e metodologias; novas ideologias; democratização do acesso;
gestão democrática; educação geral versus formação especial; educação de jovens e adultos;
escolaridade reduzida; público versus privado; baixa qualidade de ensino; despreparo dos
educadores; movimentos corporativos ineficientes; evasão e retenção escolar.
1. Gênese recente de uma antiga crise e atuação dos educadores - A urbanização dos últimos
30 anos trouxe para as cidades uma demanda sem precedentes por serviços públicos. No
entanto, o modelo econômico pós-64 privilegiou a produção capitalista industrial, direcionando
os investimentos para a infra-estrutura e, com a ausência de investimentos sociais, houve uma
demanda explosiva na Educação, a depauperação do instrumental didático-pedagógico, a
entrada de educadores sem a formação apropriada, a diminuição salarial, a imposição de um
modelo de formação profissional e compulsória e centralização dos recursos orçamentários.
2. Educação brasileira, epistemologia e política: por que repensar fundamentos dessa
articulação ? É preciso pensar uma nova qualidade para uma nova escola, numa sociedade
que elegeu a educação como um direito objetivo da cidadania e por isso rever a ligação entre
Educação, Epistemologia e Política. A democratização do acesso e a permanência devem ser
encaradas como sinal de qualidade social: a qualidade em educação passa, necessariamente,
pela quantidade. A formação do educador precisa abranger o aspecto técnico em uma área do
saber, a dimensão pedagógica do ensino, a democratização da relação professor-aluno/entre
instâncias dirigentes/comunidades e a democratização do saber. Em resumo, são três pólos:
uma sólida base científica, a formação crítica de cidadania e solidariedade de classe social. A
escola pública, aí, deixa de ser um local onde o trabalhador simplesmente aprende o seu
cotidiano profissional para ser uma nova perspectiva de realidade social. Há a necessidade de
uma reorientação curricular que parta da realidade, para superá-la e usar os conhecimentos
como ferramenta da mudança.
Capítulo 1 – Humanidade, Cultura e Conhecimento (p. 21-54)
Atuar em educação é lidar com formação e informação; é trabalhar com o conhecimento e que,
embora se privilegie o extremamente recente (historicamente falando) científico, abrange
também o estético, o religioso, o afetivo.
1. O que significa ser humano ? desde Aristóteles (o homem é um animal racional) e Platão
(um bípede implume), passando por Fernando Pessoa (um cadáver adiado), muitas foram as
definições que procuraram capturar a essencialidade da natureza humana. O que há de
comum é que todas tentam identificar o humano e dar a este uma identidade, uma definição
(finis = fronteira). A indagação sobre a razão de sermos e nossa origem e destino (o sentido
2/10 da existência) é um tema presente em toda a História. A resposta, porém, parece cada
vez mais longe, o que é uma das características do conhecimento (é impossível esgotá-lo ou
“só sei que nada sei” – Sócrates). Essa premissa nos leva a pensar o conhecimento como algo
a ser revelado, uma descoberta. De forma caricatural, podemos responder à questão quem sou
eu assim: sou um indivíduo entre outros 5,5 bilhões, pertencente a uma única espécie entre
outras 30 milhões diferentes, vivendo em um planetinha, que gira em torno de uma estrelinha
entre outras 100 bilhões, que compõem uma mera galáxia em meio a outras 100 bilhões,
presente em um dos universos existentes, cilíndrico e que se expande há 15 bilhões de anos...
Era menos instável viver na Idade Média, quando tudo estava em “ordem”: a Terra no centro do
Universo, o Homem no centro da Terra, a Alma no centro do Homem e Deus no centro da
Alma. Foram os 500 anos mais recentes que nos “descentralizaram”, com Copérnico, Galileu,
Darwin, Freud e outros. Afinal o que é, para nós, a vida, senão o intervalo entre nascer e
morrer ? Essa constatação nos torna únicos: o homem é o único animal que sabe que vai
morrer e, por isso, não é de estranhar a sensação de angústia de muitos. Albert Camus já
explicava que o homem é a única criatura que se recusa a ser o que é. Porque não faz sentido,
nós o construímos.
2. Um passeio pelas nossas origens. Nosso estágio atual é fruto de uma evolução singular: em
relação ao meio ambiente, não somos especialistas em nada, nossa estrutura orgânica é débil
e frágil, pouca força física, pouca velocidade de deslocamento, a pele é pouco resistente ao
clima e agressões, não nadamos bem e não voamos, não resistimos mais do que alguns dias
sem água e alimento, nossa infância é muito demorada e temos que ser cuidados por longo
tempo. Num planeta de extremos como o nosso, se vivêssemos apenas do nosso
“equipamento natural”, seríamos muitos menos e habitaríamos uns poucos locais. Por não
sermos especializados, tornamo-nos um animal que teve que se fazer, se construir e construir o
próprio ambiente. Ainda com base numa teoria da evolução, ao descer das árvores, nossos
ancestrais hominídeos tiveram de adaptar-se: uma postura ereta (que libera as mãos, aumenta
a velocidade e permite ver de mais longe os perigos), o uso do polegar opositor (habilidade de
preensão) e a expansão do volume da massa encefálica (e um córtex integrador que equilibra a
necessidade de sangue na parte superior do corpo pela posição ereta). Foi uma maturação
lenta que nos obrigou a permanecer mais tempo sendo cuidados e convivendo com os adultos
da espécie. Com a criação de um ambiente próprio, nos tornamos um “produzido produtor do
que o produz”, um ambiente humano por nós produzido e no qual somos produzidos, ao qual
chamamos cultura.
3. Cultura: o mundo humano. Adaptar-se significa estar recluso a uma posição específica; é
conformar-se (aceitar e ocupar a forma), submeter-se, por isso, ao ter de buscar tudo que
precisamos, romper a acomodação e enfrentar a realidade passa a ser uma questão de
necessidade, não de liberdade. Que ferramenta temos? Não é a racionalidade, pois não basta
pensar para que as coisas aconteçam. Nossa interferência no mundo se dá pela ação
transformadora consciente, ou seja, uma capacidade de agir intencionalmente em busca de
uma mudança no ambiente que nos favoreça. A isso se chama trabalho ou práxis e seu fruto
chama-se cultura: o conjunto dos resultados da ação do humano sobre o mundo por intermédio
do trabalho. Assim, nenhum ser humano é desprovido de cultura, pois nela somos socialmente
formados: o homem não nasce humano mas torna-se humano na vida social e histórica da
cultura, um processo de humanização. Começa a cultura, começa o homem; começa o homem,
começa a cultura. Os resultados são de duas ordens: as idéias e as coisas, ambas duplas e a
partir de necessidades diversas: os produtos materiais têm uma idealização (é preciso
pensá-las antes) e os produtos ideais tem uma materialidade (partem da realidade). Porque
nos são úteis, as chamamos bens, é necessário reproduzi-los e, para isso, criamos outros
bens: há então bens de consumo e bens de produção. O mais importante bem de produção é o
Humano e, nele, a Cultura, que, por não ter transmissão genética (não se nasce sabendo),
precisa ser recriada e superada. Outro bem de produção básico é o conhecimento (o
entendimento, averiguação e interpretação sobre a realidade) e a educação é o veículo que o
transporta.
4. Conhecimentos e valores: fronteiras da não-neutralidade. Manter-se vivo é intenção de todo
ser vivo, mas, para o ser humano, só sobreviver com base nos conhecimentos é
3/10 insuficiente: é preciso que a vida valha a pena, e, para isso, a cultura tem produtos ideais
como os valores, que dão sentido (significado e direção) e estabelecem uma ordem e um
posicionamento no mundo. Constituem uma moldura que abrange uma visão de mundo
(compreensão da realidade), uma informação (que dê forma aos conhecimentos) e conceitos
(entendimentos). Entretanto, valores, conhecimentos e conceitos (e pré-conceitos) devem
mudar porque ser humano é ser capaz de ser diferente. O significado dessas referências não é
do mesmo modo para todos, sempre, pois é moldado pela cultura, pela sociedade e pela
história dessa cultura, ou seja, todo símbolo (conhecimentos e valores) é relativo e não pode
ser examinado por si só. Embora a individualidade gere um ponto de vista particular sobre isso
tudo, a construção é coletiva, o que implica em uma vida política onde se negocia, produz e
conquista significado. Por isso a produção dos valores não é neutra, dependente do poder de
quem possui. A posição de predominância social significa, então, ter seus valores e
conhecimentos difundidos e aceitos pela maioria como se fossem próprios ou universais, seja
por imposição ou convencimento. O canal de conservação e inovação são as inst
Você também pode gostar
- Andragogia e A Arte de Ensinar Aos AdultosDocumento1 páginaAndragogia e A Arte de Ensinar Aos AdultosFilomena Claudino100% (4)
- Exercicios Completos LibrasDocumento24 páginasExercicios Completos LibrasBambinas de Laço100% (2)
- Filosofia - QuestõesDocumento26 páginasFilosofia - QuestõesThaís BombassaroAinda não há avaliações
- Mpag10 Testes Avaliacao Unidade 3Documento13 páginasMpag10 Testes Avaliacao Unidade 3Ines GoncalvesAinda não há avaliações
- Brasil em Canções (Belatto, S Hortmann, C)Documento9 páginasBrasil em Canções (Belatto, S Hortmann, C)danielsrmusicoAinda não há avaliações
- BACHAREIS Da FACULDADE DE DIRITO DO RECIFE 1828 - 1931Documento235 páginasBACHAREIS Da FACULDADE DE DIRITO DO RECIFE 1828 - 1931Marcio Lucena100% (6)
- A TIVIDADEDocumento29 páginasA TIVIDADEEdileneAinda não há avaliações
- Sisu2024-Chamada RegularDocumento15 páginasSisu2024-Chamada RegularDanielle SannsilAinda não há avaliações
- EditalDocumento10 páginasEditalEmmanuel De Almeida Farias JúniorAinda não há avaliações
- Cerqueira - 2010 - Perspectivas Profissionais Dos Bacharéis em Piano DanielDocumento18 páginasCerqueira - 2010 - Perspectivas Profissionais Dos Bacharéis em Piano DanielViviana MatschulatAinda não há avaliações
- Exercícios Editor de TextoDocumento2 páginasExercícios Editor de TextoNair Kushi NunesAinda não há avaliações
- Delineamento Experimentos P Liv Virtual PDFDocumento130 páginasDelineamento Experimentos P Liv Virtual PDFgleibson632100% (1)
- Torta Na CaraDocumento6 páginasTorta Na CaraMarcelo RonzaniAinda não há avaliações
- Apostila de Matemática - CapaDocumento2 páginasApostila de Matemática - CapaVirginia FreitasAinda não há avaliações
- Texto PiagetDocumento14 páginasTexto Piaget8vyjffrdmqAinda não há avaliações
- Anexo 07 - Treinamentos e Capacitação de SST SABESP PDFDocumento10 páginasAnexo 07 - Treinamentos e Capacitação de SST SABESP PDFvivianexAinda não há avaliações
- Perfil Horizonte 2013Documento39 páginasPerfil Horizonte 2013Natalia Guedes NutricionistaAinda não há avaliações
- Comunicado 02 - 2023Documento2 páginasComunicado 02 - 2023Beyond BartAinda não há avaliações
- KKDocumento193 páginasKKCarlos AndradeAinda não há avaliações
- Alimentacao Escolar Indigena e Quilombola PDFDocumento70 páginasAlimentacao Escolar Indigena e Quilombola PDFDiego Ken OsoegawaAinda não há avaliações
- Histórico Escolar - Gustavo TonettoDocumento6 páginasHistórico Escolar - Gustavo TonettoEduardo OliveiraAinda não há avaliações
- Esquema Geral Cursos EfaDocumento50 páginasEsquema Geral Cursos EfaJose GalasAinda não há avaliações
- PraticasDesafiosReflexoes Pereira Etal 2023Documento156 páginasPraticasDesafiosReflexoes Pereira Etal 2023Carolina Chaves GomesAinda não há avaliações
- Manual de Estágio II em Geografia Ensino Fundamental 2017-2Documento39 páginasManual de Estágio II em Geografia Ensino Fundamental 2017-2Gustavo AmorimAinda não há avaliações
- Judô Nas EscolasDocumento11 páginasJudô Nas EscolasRafaela GomesAinda não há avaliações
- A Entrada Da Criança Na Escola e o Processo deDocumento8 páginasA Entrada Da Criança Na Escola e o Processo deValquiria OliveiraAinda não há avaliações
- LibrasDocumento8 páginasLibrasNathalia ChristianAinda não há avaliações
- Azevedo Dúnya - A Evolução Técnica Dos Jornais BrasileirosDocumento18 páginasAzevedo Dúnya - A Evolução Técnica Dos Jornais BrasileirosmadamesansgeneAinda não há avaliações
- SIMULADO - 2 RegimentalDocumento2 páginasSIMULADO - 2 RegimentalMilenna Oliveira0% (1)
- Universidade Cesumar - Unicesumar: Go - Projeto de VidaDocumento5 páginasUniversidade Cesumar - Unicesumar: Go - Projeto de VidaJuliane Da Silva Trindade RamosAinda não há avaliações