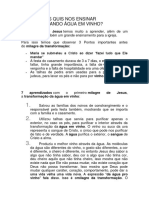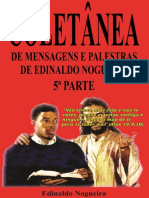Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Contos 7 Ano
Enviado por
Ana Wittholter0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações10 páginasTítulo original
CONTOS 7 ANO.doc
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações10 páginasContos 7 Ano
Enviado por
Ana WittholterDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
O OUTRO PÉ
Eu, um homem correto
Acabei de escovar os dentes e enxagüei, bem enxaguada, a boca.
Coloquei a escova e a pasta dental na mala e puxei o zíper. Conferi: tudo em
ordem. Os documentos no bolso interno esquerdo do paletó, o pente no direito
e no bolso detrás da calça, a carteira com dinheiro. Um bolso com botão bem
resistente, que abotoa sobre uma casa pequena, quase pequena demais para
ele: difícil de abotoar e mais difícil ainda de desabotoar. O chaveiro, bem preso
na presilha da calça, debaixo da cinta e enfiado no bolsinho dos níqueis. Os
sapatos bem amarrados. Olhei: faltava um tanto de graxa neles. E brilho.
Detesto andar de sapatos sujos. Puxei um pedaço da colcha que cobria a cama
e lustrei o sapato. A poeira vermelha foi ficando no tecido azulado. O sapato só
mais ou menos, para chegar no ponto ainda precisava de graxa e um bom
lustro de escova. Na colcha ficara uma mancha escura e avermelhada, mais de
palmo, mas não tinha importância, até melhor: desse jeito a dona da pensão
era obrigada a mandar lavá-la, ela estava mesmo precisando, malcheirosa.
Tudo em ordem. Apanhei a maleta, o mostruário e, saí para o corredor.
Caminhei até a portaria e não encontrei ninguém. O balcão da recepção estava
vazio. Esperei um pouco, cinco minutos talvez, e não apareceu pessoa alguma.
Levemente, dei dois tapas sobre a tábua do balcão, esperando despertar a
atenção da velha ou de alguma empregadinha. Sobre o balcão, o livro de
registro de hóspedes estava aberto e eu li meu nome e notei que nos últimos
três dias somente eu fora registrado. Fiquei imaginando que todos os outros
hóspedes que encontrei nos corredores e no refeitório eram moradores
permanentes, registrados há muito tempo. Bati novamente no balcão enquanto
procurava uma campainha, dessas que sempre existem em recepção de hotéis
e pensões. Não havia nenhuma. Olhei o relógio. Faltava menos de meia hora
para sair o ônibus, se a empresa fosse pontual. Bati novamente, com mais
força e só então a velha apareceu no corredor da cozinha, enxugando as mãos
num pano de prato. Cumprimentei-a, pedi a conta, paguei. Enquanto saía,
levando a mala e o mostruário, notei que ela enfiava o dinheiro no seio. Me
desagradou muito aquela pensão sem nem caixa registradora.
O ponto do ônibus não era longe, só atravessar a praça, defronte à
igreja e ficar na porta, do bar. Já havia muita gente ali, esperando. Coloquei a
mala e o mostruário no chão, junto à parede. Tirei do bolsinho do paletó a
minha passagem, comprada de véspera e conferi o lugar. Número seis,
segundo banco atrás do motorista, lado do corredor, onde eu poderia esticar as
pernas à vontade, enquanto controlava a estrada, longe da poeira dos últimos
lugares. Sempre que a gente se senta um pouco mais atrás, nos ônibus que
rodam por estradas de terra, come um poeirão danado. É só o ônibus parar e o
pó levanta-se, uma nuvem opaca, e vem por trás, entrando em cada janela
aberta, em cada fresta de vidro e sufoca os pulmões da gente. Por isso sempre
mantive o meu limpo hábito de reservar sempre o bilhete número seis. Nem tão
atrás que empoeire tanto, nem tão à frente que o zoar do motor não deixe a
gente dormir.
Eu havia esquecido o meu guarda-pó de linho que sempre trazia nessas
viagens ao interior, quando podia contar com poeira certa, por isso não vestira
meu terno completo. Estava com o velho paletó cinza e a calça azul-marinho
que usava quando tinha que visitar alguma fazenda, oferecendo meus
produtos. A camisa, não houve jeito, era a branca mesmo. Não coloquei
gravata, era estragá-la na certeza.
O ônibus ainda demoraria um pouco a encostar. O dia ia pela sua
metade, um pouco além das duas horas. Entrei no bar cheio de gente. A mala e
o mostruário pesavam bastante. Coloquei-os no chão e pedi um guaraná e já
bebia quando me deu vontade de comer um quindim. Mastiguei devagar. Pedi
ao rapaz do bar que olhasse pela mala e pelo mostruário e fui ao mictório. A
urina demorou a vir. Nas paredes uma porção de frases e versos escritos,
frases e versos que eu fiquei lendo enquanto esperava a urina e depois
enquanto mijava. Saí e fiquei encostado na porta, palitando os dentes. Não
havia nenhum lugar vago nos dois bancos de madeira, cheios de mulheres e
suas crianças.
Já estava ficando cansado, o palito amolecera e a ponta se abrira num
pequeno feixe de farpas macias, quando o ônibus apontou no começo da rua,
no fim da praça. Olhei o relógio. Estava na hora, o chofer fora muito bem
pontual. Isso me deixou contente, o Brasil progredia mesmo. Cuspi fora o
palito, cuspi um pouco do gostinho de madeira que me ficara na boca e me
aprumei. As mulheres viram também o ônibus e já se levantavam, barulhentas,
chamando os filhos, pondo uma urgência medonha em tudo. O ônibus
encostou. Abriu-se a porta com um sonoro chiado que me fez lembrar um
peido. O cobrador desceu, moreno, magro e sorridente. Entrou no bar. O
motorista saltou em seguida e foi tomar seu cafezinho no balcão. Olhei outra
vez minha passagem. Número seis. Reservada. Comprada com bastante
antecedência. Deixei que as mulheres com as crianças entrassem antes. O
cobrador voltou e começou a guardar as malas. Entreguei-lhe minha maleta e o
mostruário. Ele devolveu-me os canhotos do talão de bagagem que colara
nelas. Fiquei esperando para ver em qual compartimento ele iria guardá-las.
Não queria confusão com minhas malas e podia esperar enquanto os outros
passageiros se atropelavam na porta do ônibus, porque eu tinha meu lugar
reservado, banco número seis, desde a véspera.
Fui um dos últimos a entrar e o ônibus não estava cheio.
Parei um pouquinho na porta, trepado no segundo degrau e
cumprimentei o motorista que ajeitava dois pacotes no lado do motor, junto ao
banco. Para minha surpresa o chão estava limpo e um cheirinho de creolina
indicava que ele fora lavado há pouco tempo. Uma boa empresa de ônibus
aquela ali, sem dúvidas nem sombras. Procurei o meu lugar, número seis. No
número cinco estava sentado um senhor bem vestido, o terno azul marinho
novo, os cabelos brancos e um curativo sobre o olho esquerdo. Achei que seria
um bom companheiro de viagem. Pedi licença e sentei-me na ponta do banco
estofado, arregaçando um pouco a calça para que não me surgissem aquelas
joelheiras deselegantes que amarrotam o tecido e causam péssima impressão,
destruindo os vincos. Uma coisa que eu não suporto são roupas mal passadas,
com o vinco torto ou sem vincos. Acomodei-me e enquanto esperava a partida
procurei conhecer e me apresentar no meu companheiro de banco. Ele foi
muito gentil, pegou-me na mão, apresentou-se.
Deixei para mais tarde a conversa que principiávamos a entabular, porque
queria examinar os outros passageiros com meu vagar.
No banco da frente, o primeiro, atrás do motorista, na mesma fileira em
que eu estava, dois boiadeiros, as botas cheias de barro, falam em voz baixa,
os chapéus descansando no colo. Decerto andavam olhando gado,
comprando. Estiquei um pouquinho o pescoço para o lado a fim de ver bem o
rosto deles. Os dois estavam com a barba crescida e pareciam cansados.
Achei melhor não puxar conversa.
No primeiro banco do outro lado, aquele que fica sozinho lá na frente,
antes da porta, ao lado do motorista, o cobrador mexia com um bloquinho de
passagens e ajeitava um pequeno maço de notas miúdas para o troco. Estava
muito entretido em sua obri gação para responder a qualquer cumprimento
meu.
Logo depois da porta, ainda do outro lado do ônibus, sentava-se uma
velha gorda, junto à janela. Um pouco longe dela, no mesmo banco, um negro.
Virei-me um pouco e pude notar bem o casal de meia-idade que estava
sentado no segundo banco, na minha direção. Pareciam distintos,
razoavelmente bem arrumados e olhavam também para fora, dizendo adeus a
algumas pessoas. Virei o pescoço mais ainda. E vi outro casal, duas mulheres
e várias crianças que choramingavam lá atrás, perto da cozinha, aquele banco
comprido que é o último do ônibus. Atrás de mim, nos assentos do meu lado foi
mais difícil de olhar. Disfarcei, levantei-me e fingi que arranjava um pacote no
guarda-volumes de cordinha. Pude ver que apenas três bancos estavam
ocupados. E me pareceu que eram ocupados por roceiros, suas mulheres e
filhos.
Sentei-me novamente e olhei o relógio. Estava passando da hora. Fiquei
desgostoso. Perguntei ao motorista, com muito jeito, se ia demorar muito para
sair. Ele disse que não, só estava esperando a professora, ela já até vinha
vindo. Disse que tirava a diferença depois. Comentei com o senhor do meu
lado que isso não era direito. Mas fiquei esperando sentado que outra coisa
não me competia.
Não demorou nada e a professora chegou. Muito alegre, sorrindo,
esbaforida, chegou correndo e trazia pacote de cadernos nos braços e uma
grande bolsa de couro pendurada no ombro. Era muito alegre mesmo. Subiu
depressa, o cobrador saiu ligeiro do banco onde estava e cedeu o lugar para
ela. O motorista, rindo, cumprimentou-a e deu a partida no ônibus.
Devagarzinho fomos deixando a praça, descemos uma rua estreita, passamos
em frente ao circo que estava sendo desmontado. A professorinha falava alto,
exuberante, e sua voz sobressaía-se até mesmo ao ronco tremido do motor. Eu
estava distraído, os olhos andando à toa, quando percebi que o negro do
primeiro banco inclinava-se para o lado e procurava olhar melhor a professora.
Achei esquisito. Meu companheiro comentou sobre um novo posto de gasolina
que estavam construindo na entrada da cidade e eu já podia avistar. Estava
mesmo quase pronto e a parede inteiramente azulejada deveria ter custado
uma fortuna. O ônibus parou bem na frente do posto e eu pude vê-lo direito.
Duas mulheres com suas malas e sacolas entraram. O cobrador estava lá atrás
e veio vindo para ajudar, mas o negro levantou rápido, pegou as sacolas e
auxiliou as duas mulheres que eram bem velhas e tiveram dificuldade em subir
os altos degraus. Enquanto ele ajeitava as bolsas, notei que não desgrudava
os olhos da professorinha que voltara se no banco e falava com uma das
velhas, sempre com seus bonitos dentes clareando o sorriso. Compreendi logo
que era professora de escolinha rural e que andava sempre naquele ônibus,
por isso todos a conheciam tão bem.
Quando o ônibus entrou na estrada os passageiros conversavam
animados, mas a professora começara a corrigir os cadernos com um grosso
lápis. Comentei com meu companheiro de banco o interesse do negro pela
professora. Ele reprovou comigo, essa gente nunca sabe o seu lugar. Não que
ele tivesse preconceitos, corno eu também nunca os tive, mas o negro estava
até descalço.
Uma certa hora a professora ajeitou-se no banco, virando as pernas
para fora, encontrando melhor posição para a correção dos cadernos. Com o
movimento o vestido subiu um pouco, mostrando até mais em cima, um pedaço
deslumbrante de coxas claras. Eram pernas lisas e certas e pareciam rijas
como boa madeira de lei. O negro estava de olho. Eu não podia ver-lhe os
olhos, mas pude adivinhar muito bem a gula que ia por eles. Meu companheiro
de banco entortou o corpo e olhou. Concordou comigo que as pernas eram das
melhores, mais gostosas, e que o negro era um sem-vergonha. Logo-logo a
professora vai estar mostrando até as calcinhas, desse jeito. E aí o negro
enlouquece. Confesso que a vista daquelas pernas me perturbou um pouco,
procurei conversar. Os dois boiadeiros do banco da frente estavam dormindo.
Puxaram a campainha e o ônibus parou. Um casal levantou-se, a mulher
com grande dificuldade carregava um bebê envolto em cueiros. O cobrador,
parado na porta, deu o troco ao homem e ajudou a senhora a descer. Quando
o ônibus recomeçou a andar ele foi cobrando as passagens de banco em
banco. Mostrei a minha, reservada com boa antecedência, ele apanhou-a e fez
nela dois buraquinhos redondos com seu alicate de picotar. O negro tirou o
dinheiro do bolso e pagou, um dinheiro amassado e ensebado, quase a conta
certa. Eu fiquei olhando o pé dele: o dedão tinha tinhas unhas pretas e
gretadas. Me deu vontade de ver como é que era a mão dele. Demorei um
pouco, porque ele sempre mantinha as mãos juntas, enfiadas no meio das
pernas. As unhas da mão dele pareciam as unhas do pé. Tão pretas, tão sujas.
Falei com meu companheiro de viagem sobre isso, como a gente conhece os
outros pelas unhas da mão. Seus hábitos, seu coração. Notei nele uma rápida
reação, um movimento ligeiro que tinha a intenção de passar desapercebido,
procurando com a ponta dos olhos a ponta dos dedos. As unhas dele estavam
cortadas e limpas, eu já havia notado isso, senão não teria comentado. Eu
também olhei para as minhas unhas, embora soubesse que elas estavam
limpas, lustrosas, curtas e sem cutículas, como sempre.
O ônibus ia indo. A professorinha continuava corrigindo os cadernos e
voltara as pernas para dentro do banco, de forma que já não se podia mais ver
suas macias coxas. Comentei isso com o velho senhor e ficamos imaginando o
desespero do negro, que perdera seu espetáculo.
Eu estava pensando que tinha de engraxar os sapatos logo que
chegasse na rodoviária de São Paulo, pois seria muito desagradável aparecer
ao Gerente de Vendas com os sapatos empoeirados. Ele era um sujeito muito
fino, certamente nunca iria dizer nada, assim direto, assim específico. Ele
apenas exigia apresentação impecável e eu achava isso assim muito certo.
Mas eu precisava mesmo engraxar os sapatos porque, como as unhas, eles
são o melhor espelho do que é um homem. Eu estava pensando nisso, o
ônibus rodava pela estrada vermelha, quando o negro levantou-se e foi falar
qualquer coisa ao motorista. Como ele falou muito baixo eu não pude escutar o
que dizia, embora tivesse me concentrado em grandes ouvidos. O que eu
pude notar e o meu companheiro de banco notou também quando chamei a
atenção dele, foi que o negro falava ao motorista mas tinha os olhos postos na
professora que continuava com seu trabalho, apesar dos balanços e sacolejos
do ônibus. O motorista respondeu qualquer coisa e o negro sentou-se
novamente.
O balançar e trepidar do ônibus na estrada de terra começou a me
enjoar. O asfalto ainda demoraria compridos quilômetros. O diabo do negro não
parava quieto. De vez em quando levantava-se, as mãos apoiadas nos
suportes do guarda-volumes, e olhava para os dois lados da estrada, como se
estivesse tentando reconhecer onde o ônibus ia passando. Aí então eu pude
vê-lo com calma, analisar bem analisado as feições da cara, dos olhos, da
boca. A boca nascia de um beiço grosso, pendente, roxo, e acabava num outro
beiço menor, tão curto que quase encostava no nariz. E o nariz era mais chato
que o normal dos negros, e bem perto da narina esquerda tinha um calombo
avermelhado que me fez lembrar em bernes. Os olhos eram de quem bebe
muito, amarelados, estriados de sangue. Um negro muito feio mesmo. Depois
ele sentou-se e ficou quieto.
O calorzinho gostoso do meio da tarde, a modorra suave provocada pelo
ronronar do motor e o sono fundo dos dois boiadeiros no banco da frente foram
me amolecendo. Entrefechei os olhos e fiquei pensando, suave, na
professorinha. Não havia podido distinguir direito os traços da cara dela,
deveria ser realmente muito bonita, gordinha, eu só sabia do riso branco de
belos dentes. O cabelo dela era louro e eu escarafunchei minhas lembranças
catando uma certeira comparação. Mas só me vinham as imagens das coxas
dela, brancas, rijas, de pegar e morder como cana madura. E eu fiquei
cochilando, pescando meus lambaris, enquanto ia mordendo, mordiscando leve
e leve as macias coxas da professorinha que corrigia os cadernos lá no banco
da frente.
De repente o ônibus reduziu a marcha e começou a parar. Abri os olhos
meio desperto, procurando saber quem descia ou entrava. Quando parou de
todo, à margem da estrada, a professora levantou-se sorrindo, falando um até
amanhã ao motorista e olhando pela janela, decerto esperando alguns de seus
aluninhos. Eu fiquei inteiramente acordado. Ela levantou-se, saiu meio de lado,
puxando o vestido. Parou um instante no degrau superior da porta e eu notei
que sua bunda bem feita estava na altura dos olhos do negro que disfarçava e
olhava pela janela, interessado em qualquer coisa lá fora. Ela desceu. Deu um
novo até- logo ao motorista e saiu das minhas vistas. O ônibus ia arrancando, a
porta ainda aberta, o negro levantou-se precipitado, falou ao motorista um
balbucio, entregou a passagem, pegou um pacote que colocara no porta
volumes em cima do banco e desceu apressado.
A porta fechou chiando seu ar comprimido e eu tive uma certeza. Como
um relâmpago, como um tiro, como um tombo. Esse negro ia fazer das suas e
a professorinha era que era. Pensei em falar mas detive-me uns momentos. O
ônibus principiava a retomar sua velocidade de sempre, as pessoas todas
estavam quietas, com preguiça de conversar. Eu fiz meus pesos e medidas,
meus próprios julgamentos e achei que não podia me omitir. Eu sempre fui eu,
obedecedor, dentro das leis, no rigor de todos os preceitos. Eu sabia uma
certeza e não podia acovardar-me, deixar que passasse.
Acordei meu vizinho de banco e falei com ele o que eu estava pensando.
Seu olho sozinho me olhou sério e senti que ele concordava comigo. Resolvi
agir. Levantei-me e fui ao motorista. Falei, expliquei, contei, informei. Ele me
olhou espantado. Não pareceu acreditar muito, mas senti uma leve onda de
preocupação tomar conta da cara dele. Insisti, altas vozes e os dois boiadeiros
já estavam interessados. Repeti a história, contei do negro, os olhos nas coxas,
a pressa de descer. Eles entenderam e acreditaram na hora. O velho, meu
parceiro de assento, estava falando com o casal do banco de trás e pude ver
que o homem concordava e a mulher abriu sua cara de susto, a mão na frente
da boca. A velha gorda que vinha dividindo o banco com o negro escutava a
conversa e não demorou a intervir. De repente muita gente falava e todos
acusavam, diziam, todos tinham suas certezas. O motorista parou o ônibus. O
cobrador, que dormia lá no fundo, veio depressa saber o que estava havendo.
Um dos boiadeiros começou a explicar, eu completei o caso. O cobrador
abaixou-se e pegou uma barra de ferro que estava debaixo do banco do
motorista. Nessa altura todos os homens do ônibus tinham vindo para a frente.
As mulheres esticavam o pescoço e ficavam caladas, ansiosas para descobrir
as causas do transtorno, os porquês do ônibus parado, da viagem
interrompida. Eu já sabia o que nos competia fazer, a nós homens decentes e
civilizados, com um pingo que fosse de moral. Aí eu sugeri que voltássemos,
que fôssemos depressa, a professorinha em perigo, o negro nojento.
Voltássemos e queira Deus se não seria tarde demais, tudo consumado. O
motorista ainda estava indeciso. Tinha suas ordens, o horário a cumprir. O
cobrador agitava a barra de ferro. Um dos boiadeiros insistiu em voltar. Eu
achei que estava até passando da hora, se demorássemos mais íamos
somente voltar para vinganças.
Recontei todos os movimentos do negro, os olhares, as brancas coxas
da professora, as escuras unhas de gretas, o pé descalço, o dinheiro
amarrotado na palma da mão, o beiço roxo, os olhos riscados de vermelho, o
calombo na cara. Insisti, tinham que acreditar, decidir logo, meu companheiro
de banco que confirmasse. Ele fez que sim com a cabeça, silencioso. Eu já não
tinha mais argumento nenhum e isso me afogava, me deixava impotente, o
negro, a professora, as coxas rijas, o rosto gordinho. Aí então me encheu o
saco e eu resolvi comandar. Mandei virar o ônibus e voltar. O motorista, meio
assustado me obedeceu, enquanto todos os passageiros aprovavam e em
suas caras ia se formando o ódio.
O ônibus voltava rápido, a paisagem sendo apenas largas manchas
coloridas dentro dos barulhos da tarde. Estávamos quase todos de pé, dentro
do ônibus que corria, cada um se preparando do seu modo para as coisas que
iam acontecer. O cobrador ia batendo devagar o pedaço de ferro no cano
niquelado que era parte do encosto do banco e fazia um fraco ruído metálico,
enquanto pedacinhos do prateado ficavam grudados no ferro. O motorista fazia
curvas e curvas, a poeira levantando, vermelha e morna. De repente, depois de
um bosque de eucaliptos apareceu a escola, branca e pequena, no começo do
morro. O ônibus diminuiu a marcha e todos nós fomos olhando, lado e lado,
esquerda, direita. repassando touceiras, escarafunchando sombras, os ouvidos
prontos para o grito. O cobrador abriu a porta e pendurou-se para fora, o ferro
na mão, procurando ver melhor. Então ele viu o negro que caminhava devagar
pelo lado da estrada. Gritou. Eu gritei também, o desgraçado decerto já fizera o
malfeito, ia fugir. Mandei o motorista tocar pra cima do negro. Ele viu o ônibus
vindo, vindo, procurou desviar-se assustado, atravessou correndo a estrada e
começou a subir um barranquinho que ia dar nos fundos da escola. O ônibus
encostava no barranco quando o cobrador, os dois boiadeiros, outros homens e
eu descemos correndo, as mulheres gritando e vindo atrás. Então eu vi quando
pegaram o negro, foi o cobrador que alcançou primeiro e bateu nas pernas, o
negro caiu e deixou rolar o pacotinho de roupas. Gritou e caiu, apavorado,
acuado, meio trepado no barranco, enquanto todos começavam a espancar
com os pés, as mãos, paus e pedras e o negro gritava, gritava, gritava.
E gritava ainda quando a professora surgiu em cima do barranco, fresca
em seu vestido branco, vindo da escola, de mãos dadas com uma meninazinha
pequena. E gritava enquanto eu pude ver nos claros olhos dela uma intensa
surpresa por encontrar ali o ônibus parado e aquele feroz grupo de homens
que batiam, batiam, batiam até matar.
CARVALHO, Murilo. Eu, um homem correto. In: Raízes da morte. São Paulo:
Ática, 1977. pp. 58-69.
AS MÃOS DOS PRETOS - por Luís Bernardo Honwana *
Enviado por Clara Castilho
Uma história sobre a igualdade dos homens, para além
das suas cores.
Já não sei a que propósito é que isto vinha, mas o senhor
Professor disse um dia que as palmas das mãos dos
pretos são mais claras do que o resto do corpo porque
ainda há poucos séculos os avós deles andavam com
elas apoiadas ao chão, como os bichos do mato, sem as
exporem ao sol, que lhes ia escurecendo o resto do
corpo. Lembrei-me disso quando o Senhor padre, depois
de dizer na catequese que nós não prestávamos mesmo
para nada e que até os pretos eram melhores que nós,
voltou a falar nisso de as mãos serem mais claras,
dizendo que isso era assim porque eles andavam com
elas às escondidas, andavam sempre de mãos postas, a
rezar.
Eu achei um piadão tal a essa coisa de as mãos dos
pretos serem mais claras que agora é ver-me não largar
seja quem for enquanto não me disser porque é que eles
têm as mãos assim tão claras. A Dona Dores, por
exemplo, disse-me que Deus fez-lhes as mãos assim
mais claras para não sujarem a comida que fazem para
os seus patrões ou qualquer outra coisa que lhes
mandem fazer e que não deve ficar senão limpa.
O Antunes da Coca-Cola, que só aparece na vila de vez
em quando, quando as Coca-Colas das cantinas já
tenham sido vendidas, disse que o que me tinham
contado era aldrabice. Claro que não sei se realmente
era, mas ele garantiu-me que era. Depois de lhe dizer que
sim, que era aldrabice, ele contou então o que sabia
desta coisa das mãos dos pretos. Assim:
- Antigamente, há muitos anos, Deus, Nosso Senhor
Jesus Cristo, Virgem Maria, São Pedro, muitos outros
santos, todos os anjos que nessa altura estavam no céu
e algumas pessoas que tinham morrido e ido para o céu
fizeram uma reunião e resolveram fazer pretos. Sabes
como? Pegaram em barro, enfiaram em moldes usados
de cozer o barro das criaturas, levaram-nas para os
fornos celestes; como tinham pressa e não houvesse
lugar nenhum ao pé do brasido, penduraram-nas nas
chaminés. Fumo, fumo, fumo e aí os tens escurinhos
como carvões. E tu agora queres saber porque é que as
mãos deles ficaram brancas? Pois então se eles tiveram
de se agarrar enquanto o barro deles cozia?!
Depois de contar isto o Senhor Antunes e os outros
Senhores que estavam à minha volta desataram a rir,
todos satisfeitos.
Nesse mesmo dia, o Senhor Frias chamou-me, depois de
o Senhor Antunes se ter ido embora, e disse-me que tudo
o que eu tinha estado para ali a ouvir de boca aberta era
uma grandessíssima pêta. Coisa certa e certinha sobre
isso das mãos dos pretos era o que ele sabia: que Deus
acabava de fazer os homens e mandava-os tomar banhai
num lago do céu. Depois do banho as pessoas estavam
branquinhas. Os pretos, como foram feitos de madrugada
e a essa hora a água do lago estivesse muito fria, só
tinham molhado as palmas das mãos e dos pés, antes de
se vestirem e virem para o mundo.
Mas eu li num livro que por acaso falava nisso, que os
pretos têm as mãos assim mais claras por viverem
encurvados, sempre a apanhar o algodão branco da
Virgínia e de mais não sei onde. Já se vê que Dona
Estefânia não concordou quando eu lhe disse isso. Para
ela é só por as mãos deles desbotarem à força de tão
lavadas.
Bem, eu não sei o que vá pensar disso tudo, mas a
verdade é que, ainda que calosas e gretadas, as mãos
dum preto são mais claras que todo o resto dele. Essa é
que é essa!
A minha mãe é a única que deve ter razão sobre essa
questão das mãos dos pretos serem mais claras do que o
resto do corpo. No outro dia em que falámos nisso, eu e
ela, estava-lhe eu ainda a contar o que já sabia dessa
questão e ela já estava farta de rir. O que achei esquisito
foi que ela não me dissesse logo o que pensava disso
tudo, quando eu quis saber, e só tivesse respondido
depois de se fartar de ver que eu não me cansava de
insistir sobre a coisa, e esmo até chorar, agarrada à
barriga como quem não pode mais de tanto rir. O que ela
disse foi mais sou menos isto:
- Deus fez os pretos porque tinha de os haver. Tinha de
os haver, meu filho, Ele pensou que realmente tinha de
os haver…. Depois arrependeu-se de os ter feito porque
os outros homens se riam deles e levavam-nos para casa
deles para os pôr a servir de escravos ou pouco mais.
Mas como Ele já não os pudesse fazer ficar todos
brancos, porque os que já se tinham habituados a vê-los
pretos reclamariam, fez com que as palmas das mãos
deles ficassem exactamente como as palmas das mãos
dos outros homens. E sabes porque é que foi? Claro que
não sabes e não admira porque muitos e muitos não
sabem. Pois olha: foi para mostrar que o que os homens
fazem é apenas obra dos homens…Que o que os homens
fazem é efeito por mãos iguais, mãos de pessoas que se
tivessem juízo sabem que antes de serem qualquer outra
coisa são homens. Deve ter sido a pensar assim que Ele
fez com que as mãos dos pretos fossem iguais às mãos
dos homens que dão graças a Deus por não serem
pretos.
Depois de dizer isso tudo, a minha mãe beijou-me as
mãos.
Quando fui para o quintal, para jogar à bola, ia a pensar
que nunca tinha visto uma pessoa a chorar tanto sem
que ninguém lhe tivesse batido
Lima Barreto - o pecado
Quando naquele dia São Pedro despertou, despertou risonho e de bom humor. E, terminados os cuidados
higiênicos da manhã, ele se foi à competente repartição celestial buscar ordens do Supremo e saber que
almas chegariam na próxima leva.
Em uma mesa longa, larga e baixa, em grande livro aberto se estendia e debruçado sobre ele, todo
entregue ao serviço, um guarda-livros punha em dia a escrituração das almas, de acordo com as mortes
que Anjos mensageiros e noticiosos traziam de toda extensão da terra. Da pena do encarregado celeste
escorriam grossas letras, e de quando em quando ele mudava a caneta para melhor talhar um outro
caráter caligráfico.
Assim páginas ia ele enchendo, enfeitadas, iluminadas em os mais preciosos tipos de letras. Havia no
emprego de cada um deles, uma certa razão de ser e entre si guardavam tão feliz disposição que
encantava o ver uma página escrita do livro. O nome era escrito em bastardo, letra forte e larga; a filiação
em gótico, tinha um ar religioso, antigo, as faltas, em bastardo e as qualidades em ronde arabescado.
Ao entrar São Pedro, o escriturário do Eterno, voltou-se, saudou-o e, à reclamação da lista d’almas pelo
Santo, ele respondeu com algum enfado (endado do ofício) que viesse à tarde buscá-la.
Aí pela tardinha, ao findar a escrita, o funcionário celeste (um velho jesuíta encanecido no tráfico de
açúcar da América do Sul) tirava uma lista explicativa e entregava a São Pedro a fim de se preparar
convenientemente para receber os ex-vivos no dia seguinte.
Dessa vez ao contrário de todo o sempre, São Pedro, antes de sair, leu de antemão a lista; e essa sua
leitura foi útil, pois que se a não fizesse talvez, dali em diante, para o resto das idades – quem sabe? – o
Céu ficasse de todo estragado. Leu São Pedro a relação: havia muitas almas, muitas mesmo, delas
todas, à vista das explicações apensas, uma lhe assanhou o espanto e a estranheza. Leu novamente.
Vinha assim: P. L. C., filho de..., neto de..., bisneto de... – Carregador, quarenta e oito anos. Casado.
Casto. Honesto. Caridoso. Pobre de espírito. Ignaro. Bom como São Francisco de Assis. Virtuoso como
São Bernardo e meigo como o próprio Cristo. É um justo.
Deveras, pensou o Santo Porteiro, é uma alma excepcional; como tão extraordinárias qualidades bem
merecia assentar-se à direita do Eterno e lá ficar, per saecula saeculorum, gozando a glória perene de
quem foi tantas vezes Santo...
— E porque não ia ? deu-lhe vontade de perguntar ao seráfico burocrata.
— Não sei, retrucou-lhe este. Você sabe, acrescentou, sou mandado...
— Veja bem nos assentamentos. Não vá ter você se enganado. Procure, retrucou por sua vez o velho
pescador canonizado.
Acompanhado de dolorosos rangidos da mesa, o guarda-livros foi folheando o enorme Registro, até
encontrar a página própria, onde com certo esforço achou a linha adequada e com o dedo afinal apontou
o assentamento e leu alto:
— Esquecia-me... Houve engano. É ! Foi bom você falar. Essa alma é a de um negro. Vai para o
purgatório.
Revista Souza Cruz, Rio, agosto 1924.
Você também pode gostar
- Adjetivo IDocumento35 páginasAdjetivo IEvandro RibeiroAinda não há avaliações
- CordelDocumento15 páginasCordelAna WittholterAinda não há avaliações
- CartaDocumento15 páginasCartaPaulaGomesAinda não há avaliações
- Como Fazer Uma História em QuadrinhosDocumento9 páginasComo Fazer Uma História em QuadrinhosAna WittholterAinda não há avaliações
- ADJETIVO 6 AnoDocumento12 páginasADJETIVO 6 AnoAna WittholterAinda não há avaliações
- Aula de Concordância NominalDocumento12 páginasAula de Concordância NominalDaniel AlencarAinda não há avaliações
- SagaranaDocumento32 páginasSagaranaAna WittholterAinda não há avaliações
- Unioeste RomanceDocumento3 páginasUnioeste RomanceAna WittholterAinda não há avaliações
- Apostila 3a Série Ativa - Acentuação e Ortografia OkDocumento40 páginasApostila 3a Série Ativa - Acentuação e Ortografia OkAna WittholterAinda não há avaliações
- GalinhaDocumento1 páginaGalinhaAna WittholterAinda não há avaliações
- Grama 1 SerieDocumento8 páginasGrama 1 SerieAna WittholterAinda não há avaliações
- OCorticoDocumento52 páginasOCorticoAna WittholterAinda não há avaliações
- Miguel Sanche Neto-MinicursoIDocumento5 páginasMiguel Sanche Neto-MinicursoILílian GonçalvesAinda não há avaliações
- ContemporaneaDocumento34 páginasContemporaneaAna WittholterAinda não há avaliações
- Crônica Argumentativa - Textos - Exercícios e OrientaçõesDocumento7 páginasCrônica Argumentativa - Textos - Exercícios e OrientaçõesKatia CristinaAinda não há avaliações
- Vestido de NoivaDocumento26 páginasVestido de NoivaJh SkeikaAinda não há avaliações
- Morte e Vida Severina - Joao Cabral de Melo NetoDocumento40 páginasMorte e Vida Severina - Joao Cabral de Melo NetoRodrigo100% (3)
- ATIVIDADE PLUS 2 Português 9º ANODocumento5 páginasATIVIDADE PLUS 2 Português 9º ANOCarmen Santos Mazur100% (1)
- List A de Exer CC I o 00124042018172412Documento8 páginasList A de Exer CC I o 00124042018172412Sabrina de OliveiraAinda não há avaliações
- Aulaaovivo Literatura Generos Literarios Lirico Ensaistico 24 02 2017Documento13 páginasAulaaovivo Literatura Generos Literarios Lirico Ensaistico 24 02 2017Ana WittholterAinda não há avaliações
- Conto Teoria Do Conto Com Mini-ContosDocumento3 páginasConto Teoria Do Conto Com Mini-ContosAna WittholterAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Advérbio PDFDocumento45 páginasExercícios Sobre Advérbio PDFJoyceOliveiraAinda não há avaliações
- Atividade 6 para 3 ºDocumento4 páginasAtividade 6 para 3 ºAna WittholterAinda não há avaliações
- 2013 Utfpr Port PDP Luciane Cristina GawlakDocumento76 páginas2013 Utfpr Port PDP Luciane Cristina GawlakAna WittholterAinda não há avaliações
- Material 6 - Exercicios05092005160941Documento8 páginasMaterial 6 - Exercicios05092005160941Rosana Teixeira BocaterAinda não há avaliações
- Simulado UNICAMP - LITERATURADocumento8 páginasSimulado UNICAMP - LITERATURAAna WittholterAinda não há avaliações
- Atividade Epistolar de Mario de Andrade PortalDocumento3 páginasAtividade Epistolar de Mario de Andrade PortalAna WittholterAinda não há avaliações
- Gonçalves DiasDocumento1 páginaGonçalves DiasAna WittholterAinda não há avaliações
- Exercicios de AdverbiosDocumento2 páginasExercicios de AdverbiosYasmin GomesAinda não há avaliações
- DaltonTrevisan O Negócio - ContoDocumento1 páginaDaltonTrevisan O Negócio - ContoAna WittholterAinda não há avaliações
- Nican MopohuaDocumento7 páginasNican MopohuaMatheus CajaíbaAinda não há avaliações
- Agua em VinhoDocumento2 páginasAgua em Vinhovendas md bertolloAinda não há avaliações
- Irene Pacheco Machado - NINGUÉM ESTÁ SOZINHO - Esp. Luiz SergioDocumento161 páginasIrene Pacheco Machado - NINGUÉM ESTÁ SOZINHO - Esp. Luiz SergioLucy Souza CostamanAinda não há avaliações
- Para Adoração1049Documento15 páginasPara Adoração1049Edson MR3VASAinda não há avaliações
- Mil Ave-Marias.Documento11 páginasMil Ave-Marias.paroquiasaojosebjiAinda não há avaliações
- Re npl11 Solucoes Unidade 2Documento28 páginasRe npl11 Solucoes Unidade 2Tiago SousaAinda não há avaliações
- Ebook SD LuciliaDocumento44 páginasEbook SD LuciliaRicardoTaveira67% (3)
- 1º Vida e Espiritualidade de São João Paulo IIDocumento32 páginas1º Vida e Espiritualidade de São João Paulo IIGustavo RamosAinda não há avaliações
- Frei Luis de Sousa Teste 11º 1Documento7 páginasFrei Luis de Sousa Teste 11º 1Cidália Almeida100% (5)
- A Familia Crista Nas AdversidadesDocumento8 páginasA Familia Crista Nas AdversidadeslaertecorreaAinda não há avaliações
- Cancioneiro Jovens 2006Documento219 páginasCancioneiro Jovens 2006AndréCorreiaAinda não há avaliações
- Arcy Lopes Estrella - Saudades e Lembranças.Documento3 páginasArcy Lopes Estrella - Saudades e Lembranças.integralismorioAinda não há avaliações
- Poemário Do LevanteDocumento31 páginasPoemário Do LevanteEsloane GonçalvesAinda não há avaliações
- Cantos Festa Da Padroeira Nossa Senhora Aparecida 2021Documento2 páginasCantos Festa Da Padroeira Nossa Senhora Aparecida 2021Ana EtelvinaAinda não há avaliações
- Anais VII Congresso de História de Ivaipora 2017Documento364 páginasAnais VII Congresso de História de Ivaipora 2017Amanda MalheirosAinda não há avaliações
- As Sagradas Escrituras Confirmam A GnosisDocumento51 páginasAs Sagradas Escrituras Confirmam A GnosisCbr Innovacion100% (1)
- COLETÂNEA DE MENSAGENS E PALESTRAS - 5 Parte PDFDocumento201 páginasCOLETÂNEA DE MENSAGENS E PALESTRAS - 5 Parte PDFLeonilson Queiroz Machado100% (2)
- Ofício Do CarmoDocumento14 páginasOfício Do CarmoMaicom ConstantinoAinda não há avaliações
- UntitledDocumento193 páginasUntitledMicael JonathaAinda não há avaliações
- Apostila Missa 2019Documento150 páginasApostila Missa 2019Carlos Júnior100% (3)
- Festa Das Bem AventurancasDocumento12 páginasFesta Das Bem AventurancasNivaldo CabralAinda não há avaliações
- Novena Natal 2023Documento39 páginasNovena Natal 2023Fábio StefffAinda não há avaliações
- Dicionario de MisticaDocumento1.009 páginasDicionario de MisticaLuiza Colassanto Zamboli100% (8)
- Briefing Posse Dom Peruzzo PDFDocumento13 páginasBriefing Posse Dom Peruzzo PDFGil SantosAinda não há avaliações
- Anais Nordestino 2016Documento8 páginasAnais Nordestino 2016Zuleica DantasAinda não há avaliações
- Radio Makuxi Apostila 01 25Documento94 páginasRadio Makuxi Apostila 01 25JulieDorricoAinda não há avaliações
- Maria e A Palavra de DeusDocumento34 páginasMaria e A Palavra de DeusLuciana RosaAinda não há avaliações
- Apostila de Introdução A Teologia ContemporâneaDocumento59 páginasApostila de Introdução A Teologia Contemporâneadyonekendel100% (2)
- Canticos Casamento JoãoDocumento2 páginasCanticos Casamento JoãoAnthony NascimentoAinda não há avaliações
- Cantos Advento Ano CDocumento12 páginasCantos Advento Ano Cjoaoakayama50% (2)