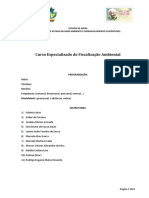Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Guerra Das Patentes Final
Enviado por
Celiane Soares de Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações2 páginasparte final
Título original
A guerra das patentes final
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoparte final
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações2 páginasA Guerra Das Patentes Final
Enviado por
Celiane Soares de Oliveiraparte final
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOC, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 2
Não é uma ideia nova.
Canadá, Chile, Equador, Colômbia, Alemanha e Israel já
fizeram alterações legislativas do tipo. Essa é, inclusive, uma recomendação do
relatório do Painel de Alto Nível do secretário-geral das Nações Unidas, me
disse Jorge Bermudez, médico e chefe do Departamento de Política de
Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Fundação Oswaldo Cruz.
Mas só agora, depois de um ano de pandemia, é que o Brasil começa a avançar
nesse debate. O primeiro PL, o da Câmara, foi apresentado no dia 2 de abril de
2020, quando ainda achávamos que a quarentena duraria 40 dias e só 84
pessoas tinham morrido. E ali ficou. Enquanto o projeto pairava sobre a mesa
de algum burocrata e as tratativas para a vacina esbarravam na incompetência e
no descaso do governo federal, a indústria farmacêutica começou a se mexer.
Três associações que representam as empresas enviaram ofícios ao ex-
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestando contra o projeto de lei.
A argumentação da indústria repete a fórmula de outros debates sobre acesso ao
conhecimento. Diz que a quebra de patentes não facilitará o acesso aos
remédios, que dará insegurança jurídica e que comprometerá a ciência e a
inovação no Brasil – resultando, em um cenário extremo, na fuga desse setor do
país. Dramático.
A Associação Brasileira de Propriedade Intelectual afirmou que o argumento de
que a quebra de patentes facilitaria o acesso “carece de veracidade”, porque
“não existe nesse momento de pandemia nenhuma inovação em se tratando de
insumos farmacêuticos ativos” e que o “licenciamento compulsório não
promove a transferência do conhecimento para acelerar a produção”. A
Interfarma, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa, argumenta na
mesma linha: diz que a justificativa para o projeto de lei “baseia-se numa
suposição”, porque a maior parte dos possíveis tratamentos para a covid-19
“está associada a moléculas antigas e, portanto, não estariam sujeitos à proteção
por patente”.
Mas vai além: diz que a patente é um mecanismo necessário para “criar
incentivos econômicos para pesquisa e desenvolvimento de novos tratamentos”.
O cenário seria catastrófico: “projetos de lei como os aqui mencionados
resultam em um risco de desestimular, não somente o setor de fármacos, mas
outros setores produtivos, que também possuem pedidos de patentes no Brasil.
Caso o país dê indícios de não respeitar a proteção à inovação, haverá fuga de
grandes investimentos em pesquisa e inovação”.
“É uma premissa falsa”, me disse Bermudez, comentando a argumentação das
farmacêuticas. Para ele, é preciso diferenciar custo e preço dos produtos. “Cada
vez mais os preços elevados das tecnologias mais novas não representam
recuperação de custos em pesquisa e desenvolvimento, mas recuperação de
outros investimentos. As patentes representam monopólios que permitem
arbitrar preços elevados, muitas vezes abusivos”.
Além disso, foi dinheiro público que financiou boa parte das vacinas. Três
exemplos: o governo dos EUA financiou a vacina BioNtech/Pfizer com uma
injeção de US$ 550 milhões. Já a Moderna recebeu US$ 955 milhões. E a
Oxford/AstraZeneca, mais de US$ 1,2 bilhão do governo do Reino Unido. Seria
justo que dinheiro público financiasse conhecimento público, né? Mas não.
Essa injeção de grana vai garantir muito lucro para as farmacêuticas e para seus
financiadores, sobretudo fundos de investimento e milionários capitalistas. No
caso da vacina de Oxford, por exemplo, só 6% dos lucros ficarão com a
universidade.
O retorno financeiro é uma questão de tempo: as farmacêuticas já prometeram
aos investidores que o preço das vacinas deve subir em um futuro próximo.
Você também pode gostar
- Passo A Passo - PivoDocumento59 páginasPasso A Passo - PivoCeliane Soares de Oliveira100% (1)
- Aula 15 - Elementos de Construção Do Texto e Seu SentidoDocumento84 páginasAula 15 - Elementos de Construção Do Texto e Seu SentidoMagno Marcoski MarcelinoAinda não há avaliações
- Irrigacao e Drenagem PDFDocumento128 páginasIrrigacao e Drenagem PDFneloreor_774012085Ainda não há avaliações
- Laboratório de Física Geral 3Documento78 páginasLaboratório de Física Geral 3José Lucas Decote de Carvalho LirioAinda não há avaliações
- Relatório técnico sobre barramento em curso d'águaDocumento16 páginasRelatório técnico sobre barramento em curso d'águaJunior CarvalhoAinda não há avaliações
- Projeto de BarragemDocumento52 páginasProjeto de BarragemTácito SantosAinda não há avaliações
- Análise da oferta hídrica para irrigação de cana-de-açúcar em GoiásDocumento8 páginasAnálise da oferta hídrica para irrigação de cana-de-açúcar em GoiásCeliane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- Manual Pratico de IrrigacaoDocumento29 páginasManual Pratico de IrrigacaoPaulo CavalhereAinda não há avaliações
- Projeto de irrigação para 69,40 ha na Fazenda CalifórniaDocumento12 páginasProjeto de irrigação para 69,40 ha na Fazenda CalifórniaCeliane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- Projeto de BarragemDocumento52 páginasProjeto de BarragemTácito SantosAinda não há avaliações
- Trabalho de Pesquisa Sobre Descarga de FundoDocumento104 páginasTrabalho de Pesquisa Sobre Descarga de FundoCeliane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- Recomendações técnicas para cultura soja Região Central BrasilDocumento47 páginasRecomendações técnicas para cultura soja Região Central BrasilCeliane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- Elemento TerraplenagemDocumento48 páginasElemento Terraplenagemshelton089Ainda não há avaliações
- RTA orientações elaboraçãoDocumento16 páginasRTA orientações elaboraçãoCeliane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- Obras Hidráulicas: Canais e TransiçõesDocumento276 páginasObras Hidráulicas: Canais e TransiçõesDennis BekAinda não há avaliações
- Curso Especializado Fiscalização Ambiental GoiásDocumento6 páginasCurso Especializado Fiscalização Ambiental GoiásCeliane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- Elemento TerraplenagemDocumento48 páginasElemento Terraplenagemshelton089Ainda não há avaliações
- Os Caminhos para A Regularização Ambiental: Decifrando O Novo Código FlorestalDocumento24 páginasOs Caminhos para A Regularização Ambiental: Decifrando O Novo Código FlorestalEduardo Pinheiro Sampaio RissoAinda não há avaliações
- Gestao Ambiental Nas EmpresasDocumento22 páginasGestao Ambiental Nas EmpresasMilka SamaraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 2Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 2Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- A Guerra Das Patentes 3Documento1 páginaA Guerra Das Patentes 3Celiane Soares de OliveiraAinda não há avaliações
- ATIV EXPL 14 - CPSN - Fundamentação TeóricaDocumento4 páginasATIV EXPL 14 - CPSN - Fundamentação Teóricadébora_christina_6Ainda não há avaliações
- Coloração PapanicolaouDocumento1 páginaColoração PapanicolaouNessa Lopes100% (1)
- Línguas em AçãoDocumento20 páginasLínguas em AçãoSoraia LourencoAinda não há avaliações
- Stevia NaturalDocumento4 páginasStevia Naturaleevargas50Ainda não há avaliações
- Resultado final QOCON Tec EAT/EIT 1-2019 avaliação curricular ADM São José dos CamposDocumento11 páginasResultado final QOCON Tec EAT/EIT 1-2019 avaliação curricular ADM São José dos CamposfidoruckAinda não há avaliações
- Algebra de MapasDocumento68 páginasAlgebra de MapasFelipe AlcântaraAinda não há avaliações
- Introdução Ao Pentest Mobile PT-1Documento52 páginasIntrodução Ao Pentest Mobile PT-1Felipe RodriguesAinda não há avaliações
- PDM Ponta Do Sol 2001.05Documento9 páginasPDM Ponta Do Sol 2001.05Fernando OliveiraAinda não há avaliações
- Voucher CintiaDocumento3 páginasVoucher CintiaPietra CrizolAinda não há avaliações
- Artigo - Tomás de Aquino e A Questão Da Similitude Por Representação (Primeira Versão em Construção) - Apresentação - Grupo de Estudo Medieval - UFBADocumento28 páginasArtigo - Tomás de Aquino e A Questão Da Similitude Por Representação (Primeira Versão em Construção) - Apresentação - Grupo de Estudo Medieval - UFBAJanunziAinda não há avaliações
- FICHA TÉCNICA PILOTO NovaDocumento1 páginaFICHA TÉCNICA PILOTO NovaGADJAinda não há avaliações
- Fundamentos e Práticas Da Fisioterapia 4 - E-book-Fisioterapia-4Documento228 páginasFundamentos e Práticas Da Fisioterapia 4 - E-book-Fisioterapia-4Yuldash100% (1)
- Apostiladetransformadoresi 170620210348 PDFDocumento101 páginasApostiladetransformadoresi 170620210348 PDFDiogo SacramentoAinda não há avaliações
- Planejamento Maio A1 - B1Documento4 páginasPlanejamento Maio A1 - B1Francisca AlencarAinda não há avaliações
- Apostila Metodologia EstácioDocumento22 páginasApostila Metodologia EstácioAthenneAinda não há avaliações
- Betao45 - APEBDocumento72 páginasBetao45 - APEBBrum ConstroiAinda não há avaliações
- Acentuação de PalavrasDocumento44 páginasAcentuação de PalavrasEvandro RibeiroAinda não há avaliações
- Relatório Das Aulas de EstéticaDocumento18 páginasRelatório Das Aulas de Estéticagaboardi42Ainda não há avaliações
- Semicondutores de Potência para Conversores EstáticosDocumento59 páginasSemicondutores de Potência para Conversores EstáticosÍcaro AndréAinda não há avaliações
- TDR Abertura Ano Lectivo 2024Documento13 páginasTDR Abertura Ano Lectivo 2024Samuel Richald Manditana TitosseAinda não há avaliações
- Ed 78 2023 CP Prof 10dvzDocumento38 páginasEd 78 2023 CP Prof 10dvzLola MarconAinda não há avaliações
- DIRETRIZ CNBC 01-2012 Codigo Ética Bombeiro Civil e Pessoal de Serviços de Emergências - 4a EdDocumento15 páginasDIRETRIZ CNBC 01-2012 Codigo Ética Bombeiro Civil e Pessoal de Serviços de Emergências - 4a Edivan pesquisaAinda não há avaliações
- ACETILCOLINADocumento18 páginasACETILCOLINAErick SaraivaAinda não há avaliações
- Cooperação com DeusDocumento65 páginasCooperação com DeusFatima4BretzAinda não há avaliações
- Teóricos do AbsolutismoDocumento4 páginasTeóricos do AbsolutismoPedro BertonciniAinda não há avaliações
- Análise de infográfico sobre desigualdades sociais no BrasilDocumento9 páginasAnálise de infográfico sobre desigualdades sociais no BrasilBel JamaicaAinda não há avaliações
- Om Uk7500-Sk8000 SeriesDocumento37 páginasOm Uk7500-Sk8000 SeriesLelelemAinda não há avaliações