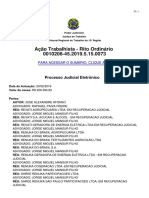Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fontes Do Direito
Fontes Do Direito
Enviado por
fernando alemaoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fontes Do Direito
Fontes Do Direito
Enviado por
fernando alemaoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Introdução ao Estudo de Direito
1. Dissertação
1.1 Fontes do Direito
Quando falamos de Fontes do Direito queremos referir-nos às nascentes, aos
mananciais do Direito. Ou seja, Fontes de Direito são os meios pelos quais se formam
ou se revelam as normas jurídicas
Segundo prelecciona Washington de Barros Monteiro, são várias as
classificações das fontes do Direito. "A mais importante divide-as em fontes directas ou
imediatas e fontes indirectas ou mediatas. Fontes directas ou imediatas são aquelas que,
por si sós, pela sua própria força, são suficientes para gerar a regra jurídica”. São a lei, o
Costume e o Tratado Internacional. Fontes indirectas ou mediatas são as que não têm tal
virtude, porém encaminham os espíritos, mais cedo ou mais tarde, à elaboração da
norma. São a doutrina e a jurisprudência".
1.2 Direito Objectivo e Subjectivo
Não são duas realidades distintas, mas dois lados de um mesmo objeto. Entre
ambos, não há uma antítese ou oposição. O Direito vigente pode ser analisado sob dois
ângulos diferentes: objetivo ou subjetivo. Do ponto de vista objetivo, o Direito é norma
de organização social. É o chamado Jus norma agendi.
O direito subjetivo corresponde às possibilidades ou poderes de agir, que a
ordem jurídica garante a alguém. Equivale à antiga colocação romana, hoje superada, do
Jus facultas agendi. O direito subjetivo é um direito personalizado, em que a norma,
perdendo o seu caráter teórico, projeta-se na relação jurídica concreta, para permitir uma
conduta ou estabelecer consequências jurídicas.
1.3 Figuras Afins
Meros Interesses Jurídicos: podem consistir na subjectiva pretensão a um bem
susceptível de satisfazer uma necessidade (interesse em sentido subjectivo) ou na
relação entre a necessidade e o bem capaz (segundo um critério geral) de a satisfazer
(interesse em sentido objectivo), faltando a faculdade ou poder de exigir ou pretender
comportamentos que definem os direitos subjectivos.
Faculdades em sentido estrito: são possibilidades de agir (facultates agendi)
que a ordem jurídica admite e garante sem, todavia, constituem direitos subjectivos.
Direitos reflexos: são posições jurídicas que nos são tutelados por efeito de
especiais obrigações que oneram os outros.
Expectativas Jurídicas: são situações em que se encontra uma pessoa que se
encontra uma pessoa que ainda não tem um direito subjectivo. Não se trata duma
simples esperança longínqua e fortuita, mas duma situação intermédia mais ou menos
consistente, da esperança, que o direito protege, duma pessoa a favor de quem se está a
formar progressivamente um direito subjectivo, apenas faltando uma condição para que
exista um ius perfectum.
1.4 Fins do Direito
Os fins do direito são: justiça e a segurança jurídica.
Quando falamos da justiça devemos nos referir a ela enquanto virtude social,
aquela que predica e pretende ordenar a vida dos homens na sociedade em que se
integram. Possuí as seguintes características: impessoalidade, dinamismo e alteridade.
De igual modo nos interessa saber os seus elementos lógicos que são: a
proporcionalidade, a igualdade e a alteridade como também é importante sabermos que
quanto às modalidades pode ser: comutativa, distributiva e geral ou legal.
A segurança pode ser entendida no sentido de: ordem que é inerente à existência
e ao funcionamento do sistema jurídico; certeza do direito sendo a segurança o que nos
permite prever os efeitos jurídicos dos nossos actos e, em consequência, planear a vida
em bases razoavelmente firmes; segurança perante ao Estado em que os órgãos do
Estado devem respeitar os direitos que integram a esfera da autonomia dos indivíduos e
das sociedades menores; Segurança social.
1.5 Norma Jurídica
Na Teoria Geral do Direito o estudo da norma jurídica é de fundamental
importância, porque se refere a elemento essencial do Direito objetivo. Ao dispor sobre
fatos e consagrar valores, as normas jurídicas são o ponto culminante do processo de
elaboração do Direito e a estação de partida. A ordem jurídica se expressa através de
normas jurídicas, que são regras de conduta social gerais, abstractas e imperativas,
adoptadas e impostas de forma coercitiva pelo Estado, através de órgãos ou autoridades
competentes. A norma é constituída por duas partes a saber: previsão ou hipótese: refere
uma situação típica da vida; estatuição: é a prescrição de efeitos jurídicos no caso de a
situação prevista se verificar. Possui as seguintes características: hipoteticidade,
generalidade, abstracção. Havendo quem defenda também outras características
nomeadamente: imperatividade, a violabilidade, a bilateralidade, a heteronomia e a
coercibilidade. Resta-nos falar sobre a classificação da norma jurídica e, esta classifica-
se quanto a relação em: imperativa – podendo estas ser: preceptivas e proibitivas;
permissivas – podem ser: facultativas, interpretativas e supletivas. Quanto ao âmbito de
validade espacial podem ser: universais, locais e regionais. Em relação ao âmbito
pessoal de validade podem ser: gerais, especiais e excepcionais. Quanto à plenitude do
seu sentido podem ser: autónomas e não autónomas. E, quanto à sanção que aplica as
normas jurídicas podem ser: leges plus quam perfectae, legs perfectae, leges minus
quam perfectae e leges imperfectae.
2. Abordagem
A ignorância ou má interpretação da lei não justifica a falta do seu cumprimento
nem isenta as pessoas das sanções nela estabelecidas. Temos de distinguir o domínio
das relações entre particulares e entre o Estado e os cidadãos: Entre cidadãos recusa-se a
alegação de ignorância da lei por motivos de justiça – para não se favorecer os
ignorantes em detrimento dos que fazem questão de conhecer e praticar a Lei; mas
sobretudo por razões de segurança jurídica, se todos pudessem alegar ignorância da lei,
o Direito era um caos, e não era profícuo. Atribui-se ao Estado, a responsabilidade pelo
conhecimento e acesso ao Direito dos cidadãos (é o Estado que deva dar instrumentos
para ser fácil ao cidadão saber, conhecer a lei - Princípio da Segurança/Certeza jurídica.
2.1 Status naturalis do homem
O Homem sempre viveu em comunidade: clã, tribo, família, cidade (polis),
Sociedade e Estado são, entre outras, formas organizativas em que se tem manifestado a
natureza societária ou a sociabilidade do homem ao longo da História. Na verdade, o
Homem é um ser eminentemente social, na medida em que não consegue viver só ou
isolado dos outros homens: ele tende a viver em sociedade, porque só assim pode
desenvolver todas as suas capacidades. Isto tudo para dizer que o status naturalis do
homem nunca existiu e que desde há muito tempo foi superada a doutrina contratualista
por ser o homem um ser social.
2.2 Jusnaturalismo e o Positivismo
O Jusnaturalismo (ou Escola do Direito Natural) abrange diversas vertentes que,
embora apresentem certas peculiaridades próprias, envolvem aspectos essenciais em
comum, defendendo a existência de leis naturais, imutáveis e universais quanto aos seus
primeiros princípios (como “o bem deve ser feito”), asseverando que o Direito Natural
antecede ao Direito positivo, sendo inerente à natureza humana. Na Idade Média, o
jusnaturalismo apresenta conteúdo teológico, indicando como fundamento do Direito
Natural a vontade divina.
A concepção do Direito Natural, com fundamento teológico, tem como um de
seus representantes S. Tomás de Aquino no século XIII, o qual destaca na Suma
teológica a seguinte hierarquia entre as leis: a lei eterna, que é suprema (só o próprio
Deus conhece em sua plenitude), abaixo da qual estão a lei divina (parte da lei eterna
revelada por Deus) e a lei natural (decorrente da natureza humana); e, mais abaixo, a lei
humana (lei positiva produzida pelo legislador).No século XVII, tem início o
jusnaturalismo não teológico, fundado na razão humana. Nessa concepção, ainda que
apresentem diferenças entre eles, destacam-se Grotius, Pufendorf, Locke (fazendo
alusão ao “pacto social” para sanar as deficiências do “estado de natureza”, instaurando
o “governo do estado civil”), Spinoza, Hobbes (apontando o “estado natural” gerando
um “estado de guerra”, celebrando-se o “contrato social” para se estabelecer a ordem
jurídica) e Rousseau (destacando que no “estado natural” o homem é bom, mas a
sociedade o corrompe, tornando necessário o “pacto social”).
O Juspositivismo é a perspetiva que tem como base a ideia de que a análise do
Direito deve limitar-se ao Direito que está estabelecido ou “posto”, abstendo-se de
valorações éticas. A única coisa importante é que se cumpra o processo de criação das
regras. A Constituição é a pedra sobre a qual se constrói o edifício. Um juspositivista
aceita como verdadeiro, tudo o que vigorar por imperativo humano, sendo irrelevante
qualquer critério que lhe seja superior. Para o juspositivista, não se coloca o problema
da lei injusta: a lei ou é ou não é, independentemente de ser contrária ou não a qualquer
valor
1. Direito Constitucional
Argumentação sobre as seguintes matérias
1.1 Divisões do Direito Constitucional
Direito Constitucional Processual: parcela do Direito Constitucional que se
reserva ao estabelecimento dos mecanismos processuais de fiscalização da
constitucionalidade das leis.
Direito Constitucional Económico: regula o funcionamento e a organização
económica do Estado no que se refere a intervenção reguladora do poder público ou na
faculdade deste produzir actos legislativos, normas que preenchem este capítulo do
direito.
Direito Constitucional Social: conjunto de princípios e de normas
constitucionais que versam sobre os direitos fundamentais das pessoas em relação ao
poder público quer nos aspectos gerais, quer nos aspectos de especialidade.
Direito Constitucional Garantístico: conjunto de princípios e normas
constitucionais que estabelecem mecanismos destinados a protecção da Constituição e a
defesa da sua prevalência sobre os actos jurídicos que lhe sejam contrários.
Direito Constitucional Económico Financeiro e Fiscal: conjunto de princípios
e normas constitucionais que cuidam da organização económica da sociedade, medindo
os termos da intervenção do poder público nos planos dos regimes económicos,
financeiros e fiscais.
Direito Constitucional de Segurança: parcela do Direito Constitucional que
diz respeito à organização das actividades das forças armadas e policiais
constitucionalmente relevantes tanto como parte integrante das estruturas do Estado
como na óptica dos direitos fundamentais dos cidadãos para com a Segurança Nacional.
Direito Constitucional Ambiental: parcela do Direito Constitucional que
incide sobre à protecção do ambiente confere direitos aos cidadãos e esquemas de
actuação do poder público.
Direito Constitucional Eleitoral: parcela do Direito Constitucional que se
organiza em termo da eleição como modo fulcral de designação dos governantes
atendendo à dinâmica do procedimento eleitoral levando em consideração o direito de
sufrágio e a possibilidade de os cidadãos poderem democraticamente influenciar na vida
do Estado.
Direito Constitucional de Excepção: parcela do Direito Constitucional que
engloba princípios e normas quese aplicam em aituações de crise que perturbam a
estabilidade constitucional numa lógica temporária.
Direito Constitucional Internacional: parcela do Direito Constitucional que
traça as relações jurídicas internacionais do Estado simultaneamente do ponto de vista
da participação na formação e incorporação.do Direito Internacional Privado no direito
interno sem esquecer peculiaridades das relações que os Estados ostentam com algumas
organizações internacionais.
1.2 Características do Direito Constitucional
Supremacia: o Direito Constitucional assume uma posição suprema colocando-
se no topo do preâmbulo das leis, dando lugar a um sentido ordenador que não poder ser
contrariada por qualquer fonte normativa.
Estabilidade: o Direito Constitucional é o sujeito e objecto do próprio Estado, o
Direito Constitucional é o mais estadual dos ramos jurídicos ao representar a
radicalidade da soberania estadual.
Abertura: Em termos práticos, o Direito Constitucional aceita
complementaridade e recepção de outros ordenamentos internacionais e internos e, com
eles mantém relações que não podem ser desprezadas sobretudo, na parte dos direitos
fundamentais.
Fragmentarismo: Significa que raramente compete ao Direito Constitucional
efectuar uma regulação completa das matérias que se debruça deixando muitos dos seus
elementos a outros níveis reguladores.
Politicidade: Em alguns casos a intervenção do Direito Constitucional por vezes
terá que aceitar que aí a decisão possa ser livremente determinada por critérios políticos,
não juridicamente controláveis aos níveis dos respectivos parâmetros próprios.
Transversalidade: o posicionamento do Direito Constitucional no cimo do
ordenamento jurídico pode também refletir-se numa perspectiva material o que
automaticamente faz transparecer a transversalidade das matérias que o atravessam.
Juventude: o Direito Constitucional é, porém pelo pouco tempo que medeia
entre a sua criação moderna e a actividade em que actualmente vivemos.
Legalismo: o Direito Constitucional assenta inevitavelmente numa visão de
cunho legalista pois que o acento tónico na relevância que é conferida às respectivas e
possíveis fontes normativas é a lei.
1.3 Relação do Direito Constitucional com outros ramos
O Direito Constitucional tem relação com o direito: penal, económico, da
segurança, administrativo, fiscal, financeiro, judiciário, internacional público, religioso,
processual. Gostaríamos de abordar de cada um de forma particular, mas atendendo aos
critérios da elaboração do trabalho falaremos de relação com um ramo.
Direito Penal: é o sector jurídico mais drástico, sanciona os comportamentos
humanos através da respectiva criminalização, aplicando aos infractores penas
privativas de liberdade e medidas de segurança relaciona-se com o direito constitucional
no plano de catálogos dos direitos fundamentais consagrados na constituição.
1.4 Ciências Auxiliares e Afins do Direito Constitucional
As ciências auxiliares e afins do direito constitucional são as seguintes: Ciência
Política, Teoria Gera do Estado, Sociologia Política, História das Ideias Políticas,
Filosofia Política, Política Constitucional e a Economia do Direito Constitucional. Tal
como anteriormente fizemos, faremos novamente abordando somente uma das ciências.
Ciência Política: é a actividade humana competitiva com vista a aquisição, a
manutenção e exercício do poder estuda a política, os fenómenos políticos, os sistemas
políticos, organizações políticas, processos políticos.
2. Constitucionalismo Angolano
2.1 Período da evolução histórico-política de Angola
O itinerário histórico-político de Angola permite divisar as seguintes fases:
A fase colonial, da descoberta e ocupação portuguesa; A fase da I República,
com a independência política no exercício do direito a autodeterminação contra a
potência colonizadora e posterior adoção de um regime inspirado no socialismo
soviético; A fase de transição para um regime jurídico-constitucional de Estado de
Direito Democrático, após os Acordos de Bicesse, com a abertura ao pluralismo
político-social, a realização das primeiras eleições pluripartidárias presidenciais e
legislativas e o (infeliz) regresso à guerra civil.; A fase da consolidação político-
constitucional, com a adoção de uma Constituição, completa e definitiva, aprovada por
um parlamento pluripartidário em 2010.
2.2 A época colonial portuguesa (1482-1974)
Angola foi descoberta por Diogo Cão, entre 1482 e 1483, tendo aquele navegado
português chegado a foz do rio Zaire e zonas circundantes. No período do
constitucionalismo português o território de Angola seria sempre objecto de
constitucionalização na indicação geográfica de Portugal.
2.3 A Revolução dos Cravos de 25 de Abril de 1974 e o processo da
independência de Angola (1974-1975)
A assinatura do acordo de Alvor a 15 de janeiro determinaria uma mudança
decisiva no processo de autodeterminação de Angola, celebrado entre o Estado
Português e os três movimentos de libertação que participaram na guerra ultramarina:
FNLA, MPLA e UNITA. Este acordo era composto por 60 artigos.
2.4 A Lei Constitucional da República Popular de Angola de 1975, as suas
revisões e a I República (1975-1991)
A proclamação da independência de Angola deu-se a 11 de novembro de 1975,
altura em que passou avigorar a sua primeira Constituição com a designação “Lei
Constitucional da República Popular de Angola” (LCRPA) de 1975 constituída por 60
artigos. Ao longo desta República existiram várias revisões entre elas: o reforço do
papel do MPLA através do Comité Central por meio da lei nº 71/76 de 11 de novembro;
reforço dos poderes presidenciais e redução do papel do Conselho da Revolução pela lei
nº13/17 de 16 de agosto, etc. outras podemos consultar no material do Bacelar Gouveia.
2.5 O início da transição democrática e a lei constitucional da República
Popular de Angola de 1991 (1991-1992)
Os acordos de bicesse que deu fim as hostilidades na I primeira República deram
também, o lançamento as bases do Estado de Direito Democrático. Essa transição
assentou em vários momentos o primeiro foi pela aprovação da Assembleia do Povo,
ainda monopartidária composta pelo MPLA da lei nº12/91 de 6 de maio, supostamente
de revisão à LCRPA/1975 e intitulada “lei de revisão constitucional” sendo composta
por 100 artigos. O consagramento do Estado de Direito Democrático pela lei de revisão
constitucional mudou radicalmente a identidade do país podendo ser comprovado pelo:
a abolição à referência ao papel do MPLA como partido único; a alusão ao
pluripartidarismo.
2.6 A Lei Constitucional da República de Angola de 1992 e e as suas
revisões (1992-2010)
Com a assinatura do acordo de Bicesse, implicou a necessidade de um
aprofundamento na legislação aplicável, o que veio a acontecer pela aprovação de uma
nova Lei de Revisão Constitucional a lei nº 23/92 de 16 de setembro. As principais
mudanças resultantes desta lei foram: a nova designação de República de Angola, no
lugar de República Popular de Angola; a adoção em geral do paradigma do Estado de
Direito Democrático; o reforço da protecção dos direitos humanos; a separação de
poderes, adoptando-se um semipresidencialismo; a criação de um Tribunal
Constitucional.
História do Pensamento Jurídico
Escola Histórica de Direito
Esta escola representa, no campo do direito, a mudança de clima do pensamento
jurídico derivada da difusão do romantismo: é a expressão mais genuína do romantismo
jurídico. Como o romantismo em geral combate a abstração racionalista do iluminismo
do século XVIII (ou pelo menos suas degenerações), também a escola histórica do
direito ataca aquele modo racionalista e abstrato de conceber o direito, que é o
jusnaturalismo, segundo o qual há um direito universalmente válido dedutível de uma
natureza humana sempre igual. Para a escola histórica, o direito não se deduz dos
princípios racionais, mas é um fenômeno histórico e social que nasce espontaneamente
do povo: o seu fundamento é, para usar uma expressão que se tornou famosa, não a
natureza universal, mas o espírito do povo (Volksgeist), daí a conseqüência de existirem
tantos direitos diversos quanto diversos são os povos com suas inúmeras características
e em suas várias fases de desenvolvimento. A mudança de perspectiva no estudo do
direito se manifesta sobretudo na consideração do direito consuetudinário como fonte
primária do direito, isto porque ele surge imediatamente da sociedade e é a expressão
genuína do sentimento jurídico popular em confronto com o direito imposto pela
vontade do grupo dominante (a lei) e aqueles elaborados pelos técnicos (o chamado
direito científico.
Escola de Annales
A Escola dos Annales também chamada de Escola Francesa trouxe uma nova
perspectiva sobre a história com o desenvolvimento de uma história longa duração,
história problema e quantitativa, em que o historiador, sob uma temática, visa se
debruçar, analisar, investigar, interrogar e compreender. Apresentava-se a princípio a
inicial dificuldade entre historiadores dos Annales e os historiadores do Direito para em
seguida afirmar-se que essadificuldade era aparente conseguindo assim implementar a
interdisciplinariedade a fim de se obter um conhecimento mais amplo sobre a
civilização.
Origem da Cultura Jurídica Europeia
Para compreendermos a origem dá origem da cultura jurídica europeia passa por
compreendermos o Direito Romano que, como dizia cruz (1984), no início forma um
sistema fechado, próprio só dos quirites. O direito romano apresenta uma evolução
completa: nasce, cresce, atinge o seu apogeu, decai; retoma uma fase de certo esplendor,
para depois se codificar fenómeno este que, não se verifica com nenhum outro direito.
Surgem assim, vários critérios para explicar a sua evolução nomeadamente o critério:
político, normativo, jurídico externo, o jurídico interno. Interessando-nos o critério
jurídico interno que nos apresenta as seguintes épocas históricas do direito romano a
saber: a arcaica; clássica; post-clássica e a Justiniana. Como bem dizíamos a princípio
era um sistema restrito que, passou a posterior a ter influência sobre a Europa vigorando
o direito comum. a formação do direito comum na europa ocidental deu-se por vários
factores, um deles foi a reconstituição do império do Carlos Magno, no século IX, o
sacro romanum imperium, a ideia de unidade entre a religião, o império e o direito, e a
união entre o governo temporal e espiritual, originando a respublica christiana e
consequentemente formou-se o direito comum na europa ocidental no século XI, e foi
até ao século XVIII. O direito da europa ocidental do século XI ao XVIII foi chamado
de ius commune. O direito comum caracterizou-se como um direito resultante da
unificação de três direitos, nomeadamente, o direito Justiniano, o direito canónico, e o
direito local e também por ter sido um direito que se ensinava pelas universidades de
toda a europa, como um saber jurídico comum, ensinado numa só língua, o latim, mas
sem comprometer as culturas indígenas de cada reino europeu
Formação da Ciência Jurídica Europeia
O saber-jurídico do Ius Romanum, até ao séc III não se adquiria como hoje: um
a ensinar e muitos a aprender. Até Cícero não havia livros jurídicos didáticos, o
candidato a jurista ia ouvindo atentamente o mestre e tomava as suas notas e
acompanhava frequentemente ao Tribunal. Até o mesmo século não eram muitos os que
se dedicavam ao estudo do Ius, pois era necessário: pertencer a uma certa classe social;
sentir uma autêntica vocação para ser um verdadeiro sacerdote da Iustitia. Por outra, até
esse período a formação jurídica romana não se fazia em estabelecimento de ensino.
Já nos finais do mesmo século, III, passaram a existir razões que justificaram a
existência das escolas: 1. A necessidade de haver um grande número de pessoas
conhecedoras de Direito, como consequência do edicto de Carcala (212); 2. Os cargos
na chancelaria; 3. O Direito, mas do que a Oratória dá muitas saídas.
As principais Escolas são: Roma, Constantinopla e Beirute. Sendo que a de
Roma foi a primeira não se conheciam os programas, sabe-se, porém, que os professores
eram dos melhores, pois os mestres mais famosos da Grécia lecionavam em Roma.
Economia Política
Mercado
A priori, o termo mercado era utilizado para designar, um lugar em que ocorriam as
transações de bens e serviços. Ou seja, é o mecanismo pelo qual compradores e
vendedores interagem para determinar os preços e trocar bens ou serviços. Podendo
este, ser classificado de diversas maneiras a saber:
1- De acordo com a natureza física dos produtos transaccionados, onde vamos
encontrar os mercados têxteis de habitação, de petróleos, automóveis etc.
2- Distingue-se os mercados de acordo com a natureza económica, dos bensou
serviços, que são os mercados dos bens reais, e o mercado dos produtos
financeiros (mercados instáveis);
3- Distingue-se o mercado de acordo com o âmbito geográfico das trocas, onde
vamos encontra o “mercado interno e o mercado externo” Mercado interno-
mercado local, regional e nacional Mercado externo mercado mundial, europeu,
asiático, etc.
Condições Económicas e Sociais da França em 1756
Até o século XVIII, a França era um estado em que vigia o modelo do absolutismo
monárquico. O então rei francês, Luís XVI, personificava o Estado, reunindo em sua
pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Os franceses então não eram
cidadãos de um Estado Democrático Constitucional, como hoje é comum em todo o
mundo ocidental, mas eram súditos do rei. O rei personificava o Estado.
Dentro da estrutura do Estado Absolutista, havia três diferentes estados nos
quais a população se enquadrava: o primeiro estado era representado pelos bispos do
Alto Clero; o segundo estado tinha como representantes a nobreza, ou a aristocracia
francesa – que desempenhava funções militares (nobreza de espada) ou funções
jurídicas (nobreza de toga); o terceiro estado, por sua vez, era representado pela
burguesia, que se dividia entre membros do Baixo Clero, comerciantes, banqueiros,
empresários, os sans-cullotes (“sem calções ”), trabalhadores urbanos, e os
camponeses, totalizando cerca de 97% da população.
Ao logo da segunda metade do século XVIII, a França se envolveu em inúmeras
guerras, como a Guerra do Sete Anos (1756-1763), contra a Inglaterra, e o auxílio dado
aos Estados Unidos na Guerra de Independência (1776). Ao mesmo tempo, a Corte
absolutista francesa, que possuía um alto custo de vida, era financiada pelo estado, que,
por sua vez, já gastava bastante seu orçamento com a burocracia que o mantinha em
funcionamento. Soma-se a essa atmosfera duas crises que a França teria que enfrentar:
1) uma crise no campo, em razão das péssimas colheitas das décadas de 1770 e 1780, o
que gerou uma inflação 62%; e 2) uma crise financeira, derivada da dívida pública que
se acumulava, sobretudo pela falta de modernização econômica – principalmente a falta
de investimento no setor industrial.
Os membros do terceiro estado (muitos deles influenciados pelo pensamento
iluminista e pelos panfletos que propagavam as ideias de liberdade e igualdade,
disseminados entre a população) passaram a ser os mais afetados pela crise.
Factores que dependem do consumo de bens e serviços
Para que os bens e serviços de que necessitamos possam ser produzidos é
necessária a combinação de factores de várias naturezas nomeadamente: máquinas,
matérias-primas, terreno, trabalho, criatividade, financiamento e, este factores fazem
parte dos ou podem ser classificados em: Recursos Naturais, Trabalho e do Capital.
Recursos Naturais: englobam todos os elementos que a natureza fornece à
actividade produtiva e que não foram alvo de transformação prévia.
Trabalho: o trabalho representa o tempo humano, seja físico ou intelectual
dispendido na produção.
Capital: em linguagem corrente representa o conjunto de bens que um
determinado indivíduo possui, podendo ser utilizado como um sinónimo de riqueza. Em
economia o capital é constituído apenas pelos bens que são utilizados na actividade
produtiva. O capital pode ser classificado em: financeiro e humano.
Aspectos de aproximação entre a fisiocracia e a escola clássica
Foram os primeiros defensores do laissez-faire (liberalismo econômico), e inspiraram
todos os teóricos clássicos e neoclássicos.
As tipologias de Mercantilismo
O Mercantilismo é o nome dado a um conjunto de práticas económicas
desenvolvidas na Europa da idade moderna, entre o século XV e os finais do século
XVIII e originou diversas medidas de acordo com os estados. O mesmo caracterizou-se
por uma forte ingerência do Estado na economia e numa serie de medidas tendentes a
unificar o mercado interno. O termo Mercantilismo, foi criado pelo economista Adam
Smith em 1776, a partir da palavra latina mercari, que significa “gerir um comércio”, de
mercadorias ou produtos.
As tipologias de mercantilismo são
Bulionismo ou Metalismo; Colbertismo ou Balança Comercial Favorável;
Mercantilismo Comercial e Marítimo.
Bulionismo ou Metalismo (Espanhã e Portugal)
É uma teoria económica da idade moderna (1453-1789) que quantifica a riqueza
através da quantidade de metais preciosos possuídos. Baseia-se na crença de posse e
acúmulo de ouro e de metais preciosos, confundindo estes com capital, não investindo
em actividades lucrativas como manufacturadas, comércio etc., ou seja, a preocupação
do mercantilista espanhóis e portugueses era de conservar a maior quantidade possível
de ouro e prata das colónias das Américas e África. Pensavam que assim conseguiriam
preservar a riqueza e o poderio do Estado.
Colbertismo ou Balança Comercial Favorável (França)
Nasceu no século XVII e é o Mercantilismo característico da política económica
francesa. Teorizado e promovido por Jean-Baptiste Colbert, controlador geral das
finanças do rei Luís XIV. Uma vez que o comércio internacional se fazia por meio de
metais, ouro e prata, o colbertismo propunha que o volume de exportações fosse maior
que o de importações, obtendo uma balança comercial favorável.
Mercantilismo Comercial e Marítimo (Inglaterra)
À semelhança da Holanda que se enriquecera graças ao comércio, sem dispor de
uma indústria forte, também a expansão económica da Inglaterra, no séc. XVII, se
operou basicamente a partir do comércio externo. Embora considerassem que a indústria
podia contribuir para alimentar as exportações, entendiam que ela era apenas um meio,
entre outros, de os países enriquecerem
Você também pode gostar
- Recurso Recurso Especial Indeferimento Justiça Gratuita Pessoa JurídicaDocumento11 páginasRecurso Recurso Especial Indeferimento Justiça Gratuita Pessoa Jurídicaigor.csj97Ainda não há avaliações
- Noções de Direito Processual PenalDocumento114 páginasNoções de Direito Processual PenalJavé Fontenele de Oliveira AraújoAinda não há avaliações
- Aula 06 - Curso Introducao As Relacoes InternacionaisDocumento42 páginasAula 06 - Curso Introducao As Relacoes Internacionaisfernando alemaoAinda não há avaliações
- Aula 04 - Introducao As Relacoes InternacionaisDocumento31 páginasAula 04 - Introducao As Relacoes Internacionaisfernando alemaoAinda não há avaliações
- Índice Sistemático Do Novo Código PenalDocumento14 páginasÍndice Sistemático Do Novo Código Penalfernando alemaoAinda não há avaliações
- Aula 1 - Curso de Introducao As Relacoes InternacionaisDocumento19 páginasAula 1 - Curso de Introducao As Relacoes Internacionaisfernando alemaoAinda não há avaliações
- Tema #3a Do STFCL Como4 Fazer Um Projecto de PesquisaDocumento95 páginasTema #3a Do STFCL Como4 Fazer Um Projecto de Pesquisafernando alemaoAinda não há avaliações
- Apresentação PowerPointDocumento22 páginasApresentação PowerPointfernando alemaoAinda não há avaliações
- IVM - Cidadania Fiscal - IVMDocumento33 páginasIVM - Cidadania Fiscal - IVMfernando alemao0% (1)
- Incêndio de RomaDocumento2 páginasIncêndio de Romafernando alemaoAinda não há avaliações
- Elementos Textuais e Pós-Textuias Do TFCDocumento44 páginasElementos Textuais e Pós-Textuias Do TFCfernando alemaoAinda não há avaliações
- Casos Práticos de Acção DeclarativaDocumento1 páginaCasos Práticos de Acção Declarativafernando alemaoAinda não há avaliações
- Editio de MilãoDocumento1 páginaEditio de Milãofernando alemao100% (1)
- Concílio de NíceaDocumento1 páginaConcílio de Níceafernando alemaoAinda não há avaliações
- TRILHA Cidadania Na Era DigitalDocumento12 páginasTRILHA Cidadania Na Era DigitalMarcela AndradaAinda não há avaliações
- Emolumentos e Taxas Sergipe 2019Documento27 páginasEmolumentos e Taxas Sergipe 2019joeljoaquimAinda não há avaliações
- Trabalho Da AlineDocumento8 páginasTrabalho Da AlineThayleyd MendesAinda não há avaliações
- Formulário Requerimento de Alvará SanitárioDocumento4 páginasFormulário Requerimento de Alvará Sanitáriobi bicAinda não há avaliações
- Objecto Dos Dtos ReaisDocumento6 páginasObjecto Dos Dtos ReaisHermenegildo AnaqueAinda não há avaliações
- Slides Direito EmpresarialDocumento156 páginasSlides Direito EmpresarialEVANDRO B ANDRADEAinda não há avaliações
- IDPP - Exercícios de RevisãoDocumento19 páginasIDPP - Exercícios de RevisãoSilvana PaivaAinda não há avaliações
- Athena Saúde Brasil S.A.: Fato RelevanteDocumento1 páginaAthena Saúde Brasil S.A.: Fato RelevanteBruno Enrique Silva AndradeAinda não há avaliações
- Memorex Direito Constitucional (Principais Bancas) - Rodada 03Documento11 páginasMemorex Direito Constitucional (Principais Bancas) - Rodada 03Lucas BritoAinda não há avaliações
- Monografia Perodo 2020-1 RMULO FERNANDES COSTA - UFRRJDocumento62 páginasMonografia Perodo 2020-1 RMULO FERNANDES COSTA - UFRRJWeliton SilvaAinda não há avaliações
- Ações AcidentáriasDocumento23 páginasAções AcidentáriasMarcos FischerAinda não há avaliações
- Ação Trabalhista - Rito Ordinário 0010206-45.2019.5.15.0073: Processo Judicial EletrônicoDocumento39 páginasAção Trabalhista - Rito Ordinário 0010206-45.2019.5.15.0073: Processo Judicial EletrônicoJoao AfonsoAinda não há avaliações
- Termo de Acordo - Tales AtualizadoDocumento3 páginasTermo de Acordo - Tales AtualizadoSUPRI PAIVA CYBER CAFÉ SUPRI PAIVAAinda não há avaliações
- Modelo Minuta de Inventario Extrajudicial em CartorioDocumento8 páginasModelo Minuta de Inventario Extrajudicial em CartorioLeonardo GaspariniAinda não há avaliações
- Direito Civil - Mapa Mental 40° Exame Da OABDocumento18 páginasDireito Civil - Mapa Mental 40° Exame Da OABMarqueilaneAinda não há avaliações
- ATPVDocumento1 páginaATPVCarol ValadaoAinda não há avaliações
- Direito Processual CivilDocumento82 páginasDireito Processual CivilMeccia SoaresAinda não há avaliações
- 0801212-91.2021.8.19.0063.pdf - PROCESSO INTEGRADocumento170 páginas0801212-91.2021.8.19.0063.pdf - PROCESSO INTEGRAMARCELLEAinda não há avaliações
- Casos Práticos Resolvidos IlicitudeDocumento6 páginasCasos Práticos Resolvidos IlicitudeLuana CamiloAinda não há avaliações
- Caso Pratico 14 AtualizDocumento2 páginasCaso Pratico 14 AtualizSophia VianaAinda não há avaliações
- Novo Decreto Contra Covid em Faro (PA)Documento3 páginasNovo Decreto Contra Covid em Faro (PA)Blog do JesoAinda não há avaliações
- Modulo 2 Historia Da Justiça BRDocumento68 páginasModulo 2 Historia Da Justiça BRLuis Felipe CamargosAinda não há avaliações
- TJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição Nº 7516/2023 - Terça-Feira, 10 de Janeiro de 2023Documento167 páginasTJPA - DIÁRIO DA JUSTIÇA - Edição Nº 7516/2023 - Terça-Feira, 10 de Janeiro de 2023Asaph MartinsAinda não há avaliações
- Indenizacao Violencia ObstetricaDocumento27 páginasIndenizacao Violencia ObstetricaSteleijanes CarvalhoAinda não há avaliações
- 2material Preparatório para o Exame Da Certificação Privacy Information Management Foundation ISO IEC 27701 - Overview - AlunoDocumento122 páginas2material Preparatório para o Exame Da Certificação Privacy Information Management Foundation ISO IEC 27701 - Overview - AlunoCláudio JunyAinda não há avaliações
- Trecho Do Discurso "Cidadania em Uma República" (Ou "O Homem Na Arena"), Proferido Na Sorbonne Por Theodore Roosevelt, em 23 de Abril de 1910Documento64 páginasTrecho Do Discurso "Cidadania em Uma República" (Ou "O Homem Na Arena"), Proferido Na Sorbonne Por Theodore Roosevelt, em 23 de Abril de 1910luana leticiaAinda não há avaliações
- Contrato de Prestação de ServiçosDocumento6 páginasContrato de Prestação de ServiçosWesllen OliveiraAinda não há avaliações
- Constituição MaterialDocumento8 páginasConstituição MaterialThaissa SlongoAinda não há avaliações