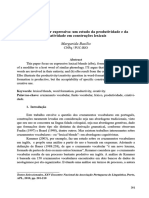Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Willi Bolle A Paixão Como
Willi Bolle A Paixão Como
Enviado por
ThiagoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Willi Bolle A Paixão Como
Willi Bolle A Paixão Como
Enviado por
ThiagoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Diadorim:
a paixão como
E
m todos os debates sobre Grande Sertão: Ve-
WILLI BOLLE
redas (1) sempre surge alguém que quer sa-
ber do significado de Diadorim. De fato, essa
figura, a paixão do protagonista-narrador
Riobaldo, é o cerne e o substrato emocional
do romance. Não é por acaso que na França, onde a
reflexão sobre o amor faz parte da cultura, o livro tenha
saído com o título Diadorim. Curiosamente, no entanto,
dentre os mais de 1.500 estudos já publicados sobre o
romance, não existe nenhuma monografia que tenha se
dedicado de corpo e alma ao desafio que é interpretar
Este texto é uma versão reelaborada
do capítulo homônimo do meu es- essa figura misteriosa, enigmática, difícil. Mesmo as-
tudo “grandesertão.br ou: A Inven-
ção do Brasil” (Bolle, 2000, pp. sim, com as pesquisas existentes, já se dispõe de um
63-73). Dedico o presente traba-
lho à memória do professor Anto- considerável repertório de conhecimentos.
nio Augusto Soares Amora (1917-
99), da Universidade de São Pau-
lo, professor-visitante na Freie Esboçando uma tipologia dos estudos publicados até
Universität Berlin, em 1966, quan-
do me fez conhecer o romance agora sobre Diadorim, podemos identificar quatro abor-
de Guimarães Rosa, além de pos-
sibilitar-me um contato pessoal dagens diferentes. 1) Análises que tematizam o amor,
com o autor.
num enfoque psicológico-cultural; dentre elas, Benedi-
to Nunes (1964), “O Amor na Obra de Guimarães Rosa”,
e Carlos Fantinati (1967), “Um Riobaldo, Três Amo-
res”. 2) Leituras que identificam Diadorim como
encarnação do tópos literário da donzela-guerreira (Pro-
1 Rosa, 1967 (1a ed., 1956);
citado daqui em diante GSV. ença, 1958; Arroyo, 1984; Galvão, 1998). 3) Estudos
80 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
WILLI BOLLE é professor
de Literatura da USP e
autor de, entre outros,
Fisiognomia da Metrópole
Moderna (Edusp).
medium-de-reflexão
mitológicos que vêem Diadorim como figura iniciática,
andrógino e expressão da coincidentia oppositorum;
esse tipo de abordagem, do qual Benedito Nunes (1964)
é um dos precursores, tem merecido também a atenção
da crítica esotérica (Utéza, 1994). 4) Algumas interpre-
tações, de publicação recente, que se interessam por
Diadorim como figura da poética de Guimarães Rosa
(Hansen, 2000; Mourão, 2000).
Diferentemente dos primeiros três tipos, e com uma
certa afinidade com o quarto tipo dessas abordagens,
propõe-se aqui um estudo funcional. Em vez de analisar
Diadorim ontologicamente como um personagem (o
enigmático amor de Riobaldo) ou como um tópos lite-
rário-mitológico, interpreto-o como uma figura, no sen-
tido da retórica clássica, isto é, como uma forma de
organizar os elementos do discurso. Pretendo demons-
trar que a figura de Diadorim é a peça-chave para Gui-
marães Rosa estruturar sua narrativa, um recurso artís-
tico para ele compor os inúmeros elementos esparsos.
Minha leitura é uma interpretação figural, na esteira de
Erich Auerbach (1939), para quem a figura, dentro da
tradição medieval cristã, notadamente a Beatriz de Dante,
desempenha a função de guia, perspectiva de salvação
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 81
e revelação. Na historiografia atual, esse mé- xas para a descoberta do sexo de Diadorim
todo repercute no realismo figural de Hayden “localizam-se esparsamente por toda a nar-
White (1999). O presente estudo, pelo fato rativa”. Esse procedimento não caracteriza
de investigar a relevância poética de Dia- apenas o personagem, mas a forma de com-
dorim com vistas à sua função histórica, posição de todo o romance: é um modo de
acaba se diferenciando também do quarto escrever “espaçado” e “disjuntivo”, uma
tipo do referido quadro de interpretações. “poética da dissolução” (cf. Bolle, 1998,
Diante do pano de fundo da interpreta- pp. 269 e segs.). E se Guimarães Rosa, no
ção figural e histórica, o conceito-guia des- dizer de Walnice Galvão (1972, p. 63),
te estudo é a paixão estética, que permite “dissimula a História, para melhor
abranger os vários planos do romance, in- desvendá-la”, não seria Diadorim a figura
clusive a filosofia da história do autor. Esse emblemática desse estilo dissimulador?
conceito é usado por Walter Benjamin, in- Quanto à idéia de paixão estética, exis-
terlocutor de Auerbach, no seu projeto das te também uma forte razão intertextual e
Passagens Parisienses como uma catego- histórica para Guimarães Rosa recorrer a
ria construtiva para organizar a experiên- esse estratagema. Para explicá-la, é neces-
cia do indivíduo no espaço histórico-cultu- sário esclarecer alguns pressupostos.
ral da modernidade (cf. Bolle, 1999). En- Grande Sertão: Veredas pode ser en-
tendo a paixão como a forma mais densa de tendido como uma reescrita crítica do gran-
organização do tempo, do saber e da ener- de livro precursor que é Os Sertões (2), de
gia, na dimensão de uma vida humana, Euclides da Cunha (cf. Bolle, 2000). Rees-
como também de uma geração ou de um crita, não no sentido causal ou determinista
período histórico. No romance de Guima- de uma influência da obra anterior sobre a
rães Rosa, a paixão do protagonista-narra- posterior, nem de uma retomada intencio-
dor pelo personagem Diadorim, no plano nal e sistemática, mas dentro de uma lógica
da ação e da rememoração, corresponde, poética em que as obras dialogam entre si,
no plano da composição da obra e do pro- com relação a um terceiro que é um gênero
jeto literário do autor, à função de Diadorim literário ou uma rivalidade de gêneros, no
como paixão estética. Diadorim é a musa, âmbito do projeto geral de uma literatura.
o princípio inspirador, a figura conste- Nesse sentido, trabalho com a hipótese de
lacional por meio da qual o romancista que ambos os autores se propuseram a ta-
estrutura uma quantidade enciclopédica de refa de escrever um retrato do Brasil, cujo
conhecimentos sobre a terra e o homem do cerne é a representação do povo sertanejo.
sertão, que ficariam caóticos, informes, des- Ora, em Euclides, a escrita histórico-
conexos, sem essa presença. etnográfica vem impregnada de uma grave
Esta hipótese de trabalho é compatível falha, como bem notou Guimarães Rosa:
com as descobertas de Elizabeth Hazin “De então tinha de ser como se os últimos
(2000) sobre a gênese de Grande Sertão: vaqueiros reais houvessem morrido no as-
Veredas. Entre os “três temas axiais” que, salto final a Canudos”. Os “superlativos
segundo ela, “confluíam” ao “processo cri- sinceros” do autor d’Os Sertões fazem com
ador” do romance, está – ao lado de “Rio- que os sertanejos fiquem “mitificados, di-
baldo, o jagunço contraditório, reflexivo e luídos” (Rosa, 1952/1970, p. 125). Essa
filosofante” e “a obsessão pelo demoníaco crítica repercute na observação de um crí-
resolvida através do pacto” – precisamente tico nosso contemporâneo: para Euclides,
“a ‘donzela-guerreira’ encarnada por Dia- os sertanejos tinham que estar mortos, para
dorim” (p. 144). Certos achados de estudio- poderem se tornar heróis na literatura (cf.
sos desse tópos podem ser bem aproveita- Zilly, 1996, pp. 292 e seg., grifo meu).
dos para uma interpretação figural e funcio- Como é que Euclides estrutura a sua
nal. Por exemplo, a observação de Caval- representação do povo? Assim como ou-
canti Proença (1958), retomada por Leo- tros intelectuais de sua geração, ele queria
2 Cunha, 1998 (1a ed., 1902);
citado daqui em diante OS. nardo Arroyo (1984, p. 50), de que as dei- dar uma contribuição à construção da na-
82 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
ção, em complemento à criação do estado de um indivíduo, o pranto (3) pela pessoa
independente em 1822. Sentindo a neces- amada, Diadorim; já num outro plano, essa
sidade de definir uma identidade brasileira figura se torna o recurso para o romancista
que fosse diferente dos “princípios civili- organizar, paralelamente à recordação da
zatórios elaborados na Europa”, cuja imi- vida do jagunço Riobaldo, a história coti-
tação “parasitária” ele observava no Brasil diana do sofrimento dos sertanejos.
do litoral, Euclides procurou “o cerne vi- A tese que pretendo demonstrar é que
goroso da nossa nacionalidade” na “rude Guimarães Rosa, por meio desse trabalho
sociedade sertaneja, incompreendida e ol- de luto individual, que se desdobra numa
vidada” (OS, p. 93). Ora, esse “cerne da história coletiva dos sofrimentos – narra-
nacionalidade” tinha sido esmagado em ção em estilo discreto e sustentada pela
Canudos em nome dos princípios da Repú- paixão –, desmonta o discurso fúnebre do
blica brasileira – com o apoio intelectual autor d’Os Sertões, tornando transparentes
dele mesmo, autor do artigo de jornal “A as fórmulas euclidianas do páthos e da
Nossa Vendéia” (1897). Depois, sob o heroização, e fazendo com que elas fiquem
impacto das barbaridades cometidas pelo tão datadas como a etnografia discrimi-
exército em Canudos e movido pelo sen- natória que procuram compensar.
timento de culpa, Euclides construiu, em Os
Sertões, “dois discursos sobre o sertanejo”
(Zilly, 2000, p. 340). Por um lado, uma ar-
gumentação científica e pseudocientífica, FUNÇÕES DE DIADORIM NA
baseada em teorias racistas, que atesta aos
sertanejos um “estado mental retardatário” COMPOSIÇÃO DA NARRATIVA
e “um estatuto social inferior”; por outro
lado, uma narrativa poética da luta, em que Comecemos com um mapeamento das
– através de cenas dramáticas, quadros épi- diversas funções desempenhadas pela figu-
cos e uma retórica do páthos – são enaltecidas ra de Diadorim na composição da narrativa.
a coragem e as demais virtudes guerreiras É nesse sentido que se adapta aqui um con-
dos jagunços, que acabam sendo estilizados ceito de Vladimir Propp (1928, p. 31), para
em heróis tragicamente extintos. quem a função, na análise morfológica da
Em termos de gênero, o relato de narrativa, designa “a ação de um persona-
Euclides sobre a campanha de Canudos, gem, definida do ponto de vista de sua sig-
com uma etnografia do sertanejo e um ré- nificação no desenrolar da intriga”. A fun-
quiem dos “patrícios do sertão” que ali ção do personagem Diadorim como leitmotiv
foram aniquilados pelo exército brasileiro, da história de Riobaldo é realçada de várias
apresenta-se como um discurso fúnebre. maneiras: por uma confissão do narrador ao
Trata-se de uma forma de fala pública de ouvinte: “o Reinaldo – que era Diadorim:
significação política muito especial. Como sabendo deste, o senhor sabe minha vida”
mostrou a historiadora Nicole Loraux em (GSV, p. 242); pelo significado do nome
seu estudo L’Invention d’Athènes (1981), a Reinaldo, que designa o “rei que conduz”
consciência e auto-imagem discursiva da (cf. Hansen, 2000, p. 141); e também por um
pólis grega constituíram-se basicamente depoimento de Ariano Suassuna sobre uma
através do gênero dos discursos fúnebres conversa com Guimarães Rosa:
sobre personalidades da cidade de Atenas.
Em sua reescrita crítica do relato historio- “Outra coisa de que falamos sobre o Gran-
gráfico de Euclides da Cunha – que é um de Sertão: Veredas – desta vez por inicia-
retrato do Brasil em forma de discurso fú- tiva minha – foi ligada à possível presença 3 Pranto é, como lembra Leonar-
nebre –, o autor de Grande Sertão: Veredas do romance ibérico ‘A Donzela que Foi à do Arroyo (1984, p. 89) a res-
peito da relação de Riobaldo
optou, ele também, pelo mesmo gênero, Guerra’ como fio condutor do enredo do com Diadorim, o gênero da
mas à sua maneira. Num primeiro plano, a Grande Sertão: Veredas. Guimarães Rosa lírica medieval que expressa
“a inconformação pela perda
narração de Riobaldo é o trabalho de luto confirmou isso. de pessoa querida”.
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 83
Lembro-me até de que, como para a per-
gunta, eu tivesse usado a palavra guião,
Guimarães Rosa se interessou logo por ela,
considerando-a ‘um achado’, e dizendo
que realmente o romance medieval lhe
servira de guião para o enredo de seu gran-
de romance guerreiro” (apud Hazin, 2000,
p. 142).
Diadorim é, portanto, o motivo condu-
tor da história de Riobaldo. A rememoração
da pessoa amada é para o narrador de Gran-
de Sertão: Veredas o recurso capital para
ele estruturar o seu relato. Vejamos como
isso se dá nos diversos blocos narrativos.
O nome de Diadorim é espontaneamen-
te recordado por Riobaldo durante o
proêmio, em que ele introduz seu visitante-
interlocutor ao mundo do sertão. Narrando
diversos casos que caracterizam a mentali-
dade dos sertanejos, Riobaldo, ao lembrar
um episódio de perigo de morte, menciona
pela primeira vez o nome: “Conforme pen-
sei em Diadorim. […] Eu queria morrer
pensando em meu amigo Diadorim […].
Com meu amigo Diadorim me abraçava,
sentimento meu ia-voava reto para ele…”
(GSV, p. 19). Trata-se de um perigo, tal
como o definiu Walter Benjamin, (1940/
1985, p. 224) em suas teses Sobre o Con-
ceito de História: é o momento autêntico
para o sujeito “apropriar-se de uma recor-
dação”, a fim de “articular historicamente
o passado”.
Com a introdução da figura de Diado-
rim, coloca-se a questão básica da ordem
da narração. Mal Riobaldo falou do seu
sentimento, ele se censura: “Ai, arre, mas:
que esta minha boca não tem ordem nenhu-
ma. Estou contando fora, coisas divagadas.
No senhor me fio?” (GSV, p. 19). Em ter-
mos retóricos, uma ordem natural, coman-
dada pelos impulsos espontâneos da me-
mória afetiva do protagonista-narrador,
interage com uma ordem artificial, estabe-
lecida pela arte de Guimarães Rosa de tecer
uma bem-calculada rede narrativa labi-
ríntica. Dessa forma, a paixão amorosa do
personagem Riobaldo corresponde à pai-
xão estética do romancista, ou seja, ao prin-
cípio inspirador do seu livro. Em ambos os
84 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
níveis, Diadorim é essencialmente uma fi- Quando Riobaldo propõe guiar seu vi-
Na página
gura labiríntica. Com ele, o signo funda- sitante-interlocutor através do sertão-labi-
dor do romance, que é o sertão-como-la- rinto (GSV, p. 23), a figura que conduz, na anterior,
birinto, desdobra-se numa forma humana. verdade, é Diadorim. A memória topográ- desenho de
Nessa função, Diadorim é instaurador da fica nasce da memória afetiva, e vice-ver-
Poty para
desordem e, ao mesmo tempo, o elemento sa. A lembrança das serras, dos rios, dos
organizador. Para esclarecer melhor essas animais selvagens, da garoa, do “neblim”, Grande Sertão:
duas faces do mythos – o aspecto teséico traz a memória da pessoa amada: “Quem Veredas
e o aspecto dedálico, que estão imbrica- me ensinou a apreciar essas as belezas sem
dos em Grande Sertão: Veredas –, lem- dono foi Diadorim… […] Por esses longes
bremos um dos textos clássicos sobre o todos eu passei, com pessoa minha no meu
labirinto de Creta. Na Ilíada (XVIII, 591- lado, a gente se querendo bem. […] Eu
592), Homero fala de um tablado de dança estava todo o tempo quase com Diadorim”
(chorós), que Dédalo construiu para (GSV, pp. 23-5). É a saudade de Diadorim
Ariadne. Nesse tablado era executada uma que desencadeia em Riobaldo a narração
dança que era a reprodução simbólica das da história.
errâncias das vítimas e do herói Teseu atra- Assim se dá a transição do proêmio
vés do labirinto. (GSV, pp. 9-26) para o segundo bloco nar-
No mapa emocional e topográfico or- rativo, ou seja, para o relato in medias res
ganizado pelo narrador Riobaldo, Diadorim (GSV, pp. 26-77) da vida do jagunço
é a figura-guia. Já não se trata das errâncias Riobaldo. Essa parte, em que o bando de
ao vivo através do labirinto do sertão, mas jagunços está sob o comando de Medeiro
de sua reprodução. Discípulo de Dédalo, Vaz, começa com um episódio que é uma
Guimarães Rosa é também o autor de um experiência-limite, uma introdução à quin-
vasto tablado narrativo sobre o sertão, com tessência do sertão: a tentativa de travessia
o título coreográfico Corpo de Baile – de do Liso do Sussuarão, que resulta em total
onde Grande Sertão: Veredas se originou. malogro. “Depois eu soube”, diz o narra-
Lendo o romance à luz do mito narrado por dor, “que, a idéia de se atravessar o Liso
Homero, podemos dizer que Guimarães […], ele Diadorim era que […] tinha acon-
Rosa construiu, com Diadorim, uma figura selhado” (GSV, p. 44).
que inicia o leitor num labirinto que é um No mesmo bloco, Riobaldo narra uma
tablado de dança. Significativamente, a arte outra travessia, realizada por iniciativa dele
coreográfica aparece com um dos atributos mesmo e para a qual, de propósito, não
dessa figura: “– ‘Diadorim, você dansa?’ convidou Diadorim e, sim, o jagunço
[…] – ‘Dansa? Aquilo é pé de salão…’” Sesfrêdo. O motivo para levar esse compa-
(GSV, p. 135); “Diadorim raiava, o todo nheiro é a curiosidade de Riobaldo de ouvi-
alegre, às quase dansas” (GSV, p. 194). A lo contar a história de “uma moça que apai-
dança era para os antigos, como esclarece xonava” (GSV, p. 52). O comentário dessa
Walter Benjamin (1933/1977, p. 211), uma história – que se revela como sendo uma
arte de estabelecer correspondências mimé- “estória falsa”, inventada – lê-se como uma
ticas entre as constelações no céu e a vida explicação do romancista-fingidor quanto
dos indivíduos e das comunidades. Nesse à invenção de Diadorim: “Era como se eu
sentido, Diadorim é, no universo de Gran- tivesse de caçar emprestada uma sombra
de Sertão: Veredas, uma figura constela- de um amor” (GSV, p. 52). Eis in nuce a
cional, mediadora entre os dois “livros- idéia de paixão estética. O tópos do amor
mestres” escriturados por Deus (cf. GSV, inventado aparece também numa das can-
p. 264): a esfera das “absolutas estrelas” ções de Siruiz: a figura da moça virgem
(GSV, p. 319) e o teatro do mundo, em que (GSV, p. 93), que expressa um perpétuo
4 Segundo João Adolfo Hansen
cada pessoa representa “com forte gosto” desejo dos cavaleiros andantes do sertão (2000, p. 140), “Diadorim/
seu papel, “que antes já foi inventado” (cf. (4). É em consonância com esse imaginá- Deodorina poderia ser desig-
nada/significada como a
GSV, p. 187, 366). rio coletivo que o autor de Grande Sertão: moça virgem da cantiga”.
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 85
Veredas e seu duplo, o protagonista-narra- versos, cada um com seu signo e sentimen-
dor, operam com a invenção. Mesmo au- to” (GSV, p. 77). Em vez de verter os acon-
sente, Diadorim não deixa de ser a referên- tecimentos em fórmulas literárias já pron-
cia magnética para Riobaldo, na “viagem tas – épicas, heróicas, trágicas –, o autor de
por este Norte, meia geral” (GSV, p. 52), Grande Sertão: Veredas se empenha em
que o leva até os campos de mineração no compreender os sentimentos que estão em
extremo leste do estado, e de volta até o jogo: “Eu queria decifrar as coisas que são
oeste – primeira das várias incursões importantes. […] Queria entender do medo
etnográficas contidas nesse livro. Diadorim e da coragem” (GSV, p. 79). Nesse trabalho
se faz presente através da memória do lu- de decifrar, Diadorim representa ao mes-
gar mais distante: Arassuaí. É de lá que mo tempo a maior dificuldade e o maior
Riobaldo lhe traz de presente um objeto incentivo. Com essa atitude de narrar duvi-
mágico, cujas propriedades são a crista- dando, o romancista revela-se muito mais
linidade, o caráter cambiante e o poder de historiador que o historiógrafo, tomando-
concentração. Trata-se de uma pedra pre- se a palavra no sentido etimológico:
ciosa (topázio-safira-ametista), simbolizan- historeîn = investigar. Além disso, se inter-
do a idéia de Beleza e sintetizando o proje- pretamos o baldo em Riobaldo como in-
to do escritor de concentrar na magia das corporação do núcleo do verbo alemão
palavras, de um romance, de um nome, a “ausbaldowern” = “explorar”, chegamos à
experiência de sua travessia de vida e a sua imagem do protagonista-narrador como
visão do Brasil. explorador de um rio, que é alegoricamen-
Figura da dúvida do protagonista-nar- te o Rio ou curso da História, ou ainda o
rador, Diadorim – “que dos claros rumos discurso da história.
me dividia” (GSV, p. 74) – é o motivo que O “primeiro fato” (GSV, p. 79) signifi-
leva Riobaldo a interromper a história. cativo na vida de Riobaldo (quarto bloco
Nesse terceiro bloco narrativo (GSV, pp. narrativo) foi o encontro com o Menino,
77-9), em que o relato começado in medias no porto do Rio de Janeiro – rio de Janus,
res (GSV, pp. 26-77) é reestruturado no deus de dupla face e dos rituais de passa-
sentido de contar a história a partir do iní- gem –, de onde eles partem, numa canoa,
cio dos acontecimentos (GSV, pp. 79-234), para a travessia do Rio São Francisco. O
Diadorim é associado à figura retórica da Menino (Diadorim), por quem Riobaldo
interrupção do discurso. sente “um prazer de companhia, como nun-
“Sei que estou contando errado, pelos ca por ninguém não tinha sentido”, é a figu-
altos. Desemendo” (GSV, p. 77), declara o ra iniciática que o atrai para dentro do labi-
narrador. A narração é interrompida por rinto, levando-o para um espaço que dá
dois motivos. No plano dos sentimentos de “medo maior” e que simboliza a aventura
Riobaldo, porque ele lembrou o lugar trau- da vida: “aquela terrível água de largura:
mático do Paredão, a “rua da guerra”, onde imensidade”, “o bambalango das águas, a
se travou a batalha final (“E eu não revi avançação enorme roda-a-roda”… (GSV,
Diadorim. […] O senhor não me pergunte pp. 82 e seg.). É ali que Riobaldo recebe um
nada”); e no plano da estratégia narrativa, importante ensinamento: “– Carece de ter
na medida em que o romancista marca uma coragem. Carece de ter muita coragem…”
diferença com relação a Euclides da Cu- (GSV, pp. 83, 85). Com seu modo de agir
nha, quanto ao modo de apresentar a histó- “sem malícia e sem bondade”, o Menino é
ria. Enquanto este estrutura seu relato da como uma personificação do Sertão, que
campanha de Canudos como uma seqüên- “não é malino nem caridoso” (GSV, p. 394).
cia cronológica linear dos acontecimentos Ao narrar o reencontro com o Menino,
bélicos, Guimarães Rosa questiona a pri- que se deu anos depois, sob a figura do
mazia dada a “guerras e batalhas”. Para ele, jagunço Reinaldo – num lugar de nome
“o que vale, são outras coisas. A lembrança duplamente iniciático: na casa de Maliná-
da vida da gente se guarda em trechos di- cio, junto ao Córrego do Batistério –, Rio-
86 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
baldo declara: “Desde que ele apareceu, gios. Graças à fiança do Reinaldo, ele é
moço e igual, no portal da porta, eu não incorporado sem dificuldade ao grupo che-
podia mais, por meu próprio querer, ir me fiado por Titão Passos, colaborando num
separar da companhia dele, por lei nenhu- transporte de munição, juntamente com os
ma; podia?” (GSV, p. 109, grifo meu). A “companheiros”, “bons homens no trivial,
figura de Reinaldo-Diadorim começa a se cacundeiros simplórios desse Norte pobre”
tornar o elemento-chave do discurso de (GSV, p. 115). Um estágio mais difícil co-
legitimação de Riobaldo – ex-chefe de ja- meça no acampo do Hermógenes, um lugar
gunço, latifundiário solidamente estabele- de “deslei”, de “más gentes”, o “inferno”
cido e dono do poder (cf. Faoro, 1958) –, (GSV, p. 123.). No meio dessa “cabralhada”,
na medida em que é citada como a causa “todos curtidos no jagunçar” (GSV, p. 126),
principal por este ter entrado para a ambos, Diadorim como Riobaldo, têm que
jagunçagem. “Quando foi que minha cul- se impor através de feitos de armas: um
pa começou?” (GSV, p. 109), pergunta o pela luta à faca, o outro pelo talento de atira-
narrador, na hora de relatar o reencontro. dor. O grau de adaptação de Riobaldo se
O tópos da culpa é recorrente ao longo de mede por observações oscilantes – “eu era
todo o seu depoimento. diferente de todos ali? Era”; “eu era igual
Quanto ao primeiro encontro, que foi a àqueles homens? Era” (GSV, p. 133) – e
travessia do Rio São Francisco sob a égide pela preocupação: “Será que eu mesmo já
do Menino, ele é assim comentado: “Por estava pegado do costume conjunto de
que foi que eu precisei de encontrar aquele ajagunçado?” (GSV, p. 142).
Menino?” (GSV, p. 86). Não existe expli- O estágio seguinte é a iniciação de
cação causal para essa pergunta; trata-se de Riobaldo à matança, de que se encarrega o
um problema constitutivo do romance de chefe do bando, o Hermógenes, “homem
formação. No protótipo do gênero, Os Anos que tirava seu prazer do medo dos outros,
de Aprendizagem de Wilhelm Meister, há do sofrimento dos outros” (GSV, p. 139).
um encontro do herói com o Desconhecido Diante das ponderações de Riobaldo sobre
(Goethe, 1795, I.17). A razão-de-ser desse a maldade daquele homem, Diadorim res-
episódio é fazer com que o protagonista se ponde categoricamente: “O Hermógenes é
pergunte, a cada encontro com uma pes- duro, mas leal, de toda confiança. Você acha
soa, se se trata de mero acaso ou de neces- que a gente corta carne é com quicé, ou é
sidade. O encontro e reencontro com com colher-de-pau? Você queria homens
Diadorim é interpretado por Riobaldo como bem-comportados bonzinhos, para com eles
necessidade, lei, destino: “Por que era que a gente dar combate a Zé Bebelo e aos ca-
eu precisava de ir por adiante, com Dia- chorros do Governo?!” (GSV, p. 132). Esse
dorim e os companheiros, atrás de sorte e argumento acaba sendo assimilado por
morte, nestes Gerais meus? Destino preso” Riobaldo, que, depois de ter retratado a
(GSV, p. 152). bruteza e maldade do delegado Jazevedão,
É Diadorim, na figura do jagunço comenta para o interlocutor: “Jazevedão –
Reinaldo, que desempenha a função de um assim, devia de ter, precisava? Ah, pre-
puxar Riobaldo de volta para o mundo do cisa. […] Só do modo, desses, por feio ins-
qual este tentou fugir: o mundo da “cons- trumento, foi que a jagunçada se findou.
tante brutalidade” (GSV, p. 105). Se a tra- Senhor pensa que Antônio Dó ou Olivino
vessia do Rio São Francisco foi uma prova Oliviano iam ficar bonzinhos por pura so-
iniciática apropriada para um menino, o letração de si, ou por rôgo dos infelizes, ou
ingresso do moço Riobaldo para a jagun- por sempre ouvir sermão de padre?” (GSV,
çagem configura-se como uma prova de p. 18).
coragem à altura de um homem: viver num Um aspecto inteiramente positivo da
mundo em que todos lutam contra todos e jagunçagem – nobre, elevado, romantiza-
em que lei é a lei do mais forte. Nesse bloco do – é introduzido com a figura de Joca
narrativo, Riobaldo passa por vários está- Ramiro, chefe supremo dos jagunços e pai
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 87
de Diadorim, como este confia em segredo desejo sexual de um homem por outro ho-
a Riobaldo. “– Você vai conhecer em breve mem um tabu, naquela sociedade. A sensa-
Joca Ramiro”, anuncia Reinaldo-Diadorim ção de culpa potencializa-se na segunda
a Riobaldo, “– Vai ver que ele é o homem parte, com o episódio-chave do livro, que é
que existe mais valente!” (GSV, p. 116). A o pacto com o Diabo, nas Veredas Mortas.
idealização da figura fica por conta de A justificativa de Riobaldo de ter travado o
Diadorim: “Joca Ramiro era um imperador pacto para vencer o Hermógenes revela-se
em três alturas! Joca Ramiro sabia o se ser, insuficiente diante da culpa que ele sente
governava […]. O Hermógenes, Ricardão? pela morte de Diadorim – além do fato de
Sem Joca Ramiro, eles num átimo se que houve também outros motivos, não-
desaprumavam, deste mundo despareciam explicitados, para ele fazer o pacto… Com
– valiam o que pulga pula” (GSV, p. 138). toda essa retórica de explicar a culpa, Gran-
O clímax do quarto bloco narrativo é o jul- de Sertão: Veredas, pertence, assim como
gamento de Zé Bebelo na Fazenda Sem- o livro precursor Os Sertões, ao gênero dos
pre-Verde (GSV, pp. 196-214), ato solene discursos diante do tribunal (Quintiliano,
presidido por Joca Ramiro, que aparece III, 9; cf. Bolle, 2000, pp. 18 e seg.).
envolto numa aura de “jagunços civiliza- O sexto bloco narrativo, o mais extenso
dos” (GSV, p. 212). Pouco depois, quando do livro, em que Riobaldo relata a segunda
o grupo de Riobaldo e Diadorim descansa parte de sua vida (GSV, pp. 238-454), as
no lugar idílico da Guararavacã do Guaicuí, errâncias pelos imensos gerais do oeste,
perto das cabeceiras do Rio Verde Grande, pode ser sintetizado como a “tristonha his-
sobrevém o anticlímax: a notícia do assas- tória de tantas caminhadas e vagos comba-
sinato de Joca Ramiro por Hermógenes e tes, e sofrimentos”. Em comparação com a
Ricardão (GSV, p. 225). primeira parte da vida de Riobaldo, a figu-
“Joca Ramiro morreu como o decreto ra de Diadorim passa a ter uma presença
de uma lei nova” (GSV, p. 227), declara o mais discreta. Trata-se de uma medida es-
narrador, continuando o seu discurso de tratégica do romancista, e que combina com
legitimação. Foi por solidariedade com o seu estilo discreto de estruturar o retrato
Diadorim que Riobaldo se engajou, junta- do povo. Se, na primeira parte, Diadorim
mente com os demais companheiros, na luta foi para Riobaldo a figura iniciática que o
contra o bando dos “judas” – um duelo de trouxe para o meio dos jagunços, em que se
fôlego épico, que se trava primeiro na mar- aguçam os problemas político-sociais, na
gem leste do Rio São Francisco, deslocan- segunda parte, ele/ela se confunde cada vez
do-se depois para os gerais da banda oeste. mais com esse meio – ao passo que Rio-
Uma nova interrupção da história (GSV, baldo, na medida em que avança na carrei-
pp. 234-7) ocorre quando Riobaldo chega ra do poder, vai se afastando do povo. Ve-
no trecho que ele tinha antecipado: da inte- jamos as diversas etapas desse processo.
gração dos companheiros ao bando de Durante o cerco na Fazenda dos Tuca-
Medeiro Vaz, num lugar chamado Bom- nos (GSV, pp. 244-80), Riobaldo ainda se
Buriti, perto do Urucuia, até um combate identifica fortemente com os jagunços co-
na Fazenda São Serafim, já sob Zé Bebelo, muns. Diante de Zé Bebelo, que invoca “a
que voltou e herdou o comando. Esse quin- Lei”, para encobrir sua tentativa de traição,
to bloco narrativo – em que Riobaldo anun- Riobaldo protesta nestes termos: “nós, a
cia: “Agora, no que eu tive culpa e errei, o gente, pobres jagunços, não temos nada
senhor vai me ouvir” (GSV, p. 237) – mos- disso, a coisa nenhuma…” (GSV, p. 254).
tra a importância da figura de Diadorim na Ele assume a causa dos jagunços comuns
organização do complexo de culpas do pro- mesmo contra Diadorim: “os de lá – os judas
tagonista-narrador. Na primeira parte do – […] deviam de ser […] pessoas, feito
relato, predominavam as explicações de nós, jagunços em situação. […] por resgate
Riobaldo sobre o “jeito condenado” (GSV, da morte de Joca Ramiro […] agora se ia
p. 74) dele gostar do Reinaldo, sendo o gastar o tempo inteiro em guerras e guer-
88 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
ras, morrendo se matando […] os homens vislumbrado pelo protagonista para
todos mais valentes do sertão?” (GSV, p. metamorfosear-se de jagunço, “homem
274). Conseqüentemente, ele propõe a provisório”, em fazendeiro-mor, “sujeito
Capa da 3a
Diadorim ir embora da jagunçagem, com o da terra definitivo” (GSV, pp. 312 e seg.;
sensato argumento: “Não chegam os nos- cf. Bolle, 1997/98, pp. 32 e seg.). Note-se edição, Livraria
sos que morremos, e os judas que mata- que a idéia de fechar o pacto vem acompa- José Olympio
mos, para documento do fim de Joca nhada do projeto de ascensão social atra-
Ramiro?!” (GSV, p. 283). Com sua tripla vés do casamento com Otacília. Primeiro,
Editora, com
réplica, Diadorim adivinha e prenuncia os enfatiza Riobaldo, ele tentou pelo caminho desenho de Poty
rumos que vai tomar Riobaldo: a decisão
de se tornar o chefe dos jagunços (“– quan-
do você mesmo quiser calcar firme as estri-
beiras, a guerra varia de figura…”); a rea-
lização de feitos espetaculares, como a tra-
vessia do Liso do Sussuarão (“– Riobaldo,
você teme?”); e a opção final pelo estatuto
de fazendeiro (“– eu sei que você para onde:
relembrando a moça […], filha do dono
daquela grande fazenda […] Com ela, tu
casa. Cês dois […] se combinam…”) (GSV,
pp. 283-5).
Nos “campos tristonhos” do Sucruiú e
do Pubo, onde o bando cruza com os
catrumanos, Diadorim – em contraste com
a retórica politiqueira de Zé Bebelo – sente
compaixão com as crianças subnutridas e
miseráveis (GSV, p. 300). Isso faz lembrar
outro momento da narrativa, em que a figu-
ra de Diadorim é projetada sobre o pano de
fundo da população civil, não-combatente,
ao dizer: “– Mulher é gente tão infeliz”
(GSV, p. 133). Ainda nas terras do Sucruiú,
sob o olhar do latifundiário seô Habão,
Diadorim aparece como fazendo parte da
plebe rural: “entendi a gana dele: que nós,
Zé Bebelo, eu, Diadorim, e todos os com-
panheiros, que a gente pudesse dar os bra-
ços, para capinar e roçar, e colher, feito
jornaleiros dele. […] Seô Habão […] cobi-
çava a gente para escravos! […] Nós íamos
virando enxadeiros” (GSV, pp. 314 e seg.,
grifos meus).
Desse momento em diante, Riobaldo
resolve se diferenciar do comum dos ja- do Bem. Porém, as rezas para “todas as
gunços, fazendo questão de apresentar-se a minhas Nossas Senhoras Sertanejas” “não
seô Habão nestes termos: “– O senhor co- me davam nenhuma cortesia. Só um vexa-
nhece meu pai, fazendeiro Senhor Coronel me, de minha extração e da minha pessoa:
Selorico Mendes, do São Gregório?!” a certeza de que o pai dela nunca havia de
(GSV, p. 315). Seô Habão torna-se uma conceder o casamento, nem tolerar meu
espécie de “padrinho” para Riobaldo fazer remarcado de jagunço, entalado na perdi-
o pacto com o Diabo, que é o meio mágico ção, sem honradez costumeira” (GSV, p.
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 89
310). É mais uma justificativa do protago- rando, e lá Otacília, carecendo do meu am-
nista-narrador por ele ter feito o pacto com paro” (GSV, p. 428). Nesse momento deci-
o Diabo. sivo, ele antepõe seu interesse particular ao
Assim como Zé Bebelo na Fazenda dos dever de cuidar de seus subordinados. Na
Tucanos, Riobaldo faz jogo duplo. O moti- verdade, o desejo de Riobaldo, nessa altu-
vo aparente e nobre de suas ações é derrotar ra, é “largar a jagunçagem”: “O tudo con-
o Hermógenes, vingando assim a morte de seguisse fim, eu batia para lá, topava com
Joca Ramiro. O motivo não-confessado, ela [Otacília]. […] Aí eu aí desprezava o
porém – prosaico, calculado e lucrativo –, é ofício de jagunço, impostura de chefe”
realizar feitos de armas, que lhe proporci- (GSV, p. 434). A decisão de ir ao encontro
onem a imagem pública de um chefe com- de Otacília é comunicada por Riobaldo a
petente e corajoso que conseguiu “limpar seus jagunços, inclusive a Diadorim, com
estes Gerais da jagunçagem” (GSV, p. 456). o argumento autoritário de ele ser o Chefe
Obter essa fama sempre fora a ambição do (GSV, p. 428).
candidato a deputado Zé Bebelo – quem A réplica se dá no meio da batalha do
acaba por ganhá-la é, ironicamente, seu Paredão, em que Riobaldo sente a culpa de
discípulo, e crítico, Riobaldo. “não [ter chegado] em tempo”. Diadorim o
As primeiras ações de Riobaldo, após o persuade a deslocar-se para o ponto estra-
pacto e a conquista da chefia do bando, são tégico do sobrado: “– Tu vai, Riobaldo.
uma série de desmandos. Diadorim acom- Acolá no alto, é que o lugar de chefe” (GSV,
panha-os como uma consciência moral vi- p. 441). Topográfica e emblematicamente,
gilante, defendendo o partido das vítimas: Riobaldo fica acima dos seus homens, mas
“– A bem é que falo, Riobaldo, não se agas- também isolado deles. No momento final,
te mais… E o que está demudando, em você, quando os combatentes, no meio deles
é o cômpito da alma – não é razão de auto- Diadorim, resolvem decidir a luta na faca,
ridade de chefias…” (GSV, p. 353). Em o chefe Riobaldo fica condenado a assistir
determinado momento das andanças por de longe, impotente. “– Mortos muitos?”,
Goiás, depois da segunda, bem-sucedida, pergunta ele depois da batalha. “– De-
travessia do Liso do Sussuarão e do ataque mais…”, é a resposta. A vitória se deu pelo
à fazenda do Hermógenes, Diadorim de- preço irreparável da perda de Diadorim. Só
clara: “– Menos vou, também, punindo por então Riobaldo fica conhecendo o segre-
meu pai Joca Ramiro, que é meu dever, do do: “Diadorim era o corpo de uma mulher”
que por rumo de servir você, Riobaldo, no (GSV, p. 453).
querer e cumprir…” (GSV, p. 404). Sem No epílogo, sétimo e último bloco nar-
dúvida, trata-se ainda de uma declaração rativo (GSV, pp. 454-60), Riobaldo infor-
de amor, embora sem esperança, pois, nes- ma sobre uma viagem de luto até o lugar
sa altura, Riobaldo já definiu seu trato de Os-Porcos, nos gerais de Lassance, onde
núpcias com Otacília; mas o que é mais morava a família de Diadorim, e sobre um
significativo, no contexto da nossa investi- certificado de batistério, encontrado na ma-
gação, é que Diadorim se integra comple- triz de Itacambira, em nome de Maria Deo-
tamente – ou devemos dizer: ironicamen- dorina da Fé Bettancourt Marins. A via-
te? – entre os demais membros do bando, gem pelo sertão termina com a volta ao
que estão na jagunçagem sem ambições lugar de narração, a fazenda de Riobaldo
pessoais, apenas cumprindo seu ofício. na margem esquerda do Rio São Francisco.
A caminho do Paredão, preparando-se Ao que tudo indica, é um lugar “menos
para a batalha final contra o Hermógenes, longe” de Os-Porcos, situado na banda di-
Riobaldo – depois de ter recebido uma reita do rio, talvez até muito perto, mas ir-
notícia que ele interpreta como a vinda da remediavelmente na outra margem…
noiva dele, ao seu encontro – enfrenta um O que faz com que a construção desses
dilema, uma “incerteza de chefe”: “eu ali, grandes blocos narrativos e topográficos,
em sobregoverno, meus homens me espe- através da rememoração de Diadorim, não
90 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
seja apenas um ato de memória afetiva in- tação” (Selbstdurchdringung) – o que ca-
dividual, mas também uma reflexão sobre racteriza perfeitamente o intenso processo
a sociedade e a história? Para poder res- de reflexão posto em obra por Guimarães
ponder melhor a esta pergunta, vamos des- Rosa com a sua invenção Diadorim.
dobrar o mapeamento das funções poéticas Figura ambígua, dúplice e dissimulada,
da figura numa indagação sobre sua função Diadorim aguça a sensibilidade do leitor
histórica. para todo tipo de disfarces, especialmente
para discursos dissimulados. Um discurso
assim é o do “narrador sincero” d’Os Ser-
tões (OS, p. 14). É verdade que, em termos
PAIXÃO VERSUS TRAGÉDIA de gênero literário, existem, nessa obra, dois
discursos sobre o sertanejo: um ensaio ci-
O objetivo desta segunda parte é investi- entífico, fortemente preconceituoso, e uma
gar, por meio da figura de Diadorim, a visão historiografia romanceada da luta (cf. Zilly,
da história em Grande Sertão: Veredas, no 2000, p. 340). Do ponto de vista retórico e
que ela tem de radicalmente diferente da con- moral, porém, trata-se de um discurso
cepção da história em Os Sertões. Os materi- dúplice. Pois a heroização das vítimas cum-
ais necessários para esta pesquisa foram reu- pre a função de compensar sua condena-
nidos na primeira parte em forma de um ção, e a argumentação de Euclides visa, em
mapeamento das funções de Diadorim na última instância, legitimar o aniquilamen-
composição do romance. Vimos que a figura to de Canudos. As contradições no discur-
é vinculada intensamente com o mergulho do so de Euclides são relevantes não apenas
protagonista-narrador no meio sertanejo e, para os críticos acadêmicos (como Zilly,
portanto, com a questão da representação do 2000; ou Costa Lima, 1997), elas interes-
povo. Resta explicitar como o trabalho de sam também aos escritores. Nesse sentido,
luto individual do protagonista-narrador por passo a expor algumas observações sobre
Diadorim serviu ao romancista para organi- essa reescrita d’Os Sertões chamada Gran-
zar o retrato histório-etnográfico da coletivi- de Sertão: Veredas, que é uma crítica artís-
dade. O eixo metodológico da nossa análise tica da historiografia, etnografia e poética
será o gênero retórico-literário do discurso do livro precursor.
fúnebre, que é, como foi observado inicial- Assim, por exemplo, a figura bissexual
mente, o substrato comum do retrato do Bra- de Diadorim é um meio para evidenciar,
sil, tanto em Euclides da Cunha como em por contraste, o que há de unilateral e redu-
Guimarães Rosa. tor no retrato do povo apresentado por
Na tarefa de retratar o povo do sertão, Euclides. O autor d’Os Sertões valoriza o
Diadorim é para Guimarães Rosa não só sertanejo apenas como guerreiro – postura
uma figura elegíaca, mas também um sintetizada na famosa frase “O sertanejo é,
medium-de-reflexão. Com o conceito de antes de tudo, um forte” (OS, p. 105) (5).
Reflexionsmedium pode ser sintetizado o Quase todos os demais valores culturais das
trabalho da crítica poética elaborado pelo pessoas do sertão – suas práticas religio-
romantismo alemão (cf. Benjamin, 1920/ sas, formas de organização econômica e
1993, pp. 36-48). “Romantizar”, segundo política, sua fala, sua sensibilidade e, em
Novalis, é investigar por meio do gênero particular, todo o universo feminino – são
romance, ou seja, exercer a reflexão nesse relegados à margem ou desprezados. À
medium literário específico. Se considera- exaltação euclidiana das qualidades guer-
mos a poética de Guimarães Rosa dentro reiras, Guimarães Rosa responde de forma
dessa tradição, pode-se dizer que ele criti- irônica e provocativa com a representação
ca o discurso euclidiano sobre o Brasil no de um amor homossexual: “De que jeito eu
5 Curiosamente, na edição críti-
medium do romance. Esse trabalho implica podia amar um homem, meu de natureza ca (1998) organizada por
também, como esclarece ainda o poeta ale- igual, macho em suas roupas e suas armas Walnice Galvão, essa frase
vem com um erro tipográfico:
mão, uma “autotravessia” ou “autoperscru- […]? Me franzi. Ele tinha a culpa? Eu tinha o artigo está no feminino!
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 91
a culpa?” (GSV, p. 374). A combinação dos parado ao deuses primordiais, pré-olímpi-
elementos masculino e feminino em cos, aos semi-deuses, aos heróis da Anti-
Diadorim – que costuma ser lida como ex- güidade, elevado a ‘titã’, ‘centauro’,
pressão do tópos da donzela guerreira ou ‘Anteu’, ‘Proteu’, ‘gladiador’, a ‘Hércules’
do mito do andrógino – pode ser interpre- […]. É o herói que, em momentos de maior
tada também como uma figuração do cor- perigo, de quase derrota, realiza façanhas
po social do povo. ‘épicas’ e inflige ‘hecatombes’ ao exérci-
Enquanto conjunção dos gêneros, no to, que derrota tal qual os guerrilheiros
plano biológico e no poético, Diadorim é germanos derrotaram as legiões do estra-
uma figuração exemplar da lei do gênero, tegista romano Varus no ano 9 antes de
tal como a expõe Jacques Derrida (1986, p. Cristo” (cf. OS, p. 304). “Através de um
277). Segundo o filósofo, o gênero não deve sem-número de metáforas, metonímias,
ser entendido apenas como categoria artís- antonomásias, alusões, comparações, in-
tica ou literária; nas formas simbólicas se cluindo muitos paradoxos, antíteses,
faz presente também a lei da natureza. oxímoros que traduzem a sua imagem
Gênero (em alemão: Gattung) tem a ver cambiante e até contraditória do sertane-
com o ajuntamento dos sexos masculino e jo, Euclides eleva esse mestiço atávico,
feminino (Gatte/Gattin = esposo/esposa), inferior, desprezado, à altura dos heróis
com a capacidade de procriar, de engen- da literatura universal”.
drar (sich gatten = acasalar). O próprio Guimarães Rosa – como mostrei num
Guimarães Rosa fala dessa conjunção do estudo sobre as marcas de leitura em seu
biológico e do poético numa entrevista: exemplar d’Os Sertões – era avesso às fra-
“Enquanto eu estava escrevendo o Grande ses de efeito euclidianas, mantendo diante
Sertão, minha mulher tinha que sofrer do páthos do precursor uma postura de
muito, pois eu estava casado com o livro”. impassibilidade e oubli actif (Bolle, 1998).
“Minha relação com a linguagem é […] Em seu romance, Guimarães Rosa dis-
uma relação de amor. Minha linguagem e tancia-se do estilo grandiloqüente de
eu, nós somos um casal de amantes, que Euclides através da desmontagem da
está apaixonadamente procriando” (apud heroização (6). O herói de Grande Sertão:
Lorenz, 1970, pp. 510 e 516). Na figura de Veredas, o chefe Urutú-Branco, é um per-
Diadorim, a paixão estética simboliza a sonagem que sente medo. Sobretudo no epi-
conjunção das forças biológicas e do po- sódio que é considerado seu feito de glória:
tencial de criação artística. É através de sua a batalha final contra o Hermógenes. Para-
criação Diadorim que o autor engendra um lelamente à narração da batalha, desenro-
gênero que podemos chamar de romance la-se uma seqüência em que o herói fala do
etnopoético (cf. Fichte, 1987). A socieda- seu medo. Acompanhemos como a nega-
de sertaneja é vista com uma sensibilidade ção reiterada faz com que o sentimento vá
masculina e feminina, o que proporciona se avolumando:
um retrato muito mais matizado do que a 1) “O resumo da minha vida […] era
etnografia unilateral de Euclides. para dar cabo definitivo do Hermógenes –
A caracterização euclidiana do sertane- naquele dia, naquele lugar. […] me deu um
jo – sobretudo na parte mais extensa do enjôo. Tinha medo não. Tinha cansaço de
6 Esse programa poético é anun-
ciado no próprio titulo de Gran- livro, “A Luta”, que é o relato da campanha esperança” (GSV, p. 434).
de Sertão: Veredas – uma mon- – é comandada pelo trinômio da heroização, 2) “A guerra descambava, fora do meu
tagem em choque do grandi-
loqüente e do humilde. do páthos e da tragédia. poder… E eu […] escutava essas vozes: –
7 Depois de 1889, porque Zé Sobre o arsenal euclidiano dos procedi- Tu não vai lá, tu é dôido. […] Não vai, e
Bebelo, o primeiro chefe de
Riobaldo, defende palavras de
mentos de heroização do sertanejo informa deixa que eles mesmos uns e outros resol-
ordem da República; e bem uma valiosa sinopse de Berthold Zilly vam […] Assim ouvi […]. O meu mêdo?
antes da Coluna Prestes (1924-
27), referência histórica que (2000, pp. 334 e 336): embora freqüente- Não. Ah, não” (GSV, p. 439).
parece ser mais próxima do mente caracterizado pelo autor d’Os Ser-
tempo da narração do que do
3) “Aí eu era Urutú-Branco: mas tinha
tempo narrado (cf. GSV, p. 77). tões como “bárbaro”, o sertanejo é “equi- de ser o cerzidor, Tatarana […]. Mêdo não
92 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
me conheceu, vaca! Carabina” (GSV, p. 440).
4) “Naquele instante, pensei: aquela
guerra já estava ficando adoidada. E mêdo
não tive. Subi a escada” (GSV, p. 443).
5) “O José Gervásio e o Araruta […] me
recomendaram me acautelasse. Mas eu per-
maneci. Disse que não, não, não. Minhas
duas mãos tinham tomado um tremer, que
não era de medo fatal. Minhas pernas não
tremiam. Mas os dedos se estremecitavam
esfiapado, sacudindo, curvos, que eu to-
casse sanfona” (GSV, p. 446).
6) “Ali era para se confirmar coragem
contra coragem, à rasga de se destruir a
toda munição. […] E conheci: ofício de
destino meu, real, era o de não ter medo.
Ter medo nenhum. Não tive! Não tivesse,
e tudo se desmanchava […]” (GSV, pp. 447
e seg.).
7) “Gago, não: gagaz. Conforme que,
quando ia principiar a falar, pressenti que a
língua estremecia para trás, e igual assim
todas as partes de minha cara, que tremiam
– dos beiços, nas faces, até na ponta do
nariz e do queixo. Mas me fiz. Que o ato de
medo não tive” (GSV, p. 448).
Finalmente, depois de terem se acumu-
lado todos esses sintomas, a negação tor-
na-se insustentável, o sentimento irrompe
e explode: “Ái, eles se vinham, cometer.
[…] Como eu estava depravado a vivo,
quedando. Eles todos, na fúria, tão animo-
samente. […] eles vinham, se avinham […],
bramavam, se investiram… […] Diadorim
– eu queria ver – segurar com os olhos…
Escutei o medo claro nos meus dentes…”
(GSV, p. 450).
O protagonista rosiano, o chefe de ja-
gunços Riobaldo, não é nenhum titã,
centauro ou gladiador, a rigor nem mesmo
herói, mas uma “pessoa, de carne e san-
gue” (GSV, p. 15). Note-se que as guerras
no sertão descritas respectivamente por
Euclides e Guimarães Rosa, uma real, a
outra ficcional, ocorreram aproximadamen-
te na mesma época: a campanha de Canu-
dos, em 1896-97, as lutas dos jagunços em
Grande Sertão: Veredas, durante a primei-
ra metade da República Velha (7).
Outro procedimento irônico de Guima-
rães Rosa, no sentido de desmontar a heroi-
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 93
zação euclidiana do sertanejo, consiste em nino precisava. E a de, mesmo no punir
personificar a coragem por uma mulher, meus demaseios, querer-bem às minhas
uma donzela guerreira. Através da figura alegrias”. Como observa Flávio Aguiar
de Diadorim, o romancista proporciona um (1998, p. 121), o nome da mãe de Riobaldo,
verdadeiro ensinamento da coragem. Dis- a Bigrí, compõe “uma associação por
tanciada dos clichês, a coragem é relacio- complementaridade” com o de Diadorim:
Contracapa de nada com a palavra de mesma origem – o enquanto o “dois” do Di de Diadorim re-
coração – e com a bondade, tanto no ho- mete à idéia de “divisão, conflito”, o Bi de
Grande Sertão: mem, quanto na mulher. Sob esse signo, Bigrí remete à idéia de duplicação, “mãe
Veredas Diadorim aproxima as figuras do pai (seu que é vicariamente pai”. De fato, como
ocorre com tantas crianças neste Brasil (cf.
GSV, p. 35), Riobaldo foi criado pela mãe,
que assumiu também as funções de pai. Com
a coragem civil da mãe contrasta o retrato
do padrinho e pai, Selorico Mendes, gran-
de contador de histórias de jagunços e, no
mais, homem “muito medroso” (GSV, p.
88). “De ouvir meu padrinho contar aqui-
lo”, comenta Riobaldo, “começava a dar
em mim um enjôo. Parecia que ele queria
se emprestar a si as façanhas dos jagunços
[…], e que a total valentia pertencia a ele”
(GSV, pp. 95 e seg.). A caracterização da-
quelas histórias como “sincera narração”
não deixa de ser também uma referência
irônica a Euclides.
Como vimos nesses exemplos, a cora-
gem é para Guimarães Rosa algo muito
diferente da heroicidade. Não é uma quali-
dade já pronta, mas objeto de investigação.
Ao querer “entender do medo e da cora-
gem” (GSV, p. 79), o narrador formula um
verdadeiro projeto de pesquisa. O romance
torna-se uma espécie de laboratório em que
se estuda a dialética do medo e da coragem.
Tanto em termos de introspecção e auto-
análise do protagonista-narrador, que re-
gistra escrupulosamente todas as ocorrên-
cias desse par de sentimentos, quanto em
termos de observação antropológica de
campo. O ex-jagunço Firminiano, por
exemplo, ao declarar “– Me dá saudade é
de pegar um soldado, e tal, pra uma boa
esfola, como faca cega… Mas, primeiro
pai, o valente chefe Joca Ramiro – cf. GSV, castrar…”, se faz de violento e valentão
p. 116) e da mãe: “ – Riobaldo, se lembra “por medo de ser manso, e causa para se ver
certo da senhora sua mãe? Me conta o jeito respeitado” (GSV, p. 20). O imperativo
de bondade que era a dela…” (GSV, p. 34). cultural da valentia rege também o destino
“A bondade especial de minha mãe”, re- de Maria Deodorina da Fé Bettancourt
corda então Riobaldo, “tinha sido a de um Marins – “que nasceu para o dever de guer-
amor constando com a justiça, que eu me- rear e nunca ter medo, e mais para muito
94 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
amar, sem gozo de amor…” (GSV, p. 458). patética que Guimarães Rosa, de resto um
Quanto à parlenda dos jagunços de que o leitor impassível, marcou em seu exemplar
inimigo era positivo pactário, Riobaldo d’Os Sertões. E não só isso. Em Grande
explica: “O medo, que todos acabavam Sertão: Veredas, ele retoma o mesmo tópos.
tendo do Hermógenes, era que gerava es- Na batalha do Paredão, que é a etapa deci-
sas estórias” (GSV, p. 309). Assim, o ro- siva para Riobaldo progredir em sua car-
mancista observa, perscruta e disseca to- reira e avançar de provisório chefe-de-ja-
das as manifestações do medo e da cora- gunços para latifundiário definitivamente
gem, cioso para não deixar escapar nenhum estabelecido, o protagonista passa por cima
detalhe. Com isso, aliado a uma postura de de “muitos mortos”, inclusive Diadorim.
permanente dúvida e auto-reflexão, a nar- Em termos retórico-poéticos, trata-se, con-
rativa ficcional de Guimarães Rosa acaba tudo, de um tópos patético, não de uma
sendo mais científica (8) do que o relato de fórmula patética. Não é a encenação do so-
Euclides da Cunha, apoiado grandemente frimento no estilo grandiloqüente, como em
em fórmulas pré-fabricadas. Euclides, e sim a narração de um trabalho
Os feitos e as qualidades guerreiras são de luto, em forma contida, num estilo dis-
representados pelo autor d’Os Sertões se- creto (cf. Lausberg, 1990).
gundo um código estético, que pode ser Para o distanciamento de Guimarães
descrito como um conjunto de fórmulas paté- Rosa das fórmulas patéticas do seu precur-
ticas. O conceito de Pathosformel, cunhado sor contribui também o próprio gênero do
por Aby Warburg (1906, p. 446), permite romance. Diferentemente da epopéia, cujo
distinguir melhor entre o páthos, como herói é o povo, o romance é construído a
emoção ou sofrimento sentido pelo autor, e partir da dimensão de vida de um indivíduo.
a estilização ou encenação desse sentimen- Grande Sertão: Veredas é, em primeiro pla-
to. Como procedimentos estético-retóricos, no, um trabalho de luto individual, pessoal,
as fórmulas patéticas visam provocar no e só num segundo plano, uma história dos
público sentimentos como o medo, a com- sofrimentos do povo, embora este seja a fi-
paixão ou a catarse. São recursos caracterís- gura intrínseca ou secreta do livro. Para eu
ticos do estilo patético-sublime, pelo qual poder demonstrar a tese de que Guimarães
optou Euclides. Os escritores, no entanto, Rosa desmonta as fórmulas do páthos do
precisam estar atentos ao problema do des- discurso fúnebre euclidiano por meio da
gaste dessas fórmulas, e desenvolver tam- paixão, temos que nos inteirar previamente
bém formas de distanciamento, como ob- das características e funções da visão trági-
serva Ulrich Port (1999, pp. 33 e seg.). ca da história em Os Sertões. Pois é a essa
Eis um exemplo concreto de fórmula concepção trágica, que Guimarães Rosa
patética em Euclides. Na parte final do seu contrapõe uma historiografia que transfor-
livro (“Últimos Dias”), em que relata o uso ma a história do sofrimento em história da
maciço de bombas de dinamite contra os paixão. Expliquemos as duas concepções.
últimos sobreviventes de Canudos, o autor Narrado num estilo patético-sublime, o
comenta: “Entalhava-se o cerne de uma aniquilamento da comunidade de Canudos
nacionalidade. Atacava-se a fundo a rocha é apresentado por Euclides da Cunha em
viva da nossa raça” (OS, p. 485). À luz de forma de tragédia, “gênero literário nobre
um estudo de Ernst Robert Curtius (1950/ que dignifica os personagens e os seus fei-
1960, pp. 24 e seg.), que retoma a termino- tos, enfatiza o caráter conflituoso e fatal de
logia de Warburg, é possível identificar essa sua vida, enobrece as suas derrotas com
fórmula patética como a do corpus calcatus, uma auréola heróica” (Zilly, 2000, p. 334).
o “passar por cima do cadáver do pai, da Trata-se de uma estratégia poético-retóri-
mãe ou de outros nossos semelhantes”. De ca que visa comover e abalar o público. 8 Ao caracterizar a sua tarefa
como escritor, Guimarães Rosa
fato, é isso que Euclides evoca com aquela Desde as comparações iniciais de Canudos defende explicitamente o prin-
imagem: a nação que se mutila a si mesma. com a antiga Tróia (OS, p. 95, e passim) – cípio de “proceder como um
cientista moderno” (apud
A referida passagem é a única fórmula que incorporam a urbs sertaneja à história Lorenz, 1970, p. 524).
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 95
universal –, até a fase final da luta, quando objetivo, então, não era mais fugir das per-
são degolados os prisioneiros e massacra- turbações do mundo, como ensinara o
dos os sertanejos, na cidade agonizante que estoicismo, mas superar o mundo através
se constitui em “cenário da tragédia” (OS, do sofrimento. O sofrimento, como sofri-
pp. 450-2). A visão trágica do autor d’Os mento-contra-o-mundo, tornou-se ativo. Os
Sertões, explica Zilly (1994, p. 778), é ex- fiéis mais fervorosos procuravam imitar a
pressão da impossibilidade de Euclides de Paixão do Cristo, que era o sinal do amor de
mediar entre sua concepção afirmativa da Deus pelos homens, aspirando a uma pai-
civilização moderna e a lamentação das xão gloriosa (cf. Auerbach, 1958: “Gloria
vítimas, uma raça de “retardatários”, desti- Passionis”). Assim, a semântica da pala-
nada à extinção (cf. OS, p. 13). A função vra, originalmente passiva, enriqueceu-se
principal do discurso fúnebre de Euclides com os elementos de calor e desejo arden-
consiste em preservar a memória dos mor- te. Contagiados por essa valorização cristã
tos. Mas, por outro lado, marcado por uma da paixão, os trovadores provençais rein-
concepção de história ao mesmo tempo ventaram a poesia amorosa ocidental – cujo
progressista e pessimista, “o discurso em eco repercute nos romances populares d’A
defesa dos sertanejos ainda vivos soa Donzela que Vai à Guerra, nos quais se
estranhamente lúgubre, como se o próprio inspirou o criador de Diadorim (cf. Arroyo,
autor não acreditasse na salvação e como 1984, pp. 30-81).
se se tratasse de um discurso fúnebre ante- Nossa leitura tem que se fazer a contra-
cipado” (Zilly, 1994, p. 782). pelo – da moderna paixão amorosa de volta
Essa questão não é apenas estética, mas para a história da paixão cristã –, para che-
também moral. Aos vencedores, o autor d’Os gar à interpretação dos teores históricos
Sertões ofereceu um discurso de acusação, contidos no romance de Guimarães Rosa.
que é um mea-culpa com função catártica – A paixão amorosa de Riobaldo por Diado-
aos vencidos, o ersatz de um monumento rim é o medium através do qual o romancis-
literário, como se ele fosse o porta-voz de- ta expressa seu amor pelo povo sertanejo.
les, dispensando-os de articularem, eles pró- Amor ao povo soa um pouco piegas, mas
prios, a sua história. As aporias e as formas como é que um conhecimento do povo se
do falso são tantas, que existiram boas ra- desenvolveria sem esse amor? Na estética
zões para ter surgido essa reescrita crítica romântica, na peça de Friedrich Schiller, A
que é Grande Sertão: Veredas. Donzela de Orléans, a jovem guerreira, filha
Resta explicar como Guimarães Rosa de pastores, é a personificação do amor à
transforma a história do sofrimento indivi- nação. Joana d’Arc quer libertar o seu povo
dual e coletiva em história da paixão. Para “do jugo de um senhor que não ama o povo”
isso, nos servirá de apoio o estudo de Erich (Schiller, 1802, I.10) (9). O amor ao povo
Auerbach (1941), “Passio als Leidenschaft” é, de fato, a quinta modalidade de amor na
(“Passio e Paixão Amorosa”). Na Antigüi- obra de Guimarães Rosa, complementan-
dade, explica o estudioso, tanto a palavra do as quatro que Benedito Nunes (1964) já
grega páthos quanto a latina passio signi- estudou: o amor representado respectiva-
ficavam “dor, sofrimento, doença”, o que mente pelas figuras de Eva, Helena, Maria
se manteve durante toda a Idade Média até e Sofia. A síntese desses amores é Diadorim,
os inícios da Era Moderna. Apenas no sé- e o amor representado por essa figura está
culo XVII, o francês passion começou a também intimamente ligado à paixão do
ser usado como “paixão amorosa” no sen- escritor pela língua.
9 No contexto brasileiro atual, o tido moderno. A pergunta que Auerbach Diadorim é o medium artístico que faz
amor ao povo é para o teólogo
da libertação Leonardo Boff
coloca é: como o significado fervoroso, com que a história da paixão amorosa de
(1997, p. 33) um critério deci- ardente, ativo chegou a entrar no campo Riobaldo por Diadorim não seja apenas um
sivo para avaliar o projeto
político do presidente da Repú- semântico primitivo? A mudança ocorreu ato de memória afetiva individual, mas tam-
blica: “acho que [ele] não ama durante a Idade Média cristã, sobretudo com bém um retrato da sociedade, através de
suficientemente esse povo, ele
ama o poder”. o culto dos martírios e o misticismo. O um profundo mergulho na língua. Se, em
96 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
Os Sertões, toda a energia retórica se con- banido para dentro do labirinto. É o que
some num discurso fúnebre regido pela ocorre, no mito antigo, com o Minotauro,
lógica de que os sertanejos têm que estar nascido da união antinatural da rainha
mortos, para poderem se tornar heróis na Pasifaé com um touro enviado por
literatura (Zilly, 1996, p. 292), em Grande Poseidon. A atração de Riobaldo por
Sertão: Veredas, ao contrário, o trabalho Diadorim representa o éros tabu: “Reajo
de luto do narrador pela pessoa amada faz que repelia. Eu? Asco!” (GSV, p. 50). Exis-
com que se construa, através de uma lin- te uma correspondência entre essa figura
guagem inovadora, um símile da vida, um do eros tabu e o tabu social, constituído
tablado da dança do labirinto, onde se apre- pela multidão dos excluídos, em reclusão
senta, numa imensa coreografia, com tris- permanente nos fundos do Brasil. É o con-
tezas e alegrias, a história do povo. junto das “más gentes” do acampamento
Quais são os procedimentos? do Hermógenes (GSV, p. 123); são as
Em primeiro lugar, a estratégia do nar- “tristas caras” dos catrumanos das brenhas,
rador de contar, paralelamente à recons- “molambos de miséria”, “máscaras” “por
tituição da via crucis de sua paixão indivi- trás da fumaça verdolenga” das “pilhas de
dual, também a “tristonha história” do seu bosta seca de vaca”, esses catrumanos, que
grupo social, os jagunços, e por extensão, “nem mansas feras” “viviam tapados de
a história cotidiana do povo nas veredas do Deus, nos ôcos”, mas que “para obra e
grande sertão (10). malefícios tinham muito governo” (GSV,
Segundo, a construção – por meio de pp. 290-7); são “os doentes condenados:
todos esses lieux de memoire, que são lázaros de lepra, aleijados por horríveis for-
repositórios das emoções do protagonista – mas, feridentos, os cegos mais sem gestos,
do mapa de uma história social que pulsa loucos acorrentados, idiotas, héticos e
em cada página do Grande Sertão. As de- hidrópicos […] criaturas que fediam […]
zenas de veredas do mapa topográfico tra- um grande nôjo” (GSV, p. 48). É dessa for-
çado a partir da rememoração de Diadorim ma que Guimarães Rosa evoca o lado do
desdobram-se em centenas de retratos de Brasil que suscita vergonha, horror e asco,
sertanejos e jagunços que Riobaldo (Gui- o país recalcado, arrenegado, infame, o país
marães Rosa) conheceu e criou. Como pai- dos avessos, mundo-cão, inferno.
xão estética e medium artístico, Diadorim é O que se oculta e se revela, por meio
indissoluvelmente ligado ao registro da vida dessas figuras do labirinto e do tabu, é um
da coletividade; como emblema do encon- problema social monstruoso, sempre
tro com o desconhecido, Diadorim repre- recalcado pelos donos do poder, dos quais
senta também a dificuldade dos letrados faz parte o protagonista-narrador rosiano.
brasileiros de retratar esse desconhecido Através de uma visão de Riobaldo, Guima-
maior que é o povo. No primeiro encontro rães Rosa compõe um quadro ficcional, que
de Riobaldo com o Menino, numa observa- a história real se encarregou de copiar: aque-
ção aparentemente irrelevante, está conti- las multidões se põem em movimento em
do todo o programa do escritor: “Ele [o direção aos grandes centros urbanos, “se
Menino] apreciava o trabalho dos homens, fazem montão, montoeira, aos milhares
chamando para eles meu olhar” (GSV, p. mís e centos milhentos, vinham se desento-
81). De fato, o que Guimarães Rosa orga- cando e formando, do brenhal, enchiam os
niza por meio da figura de Diadorim, nas caminhos todos, tomavam conta das cida-
frestas do grand récit, nos intervalos entre des” (GSV, p. 295). Assim, através da histó-
as batalhas, é a historiografia dos trabalhos ria da paixão de Riobaldo por Diadorim, uma
e dos dias no sertão. paixão que questiona a identidade do prota-
Um terceiro tipo de superposição entre gonista em todos os planos, Guimarães Rosa 10 Através do desejo de Riobaldo
de enterrar Diadorim “num ali-
Diadorim e o povo se dá através do mons- desperta o leitor para a compreensão da so de vereda, adonde ninguém
truoso, que é aquilo que causa vergonha, “história como história mundial do sofrimen- ache” (GSV, p. 454), a figura
da pessoa amada se sobrepõe
que não se pode mostrar e que tem que ser to” – a Leidensgeschichte, de que fala Walter a todas as veredas.
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 97
Benjamin (1928/1984, p. 188) –, dentro e terem a uma visão alegórica da história,
fora da literatura. Diadorim, muito mais do que uma alego-
Superar o mundo através de uma pai- ria, é uma figura – de acordo com a idéia-
xão ativa tinha sido a concepção de história guia da presente interpretação. É uma figu-
de Antônio Conselheiro e seus seguidores. ra, na medida em que este termo expressa,
Sua opção pelo sofrimento ativo foi uma como expõe Erich Auerbach (1939), o se-
forma de resistência contra o sofrimento guinte conjunto de qualidades: é uma for-
imposto pelo mundo, foi para eles uma pers- ma plástica, da mesma origem que fingir e
pectiva de salvação. Euclides da Cunha ficção, uma arquiimagem ou imagem oní-
desconheceu e desprezou essa visão da his- rica, o encoberto, o engano, a sombra, a
tória, procurando substituí-la por uma transformação, a capacidade organizadora
historiografia heróico-patética em que a do discurso… Além disso, é radicalmente
última palavra é o sofrimento trágico, com- histórica e dialética, portadora de profecias
binado com uma visão fatalista do progres- e guardiã da história do povo e das leis. É
so. Guimarães Rosa, através da história do mediadora entre o mundo terreno e o Ideal.
amor de Riobaldo por Diadorim, resgata a E: essencialmente inclinada para a inter-
formação histórica, política e poética da pretação de textos, para a decifração dos
paixão cristã. A superação do sofrimento sentidos manifestos e latentes, das dificul-
se dá pelo trabalho de luto, pelo ato de narrar dades, das dúvidas, das perguntas sem res-
e reviver a paixão, pela retomada da histó- posta…
ria no que ela tinha de prematuro, sofrido, Todas essas são razões de sobra para o
malogrado. autor de Grande Sertão: Veredas ter se ena-
Apesar de estas últimas palavras reme- morado da figura.
BIBLIOGRAFIA
AGUIAR, Flávio Wolf de. “As Imagens Femininas na Visão de Riobaldo”, in Scripta, v. 2, n. 3, Belo Horizonte, 1998,
pp. 121-6.
ARROYO, Leonardo. A Cultura Popular em Grande Sertão: Veredas. Rio de Janeiro, José Olympio, 1984.
AUERBACH, Erich. “Figura” (1939), in ________. Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie. Berna,
Francke, 1967, pp. 55-92.
________. “Passio als Leidenschaft” (1941), in ________. Gesammelte Aufsätze zur romanischen
Philologie. Berna, Francke, 1967, pp. 161-75.
________. “Gloria Passionis” (1958), in ________. Literary Language & Its Public in Late Latin Antiquity and
in the Middle Ages. Trad. Ralph Manheim. London, Routledge & Kegan, 1965, p. 67-81.
BENJAMIN, Walter. O Conceito de Crítica de Arte no Romantismo Alemão (Der Begriff der Kunstkritik in der deutschen
Romantik, 1920). Trad. Marcio Seligmann-Silva. São Paulo, Iluminuras, 1993.
________. Origem do Drama Barroco Alemão (Ursprung des deutschen Trauerspiels, 1928). Trad. Sérgio Paulo
Roaunet. São Paulo, Brasiliense, 1984.
________. “Über das mimetische Vermögen” (1933), in ________. Gesammelte Schriften II,1. Ed. org. por
Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1977, pp. 210-3.
________. “Sobre o Conceito de História” (Über den Begriff der Geschichte, 1940), in ________. Magia e
Técnica, Arte e Política. Obras Escolhidas I. Trad. Sergio Paulo Rouanet. São Paulo, Brasiliense, 1985, pp. 222-32.
BOFF, Leonardo. [Entrevista.] Caros Amigos. Rio de Janeiro, junho 1997, pp. 27-35.
BOLLE, Willi. “O Pacto no Grande Sertão – Esoterismo ou Lei Fundadora?”, in Revista USP, n. 36, São Paulo, 1997-
98, pp. 27-44.
_________. “Guimarães Rosa, Leitor de Euclides da Cunha”, in Brasil/Brazil, n. 20, Porto Alegre, 1998a, pp. 9-41.
________. “O Sertão como Forma de Pensamento”, in Scripta, v. 2, Belo Horizonte, n. 3, 1998, pp. 259-71.
98 REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001
________. “Geschichtsschreibung als ästhetische Passion”, in Eckart Goebel; Wolfgang Klein (orgs.).
Literaturforschung heute. Berlim, Akademie, 1999, pp. 98-111.
________. “grandesertão.br ou: A Invenção do Brasil”, in Giulia Lanciani (org.). João Guimarães Rosa: Il che
delle cose. Roma, Bulzoni, 2000, pp. 13-99.
CUNHA, Euclides da. Os Sertões: Campanha de Canudos. Ed. crítica org. por Walnice N. Galvão. São Paulo, Ática, 1998.
CURTIUS, Ernst Robert. “Antike Pathosformeln in der Literatur des Mittelalters” (1950), in ________.
Gesammelte Aufsätze zur romanischen Philologie. Berna, Francke, 1960, pp. 23-27.
DERRIDA, Jacques. “La loi du genre”, in ________. Parages. Paris, Galilée, 1986, pp. 251-87.
FANTINATI, Carlos Erivany. “Um Riobaldo, Três Amores”, in Revista de Letras, n. 7, Assis, 1967, pp. 9-30.
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder: Formação do Patronato Político Brasileiro (1958). São Paulo, Globo, 1997 e 1998.
FICHTE, Hubert. Etnopoesia. Ed. org. por Wolfgang Bader. São Paulo, Brasiliense, 1987.
GALVÃO, Walnice Nogueira. A Donzela-Guerreira: um Estudo de Gênero. São Paulo, Senac, 1998.
GOETHE, Johann Wolfgang. Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795). Ed. org por Wilhelm Vosskamp. Frankfurt am Main,
Deutscher Klassiker Verlag, 1992.
HANSEN, João Adolfo. “Diadorim”, in ________. O Ó: A Ficção da Literatura em Grande Sertão: Veredas. São
Paulo, Hedra, 2000, pp. 130-42.
HAZIN, Elizabeth. “No Nada, o Infinito (da Gênese do Grande Sertão: Veredas)”, in Giulia Lanciani (org.). João
Guimarães Rosa: Il che delle cose. Roma, Bulzoni, 2000, pp. 135-75.
LAUSBERG, Heinrich. Handbuch der literarischen Rhetorik. 3a ed. Stuttgart, Franz Steiner, 1990.
LIMA, Luiz Costa. Terra Ignota: a Construção de “Os Sertões”. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1997.
LORAUX, Nicole. L’Invention d’Athènes: Histoire de l’Oraison Funébre dans la “Cité Classique”. Paris, de Gruyter, 1981.
LORENZ, Günter W. “João Guimarães Rosa”, in ________. Dialog mit Lateinamerika: Panorama einer Literatur
der Zukunft. Tübingen, Erdmann, 1970, pp. 481-538.
MOURÃO, Cleonice Paes Barreto. “Diadorim: O Corpo Nu da Narração”, in Lélia Parreira Duarte et al. (orgs.). Veredas
de Rosa. Belo Horizonte, PUC Minas, Cespuc, 2000, pp. 158-63.
NUNES, Benedito. “O Amor na Obra de Guimarães Rosa” (1964), in Eduardo F. Coutinho (org.). Guimarães Rosa.
Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1983, pp. 144-69.
PORT, Ulrich. “‘Katharsis des Leidens’. Aby Warburgs ‘Pathosformeln’ und ihre konzeptuellen Hintergründe in
Rhetorik, Poetik und Tragödientheorie”, in Gerhart von Graevenitz; David E. Wellberry. Wege deutsch-jüdischen
Denkens im 20. Jahrhundert. Stuttgart, Metzler, 1999, pp. 5-42.
PROENÇA, Manuel Cavalcanti. Trilhas no Grande Sertão. Rio de Janeiro, MEC, 1958.
PROPP, Vladimir. Morphologie du Conte (1928). Trad. M. Derrida. Paris, Seuil, 1970.
QUINTILIANUS, Marcus Fabius. Institutio Oratoria – Ausbildung des Redners. Ed. bilíngüe, org. e trad. Helmut Rahn.
Darmstadt, Wiss. Buchgesellschaft, 1988.
ROSA, João Guimarães. “Pé-Duro, Chapéu-de-Couro” (1952), in Ave, Palavra. Rio de Janeiro, José Olympio, 1970,
pp. 123-43.
________. Corpo de Baile. Rio de Janeiro, José Olympio, 1956.
________. Grande Sertão: Veredas. 5a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1967.
UTÉZA, Francis. JGR: Metafísica do Grande Sertão. São Paulo, Edusp, 1994.
SCHILLER, Friedrich. Die Jungfrau von Orleans (1802), in ________. Ausgewählte Werke. Vol. 4. Ed. org. por
Ernst Müller. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgemeinschaft, 1954, pp. 7-156.
WARBURG, Aby. “Dürer und die italienische Antike” (1906), in ________. Gesammelte Schriften. Vol. 2. Ed. org.
por Horst Bredekamp e Michael Diers. Berlim: Akademie Verlag, 1998, pp. 443-9.
WHITE, Hayden. Figural Realism: Studies in the Mimesis Effect. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1999.
ZILLY, Berthold. “Nachwort”, in Euclides da Cunha. Krieg im Sertão. Trad. B. Zilly. Frankfurt am Main, Suhrkamp,
1994, pp. 757-83.
________. “Der Sertão als Wiege der Nation? Zwölf Thesen zu Ethnien und Nationbildung in Os Sertões von
Euclides da Cunha”, in Dietrich Briesemeister; Sérgio Paulo Rouanet (orgs.). Brasilien im Umbruch. Frankfurt am
Main: TFM, 1996, p. 275-293.
________. “Nação e Sertanidade: Formação Étnica e Civilizatória do Brasil, Segundo Euclides da Cunha”, in David
Schidlowsky et al. (org.). Zwischen Literatur und Philosophie: Festschrift zum 60. Geburtstag von Victor Farías. Berlin,
Wissenschaftlicher Verlag, 2000, pp. 305-48.
REVISTA USP, São Paulo, n.50, p. 80-99, junho/agosto 2001 99
Você também pode gostar
- Acordo Ortográfico - SebraeMG - Língua+Portuguesa+no+Dia+a+Dia PDFDocumento46 páginasAcordo Ortográfico - SebraeMG - Língua+Portuguesa+no+Dia+a+Dia PDFLéo100% (2)
- A Historia Secreta Dos Jesuítas e HitlerDocumento198 páginasA Historia Secreta Dos Jesuítas e Hitlertarsopalma100% (1)
- Apostila CBMDFDocumento4 páginasApostila CBMDFDouglas FerreiraAinda não há avaliações
- A Teoria em Crise PDFDocumento180 páginasA Teoria em Crise PDFLéo100% (1)
- Ilíada e Odisséia - 6ºanoDocumento7 páginasIlíada e Odisséia - 6ºanoMauro Zilbovicius0% (1)
- Programa de Instrução Militar 2014Documento189 páginasPrograma de Instrução Militar 2014Rodrigo Owerney100% (1)
- Exercícios de Fixação - Módulo IIIDocumento4 páginasExercícios de Fixação - Módulo IIIDiogo Cardoso100% (1)
- 464 1322 1 PBDocumento9 páginas464 1322 1 PBLéoAinda não há avaliações
- Resenha Nações LiteráriasDocumento4 páginasResenha Nações LiteráriasLéoAinda não há avaliações
- Conferências Do Cassino Lisbonense - Eça de QueirósDocumento7 páginasConferências Do Cassino Lisbonense - Eça de QueirósLéoAinda não há avaliações
- O Apagamento Da Literatura Na Escola PDFDocumento154 páginasO Apagamento Da Literatura Na Escola PDFLéoAinda não há avaliações
- CAPITULO 2 - Intertextualidade e ArgumentaçãoDocumento12 páginasCAPITULO 2 - Intertextualidade e ArgumentaçãoLéoAinda não há avaliações
- 4a Conferência Do Cassino Lisbonense - Eça - A Literatura Nova (O Realismo Como Nova Expressão Da Arte) (Fragmento) PDFDocumento5 páginas4a Conferência Do Cassino Lisbonense - Eça - A Literatura Nova (O Realismo Como Nova Expressão Da Arte) (Fragmento) PDFLéoAinda não há avaliações
- 15 Margarida Basilio PDFDocumento10 páginas15 Margarida Basilio PDFLéoAinda não há avaliações
- O Princípio Da Analogia Na Constituição Do Léxico PDFDocumento13 páginasO Princípio Da Analogia Na Constituição Do Léxico PDFLéoAinda não há avaliações
- Direitos Animais e Guarda ResponsavelDocumento10 páginasDireitos Animais e Guarda ResponsavelLéoAinda não há avaliações
- Folder BenjaminDocumento14 páginasFolder BenjaminLéoAinda não há avaliações
- Língua PortuguesaDocumento47 páginasLíngua PortuguesaLéoAinda não há avaliações
- Sermão de Santa BárbaraDocumento30 páginasSermão de Santa BárbarajulianovmAinda não há avaliações
- Helicopteros de CombateDocumento5 páginasHelicopteros de CombatePedro Miguel AbreuAinda não há avaliações
- Anotações Da Guerra FriaDocumento2 páginasAnotações Da Guerra FriaDeusdivany JonesAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa 2º ADM - 2º BimestreDocumento3 páginasAtividade Avaliativa 2º ADM - 2º BimestreTiago Wolfgang DopkeAinda não há avaliações
- Espada - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento24 páginasEspada - Wikipédia, A Enciclopédia LivreThiago FernandesAinda não há avaliações
- Literatura e Historia - Beppe FenoglioDocumento22 páginasLiteratura e Historia - Beppe FenoglioVanessa Gomes Franca ColasantianaAinda não há avaliações
- II Guerra Versão ChargesDocumento30 páginasII Guerra Versão ChargesFernanda PereiraAinda não há avaliações
- Modernidade, Pós-Modernidade e IrracionalidadeDocumento39 páginasModernidade, Pós-Modernidade e Irracionalidadeseleneherculano100% (1)
- Resumo 4 Acerca Do Texto: História Econômica Mundial 1790 - 1970 de Frédéric MauroDocumento3 páginasResumo 4 Acerca Do Texto: História Econômica Mundial 1790 - 1970 de Frédéric MauroWeverton MeloAinda não há avaliações
- Eden Pascoal - TeologiaDocumento15 páginasEden Pascoal - TeologiahermenegildoAinda não há avaliações
- Psc-Ufam Conteúdos ProgramáticosDocumento5 páginasPsc-Ufam Conteúdos ProgramáticosJohnAinda não há avaliações
- Guerra FriaDocumento2 páginasGuerra FriaHarry DobrevAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTODocumento31 páginasPLANEJAMENTOJhane SantosAinda não há avaliações
- A Ascensao e Queda Do Imperio Otomano ADocumento2 páginasA Ascensao e Queda Do Imperio Otomano Anat.amado14Ainda não há avaliações
- CannaDouro Magazine Nr2Documento33 páginasCannaDouro Magazine Nr2Diego Luis FlorencioAinda não há avaliações
- Proposta de Medida ProvisóriaDocumento4 páginasProposta de Medida ProvisóriaMetropolesAinda não há avaliações
- História Do DinheiroDocumento17 páginasHistória Do Dinheirofsf09pfAinda não há avaliações
- TormentaDocumento66 páginasTormentaMestreMarcusLimaAinda não há avaliações
- A Propaganda NazistaDocumento0 páginaA Propaganda NazistaMauricio ToneliAinda não há avaliações
- Cria de Fenris AmostraDocumento4 páginasCria de Fenris AmostraAllak WalterAinda não há avaliações
- Edição 846 On Line 19 09 13Documento28 páginasEdição 846 On Line 19 09 13Jornal Atos e FatosAinda não há avaliações
- Documentos Interessantes para A Historia e Costumes de S Paulo Vol 81Documento217 páginasDocumentos Interessantes para A Historia e Costumes de S Paulo Vol 81eduardoferreira559255Ainda não há avaliações
- Trabalho de HistóriaDocumento7 páginasTrabalho de História尺丹下工joaoAinda não há avaliações
- A ECONOMIA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO LATINO-AMERICANO - Sete Exercícios de RetrospecçãoDocumento23 páginasA ECONOMIA POLÍTICA DO DESENVOLVIMENTO LATINO-AMERICANO - Sete Exercícios de RetrospecçãoLuciana MurariAinda não há avaliações
- E-Book L.A.M.M.Documento16 páginasE-Book L.A.M.M.João InácioAinda não há avaliações