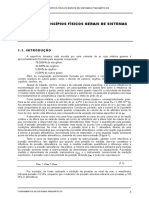Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
9769-Texto Do Artigo-28680-1-10-20201215
9769-Texto Do Artigo-28680-1-10-20201215
Enviado por
Thiago GranaiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
9769-Texto Do Artigo-28680-1-10-20201215
9769-Texto Do Artigo-28680-1-10-20201215
Enviado por
Thiago GranaiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Andreia A.
Marin
DOI: http://dx.doi.org/10.35499/tl.v14i2
Palavras-imagens, escrita biográfica e os
fantasmas de Derrida
Andreia A. Marin (UFTM)*
https://orcid.org/0000-0001-8599-0506
Resumo:
O impulso da presente escrita foi um olhar de Derrida, que parecia ver sem
ser visto, em D’ailleurs Derrida. As palavras-imagens de alguém que já mor-
reu, portanto, de seus espectros, motivam as inquietações que norteiam o
texto. São discutidos os conceitos de fonocentrismo, mal de arquivo e es-
pectralidade, a partir das obras Gramatologia, Mal de Arquivo e Espectros de
Marx, com o objetivo de pensar até que ponto a escrita, em especial a escrita
biográfica, é permissiva aos espectros ou possibilita seu apagamento. Ao fi-
nal, enfatiza-se a questão sobre a intenção do autor que escreve, de garan-
tir a permanência de sua própria existência ou de apontar incansavelmente
para o que permanece refratário à síntese analítica e histórica e à tendência
ao arquivamento.
Palavras-chave: Espectros. Mal de Arquivo. Fonocentrismo. Escrita.
Abstract:
Image-words, biographical writing and the ghosts of
Derrida
The impulse of this writing was a look of Derrida, who seemed to see with-
out being seen, in D’ailleurs Derrida. The words-images of someone who has
died, of their spectra, motivate the concerns that guide the text. The con-
cepts of phonocentrism, archival and spectrality are discussed, based on the
works Of Grammatology, Archive Fever and Specters of Marx. The objective
is to think to what extent writing, especially biographical writing, is permis-
sive to the spectra or makes it possible to erase them. In the end, the ques-
tion about the intention of the author who writes is emphasized: whether
he intends to guarantee the permanence of his own existence or to point
tirelessly to what remains refractory to the analytical and historical synthe-
sis and the tendency to archive.
Keywords: Specters. Archive Fever. Phonocentrism. Writing.
* Docente no Instituto de Educação, Letras, Artes e Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro - UFTM. E-mail: aamarinea@gmail.com.
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 155
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
Introdução No filme, que se pretende biográfico,
Derrida desde o início diz ser impossível
Antes de qualquer impulso de escrita, me
algo como uma autobiografia, uma vez que
pergunto, diante de um aceno de Jacques
ela pressuporia o conhecimento de uma
Derrida, se se trata de conduzir a força de
identidade, que tornaria possível dizer “eu”.
sua presença não presente a um esboço,
Mas esse “eu” não pode ser dado em uma
uma materialização linguageira e se, ao fa-
presença, da qual nasceria o fantasma iden-
zê-lo, não estaria cometendo o risco de uma
titário de que fala Derrida. A busca dessa
redução, uma busca de sentidos marcada
possibilidade está materializada na escrita,
por alguma intenção arquivística, uma con-
um garimpo de existências, ainda que fan-
juração de fantasmas.
tasmagóricas: “se escrevemos autobiogra-
Já estaria bastante influenciada pelas lei-
fias é porque somos movidos pelo desejo e
turas de Derrida para, diante de seu rosto
pelo fantasma desse encontro com o eu que
na tela, ousar nomear e reduzir fantasma-
finalmente se restituiria” (DERRIDA, 1999,
gorias, mas também esquivar-me delas, de
s/p). Acrescenta que se alguém encontrasse
maneira que assumo os riscos e me lanço a
esse “eu” não escreveria mais, não demar-
escrever sobre fantasmas. Não o fantasma
caria nem traçaria nada mais, não viveria
de Marx, mas o de quem pressentiu que,
mais.
na fantasmagoria, não há vazio. É o mesmo
Diante desse olhar que escreve com ima-
Derrida que me interpela na tela e que pare-
gens, na composição cinematográfica, tenho
ce me olhar de algum canto para além dela,
algumas inquietações a apresentar ao Der-
vendo-me sem ser totalmente visto.
rida redivivo: por que tanto escrever se, de
Na tela, ao fim de uma jornada de
saída, já não há mais que uma perseguição a
1h07’57’’, na pausa dada em 1h06’57” de
uma origem e uma traço identitário, pressu-
D’ailleurs Derrida (FATHY, 1999)1, me dou
postos como inexistentes ou inalcançáveis?
conta de estar diante de um fantasma. O
Por que falar de si, dar-se à escrita biográ-
rosto que aparece na tela é de alguém que já
fica, quando já se prevê que ela não carre-
morreu, mas esse olhar que aparece focado
gará senão espectralidades? Por que cons-
está tão presente no silêncio em que imerge
tituir-se em uma permanência espectral,
que parece impossível tomá-lo como pura
para sempre poder retornar e frequentar as
ausência. De tudo que foi dito no tempo do
existências de humanos à cata de sentidos,
filme, parece sempre haver um algo mais a
se a busca de sentidos não permite qual-
encontrar. Mas, não nos arrisquemos. Isso
quer resolução? Em outros termos, haveria
não é uma adesão dogmática ao conjunto de
conceitos lançados no mundo por esse pen- intenção no ato de deixar seu rosto, ao final
sador, nem tampouco uma paixão pela vida de uma escrita-imagem biográfica, para de-
que permitiu a eclosão da obra. É mais uma marcar o fantasma em que se constituiria?
pergunta pelo fantasma que Derrida mesmo Por fim, haveria algo como o apagamento
é e que, assim sendo, que faz jus ao respeito dos fantasmas?
à herança espectral que ele mesmo defen- Para avançar na discussão dessas inquie-
deu. tações, precisamos rever algumas sugestões
conceituais apresentadas por Derrida: o
1 Disponível em https://territoriosdefilosofia.
wordpress.com/2014/05/04/documentario- fonocentrismo; o mal de arquivo e a espec-
dailleurs-derrida/. Acesso em 29/10/2020. tralidade. Depois de uma sintética revisão
156 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
desses conceitos, avançaremos para a dis- da análise de Derrida: a escrita seria, para
cussão da escrita como busca identitária ou Saussure, um “fora’, uma representação exte-
como criação de fantasmagorias, seguida da rior do “pensamento-som” (DERRIDA, 2017,
questão relativa ao interesse de Derrida por p.38). Esse tema central de Derrida, no texto
essa escrita. Por fim, voltaremos a nos colo- Gramatologia, é referido com o termo “fono-
car diante do fantasma de Derrida e respon- centrismo”2, a redução histórico-metafísica
der à questão sobre a (im)possibilidade de da escrita à categoria de instrumento subor-
apagamento dos espectros. dinado a uma linguagem plena e original-
mente falada. No entanto, Derrida considera
Rastros, suplementos e a escrita questionável essa redução da escrita à re-
presentação no interior de um pensamento
Iniciemos pela análise que Derrida faz da
que comportou o arbitrário do signo. Coelho
teoria etnológica de Lévi-Strauss, na qual
(2013, p.165) destaca esse reconhecimento
vê ressonâncias do problema da distinção
de Derrida concedido ao brilhantismo saus-
entre fala e linguagem escrita. O foco des-
suriano, na medida em que impediu pensar
sa análise é uma perspectiva que tomaria
o signo como “signo de”, apontando para a
a fala não escrita de povos ditos primitivos
ausência de elo causal entre significante e
como uma fala comunicativa, mas que não
significado, e exigindo pensá-lo no interior
se prestou à escrita, portadora de um senti-
de uma estrutura. É nesse sentido que es-
do restrito e aprisionado nela mesma. Essa
peculará sobre a possibilidade de uma ante-
perspectiva só é possível amparada na ideia
visão de Saussure sobre a inseparabilidade
de inspiração saussuriana: a distinção entre
entre fala e escrita no sistema linguístico,
uma linguagem pura, a fala, e uma linguagem
sendo os argumentos expostos nos capítu-
derivada, que representa a voz presente a si.
los introdutórios do Curso... apenas o meio
Embora Saussure tenha afirmado um siste-
para sistematizá-la.
ma linguístico em que a fala e a escrita são
A esse respeito, Santos (2018, p.480)
instâncias que se imbricam, algumas inter-
destaca a sugestão de Derrida de que “seu
pretações do VI capítulo da Introdução do
texto escreve o que não diz, sugere o que não
seu Curso de linguística geral, Representação
afirma” e “antevê a possibilidade de uma
da língua pela escrita, colocam em destaque
ciência dos signos em geral, não subordina-
um tratamento controverso baseado em sua
da à hierarquia da phoné/logos”. Isso talvez
distinção:
se confirme pelas assertivas que são apre-
A língua e a escrita são dois sistemas dis-
sentadas no avançado da obra saussuriana,
tintos de signos; a única razão de ser do se-
gundo é representar o primeiro [...]. O objeto 2 O termo fonocentrismo é citado no primeiro
linguístico não se define pela combinação da capítulo de Gramatologia. Derrida o apesenta
como “proximidade absoluta da voz e do ser, da
palavra escrita e da palavra falada; esta últi-
voz e do sentido do ser, da voz e da idealidade
ma por si só constitui tal objeto (SAUSSURE, do sentido”. A fala estaria relacionada com uma
2006, p.34). noção de signo que implica a distinção do sig-
nificado e do significante, que “permanece, por-
Logo na sequência dessa consideração, tanto, na descendência deste logocentrismo que
Saussure lembra que o aprendizado da es- é também um fonocentrismo: “Já se pressente,
crita é posterior ao da fala, de forma que se portanto, que o fonocentrismo se confunde com
a determinação historial do sentido do ser em
atribui uma importância à escrita que ela geral como presença” (DERRIDA, 2017, pp.14-
não tem. É essa assertiva o ponto de partida 15).
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 157
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
no capítulo IV, entre as quais, a que enfatiza são conceitual excludente das diferenças,
que o significante linguístico, em sua essên- Derrida sugere a ideia de rastro, ou grama,
cia, “não é de modo algum fônico, ele é in- como uma irredutibilidade a qualquer expe-
corpóreo, constituído não por sua substân- riência, algo que “deveríamos proibir a nós
cia material, mas somente pelas diferenças mesmos de definir no interior do sistema
que separam sua imagem acústica de todas de oposições da metafísica” e que não pode-
as outras” (SAUSSURE, 2006, p.138). Co- ríamos associar a uma “origem do sentido
mentando esse ponto, Mota (1997, p.307) em geral” (DERRIDA, 2017, p.11). O termo,
considera que “a tese do arbitrário do signo, em francês trace, sugere as marcas deixadas
segundo Derrida, é obstáculo mesmo para por uma ação ou pela passagem de um ser
a distinção radical entre signo oral e signo ou objeto (DERRIDA, 2017, p.22). Entenda-
gráfico”, de maneira que Saussure nunca te- mos: quando o discurso já se movimentou
ria pensado a escrita como representação na lógica das oposições binárias, é porque
da língua falada, mas “precisou dessas no- já se assumiu o pressuposto de um sentido
ções ‘inadequadas’ para detectar a ‘exterio- originário que pudesse se desdobrar em isto
ridade’ da empiria gráfica, e também sono- ou aquilo, afirmação ou negação, derivação
ra, relativamente aos significantes”. de significados. A busca desse originário é
Não obstante, a linguagem falada, segun- que justifica a fé no acesso ao ser plenamen-
do Derrida (2017, p.13), estaria sendo con- te presente, fundamento do que Derrida de-
siderada, por muitos teóricos, mais próxima nomina como metafísica da presença.
de uma significação natural do que a escri- Em Gramatologia, Derrida (2017) defen-
ta, que apenas fixaria convenções, estando de que haveria, no modo do logocentrismo,
associada a um caráter derivado, técnico e uma crença na possibilidade de apreensão
representativo. A escrita, diz ele, “não teria do ser do ente como essa presença. Quan-
nenhum sentido constituinte”, sendo a deri- do Derrida fala da presença na perspectiva
vação “a própria origem da noção de signi- do arquivo, em Mal de arquivo (2001), está
ficante”, ao qual ela é associada (DERRIDA, se referindo a essa busca de um sentido ori-
2017, p.14). Tudo se passa como se algo es- ginário que poderia se dar como presença.
condido na fala, um significante puro, uma Quer, por essa via, evitar qualquer tentativa
“substância fônica”, forjasse as diferenças de “restaurar ou explicitar uma ontologia”,
entre mundano e não mundano, fora e den- ou atingir “intuições ontológicas profundas
tro, idealidade e não idealidade, transcen- acedendo a uma verdade originária” (DER-
dental e empírico (DERRIDA, 2017, p.9). RIDA, 2017, p.24).
Como se vê, a própria explicitação de A busca de um sentido originário, no in-
um originário na fala já recai sobre o uso terior da linguagem, resultaria sempre uma
de oposições binárias que caracterizam o remissão interminável a significantes, o que
pensamento ocidental, nas quais se evi- demonstra a impossibilidade de acesso e a
dencia o conflito entre natureza e cultura impertinência de discursos que se pautam
que Derrida denunciará como subsumido na justificativa da presença totalizadora do
no discurso etnográfico, ainda quando as sentido. A fala, segundo Derrida, sempre
ciências humanas pensaram tê-lo superado. foi tomada como mais próxima dos senti-
Contra essa prevalência das oposições biná- dos originários que a escrita, o que identi-
rias, que facilmente conduz a uma dimen- ficará, sem muitos esforços, na filosofia de
158 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
Rousseau e na etnologia de Lévi-Strauss. A prio. Um incidente, entre os Nhambiquara,
escrita, no âmbito dessas filosofias, seria em que o etnólogo nega o caráter de escrita
considerada suplemento da fala. É nesse aos esboços feitos pelo chefe da tribo, con-
sentido que detalha a tomada da voz como siderando-os pura imitação, soma-se a esse
auto afecção, presença de si a si do sujeito traço etnocêntrico, comentado por Moraes
cognoscente. A voz seria, segundo Derrida, (2013, p.149, grifos do autor): “Derrida
uma produção do logos como auto afecção, mostra que Lévi-strauss, ao traduzir a ex-
pela qual o sujeito sai de si em si, sendo o pressão iekariukedjutu por ‘fazer riscos’”, es-
emissor do significante que o afeta. Ela pro- taria mais uma vez se deixando tomar pelo
voca uma suspensão do apelo a um signifi- etnocentrismo linguístico, “abandonando
cante exterior a si, espacial, na medida em deste modo toda a possibilidade de signifi-
que é a consciência da voz no ouvir-se falar. cação da expressão indígena e desconside-
Ela sinaliza, portanto, para o originário sem rando o próprio ato de escrever”.
mediações. É também nesse contexto que Derrida
Derrida vê em Lévi-Strauss um cientista discute a importância que o etnólogo deu ao
inquieto que ora apoia-se na diferença entre nome próprio, como presença a si, nos estu-
physis e seus outros (artes, técnica, lei, insti- dos sobre os Nhambiquara, povo facilmente
tuição, sociedade), ora conduz ao seu ponto interpretável como uma infância da huma-
de apagamento. A oposição entre natureza nidade, no jogo das oposições próprio do
e cultura aparece nitidamente na discussão discurso metafísico. Os Nhambiquara inter-
empreendida por Lévi-Strauss a respeito do ditam o nome próprio, fenômeno linguístico
incesto, a partir do registro de sua interdi- atrelado ao mito metafísico da origem, pro-
ção no povo Nhambiquara, fato que inter- duzindo uma transgressão à presença a si e
preta como prova de uma condição cultural à propriedade. Os nomes nada mais são que
sobreposta à pura natureza. Segundo Derri- indicativos de possíveis classificações, de
da (2017, p.128), o escândalo do incesto só estados transitórios da subjetividade, não
aparece no momento em que, “renunciando podendo ser a marca da identidade e não se
a uma ‘análise real’ que nunca nos propor- aplicando à presença plena, como queria o
cionará diferença entre natureza e cultura, logocentrismo e, em parte, o etnocentrismo
passava-se a uma ‘análise ideal’ permitindo nele apoiado. É nesse sentido que Derrida
definir o duplo critério da norma e da uni- aponta:
versalidade”. Tudo se passa como se toda
É porque o nome próprio nunca foi possí-
análise já se iniciasse de uma estrutura pre- vel a não ser pelo seu funcionamento numa
viamente pensada, aberta pelas investidas classificação e, portanto, em um sistema de
de um método apoiado na distinção nature- diferenças, numa escritura que retém os ras-
za-cultura. tros da diferença, que o interdito foi possível,
A necessidade de transpor esse a priori pôde jogar, e eventualmente ser transgredi-
foi reconhecida pelo próprio Lévi-Strauss do, como veremos. Transgredido, isto é, res-
em Pensamento selvagem (1962). Apesar tituído à obliteração e à não propriedade de
origem (DERRIDA, 2017, p.135).
disso, Derrida continua apontando em Lé-
vi-Strauss o desdobramento do conflito na- O problema apontado por Derrida no
tureza e cultura em uma ideia de progresso tratamento etnológico dos Nhambiquara se
da linguagem em direção a um sentido pró- baseia na incongruência da recusa de uma
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 159
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
linguagem representativa a uma sociedade Seus indicativos: existência de algo natu-
capaz de obliterar o próprio (o nome pró- ral e antinatural entre diferentes povos (o
prio). A dificuldade estaria em Lévi-Strauss, incesto e sua interdição); manifestação de
que dentro da clausura metafísica, precisou algo mais próximo de um originário e mais
convencionar com os indígenas nomes de derivado (a fala como linguagem pura e a
empréstimo, pelos quais seriam designa- escrita como significação); o testemunho
dos. Da sua perspectiva, haveria uma forma de apreensão da ideia de propriedade (in-
de suprimir o interdito imposto por essa so- terdição de nome próprio e competência
ciedade sem nomes, para alcançar um ocul- em classificação). Na anterioridade desses
to regime de classificação, “a inscrição num binarismos, pode-se prever o pressuposto
sistema de diferenças linguístico-sociais” de um originário, que seria o alvo mesmo da
(DERRIDA, 2017, p.138). Essa intenção re- intencionalidade etnológica: um sinalizador
velaria, segundo Derrida (2017, p.139), uma de aspectos humanos que derivariam em di-
violência, na medida em que tenta desnudar ferentes culturas.
a não identidade nativa, revelando por efra-
tura o nome que se pretende próprio. De A busca da origem
fato, o mesmo Lévi-Strauss relata, em Tristes A busca de um originário resulta em uma
trópicos, um conflito estabelecido a partir intenção frustrada, na medida em que tudo
da estratégia persuasiva de sua ação etno- que se pode encontrar é uma dinâmica de
gráfica para revelar nomes não pronunciá- diferenciações que tem a própria diferença
veis. Derrida (2017, p.146) faz referência a como ponto de partida. O pensamento on-
esse episódio como “guerra dos nomes pró- tológico opera sempre a partir da tentativa
prios”, motivada pelo estranho etnógrafo e de apagamento da diferença (différance)3,
seu sonho de uma presença plena fechando anterior a qualquer definição, não podendo
a história e suprimindo diferenças entre so- suportar a produção interminável do dife-
ciedades e culturas. rir. Há um interesse envolvido nesse apaga-
Se nos demoramos nessa questão dos mento e na busca pelo originário que é mais
Nhambiquara é porque o questionamento que epistemológico.
de Derrida a partir da perspectiva de Lévi Derrida inicia o primeiro capítulo de sua
-Strauss nos permite apontar um possível obra Mal de arquivo nos lembrando que a
reducionismo não evitado pelo etnógrafo: palavra “arquivo” deriva do termo Arkhê,
um etnocentrismo que se pensa como an- que designa, ao mesmo tempo, começo e co-
tietnocentrismo, na medida em que parte de mando: princípio da natureza ou da história,
um binarismo entre “povos sem escritura”, onde as coisas começam, e princípio da lei,
detentores de uma linguagem pura, autênti- pela qual os homens e os deuses comandam,
ca, e aqueles cuja língua não está liberta da onde se exerce a autoridade e se implanta a
escrita, que se desdobra na distinção dentre
3 Para Derrida, a ideia de diferença (différance) é
sociedades históricas e sem história (DER- anterior à distinção ser-ente e à presença como
RIDA, 2017, p.150). materialidade objetificável. Pinto Neto (2015,
Há, portanto, um pressuposto oculto no p.116), comentando esse conceito derridiano,
associa a diferença (différance) a uma pura vir-
pensamento de Lévi-Strauss que, ao que pa-
tualidade enquanto possibilidade pré-originária,
rece, ele mesmo quis ocultar, considerando um movimento diferencial ilimitado contido,
estar em uma abordagem antietnocêntrica. provisoriamente, em uma materialidade
160 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
ordem social (DERRIDA, 2001, p. 11). Dessa versão clássica do trabalho intelectual pre-
forma, o interesse pelo arquivo já prevê um sente nos discursos da historiografia. Nes-
exercício de poder. sa versão, “o arquivo seria um conjunto de
Poderíamos considerar que o arquivo documentos estabelecidos como positivida-
subtrai algo da vida, constituindo um frag- des, na sua materialidade, e que seria ainda,
mento de história que, uma vez arquivado, na sua pretensa objetividade, o reflexo do
está sujeito ao esquecimento, à destruição. que ocorreu de fato na experiência históri-
Nas conduções psíquicas descritas pela psi- ca”, representando um monumento da tra-
canálise, está previsto esse apagamento da dição (BIRMAN, 2008, p.109). Está no alvo
memória. No arquivamento material, há das discussões derridianas justamente essa
também uma potência destrutiva, colocada ingenuidade de não prever as influências
em ação tanto pelo arquivista, por se utili- do arquivamento, os exercícios de poder
zar do poder de fragmentar o mundo dos fa- nele engendrados, os conteúdos do arquivo
tos e arquivar o fragmento numa espécie de colocados como passados e fixos. Há uma
testemunho incontestável dos fatos, assim virtualidade no arquivo não previsto nesse
como por quem reinterpreta o material ar- conceito, condição coerente com a possibi-
quivado. Em todo processo de arquivamen- lidade de tomá-lo como sujeito à destruição.
to, mantém-se a possibilidade de supres- A distinção entre verdade material e
são de virtualidades que se quer negativar, verdade histórica, retomada do pensamen-
esquecer, colocar em segredo. É para esses to freudiano por Derrida, na análise do ar-
fantasmas que Derrida aponta, querendo quivo, aponta para a possibilidade de des-
ampliar o que o arquivamento, necessaria- mantelamento dessa fixidez do arquivo. A
mente, reduziu no exercício de um mal de verdade histórica poderia ser aventada a
arquivo. cada investida interpretativa sobre o mate-
Para o mal de arquivo, Derrida mesmo rial arquivado, o que, ao mesmo tempo em
apresenta uma definição: “a pulsão de morte que inaugura uma potência de desconstru-
não é um princípio. Ela ameaça de fato todo ção, repete as mesmas tramas da ação ar-
principado, todo primado arcôntico, todo quivística. No comentário de Birman (2008,
desejo de arquivo. É a isto que mais tarde p.116), o arquivista e o intérprete constitui-
chamaremos de mal de arquivo” (DERRIDA, riam, por suas operações de organização e
2001, p.23). Movimenta esse mal de arquivo leitura, a consignação do arquivo. As bases
a aposta no princípio arcôntico que reúne a da psicanálise ampliariam, na direção dessa
busca da origem e a consignação. Tal apos- interpretação, os limites do arquivo:
ta é entendida como a coordenação em um O arquivo não se constituiria apenas de tra-
sistema no qual todos os elementos são re- ços patentes e ostensivos, mas também pelas
unidos em uma configuração ideal (DERRI- múltiplas leituras possibilitadas pela condi-
DA, 2001, p.14). A possibilidade de esque- ção de posterioridade do intérprete e pela
cimento ou do apagamento voluntário que ação das operações do recalque e da repres-
perpassa a lógica do arquivamento configu- são, que transformariam o que é patente em
ra seu caráter de pulsão de morte. latente e virtual (BIRMAN, 2008, p.118).
Para melhor explicitar a problemática Seria preciso admitir uma virtualidade,
do arquivamento, Derrida transita na histó- uma espectralidade, que minimizaria a ilu-
ria e na psicanálise. Pretende questionar a são de pura objetividade do arquivo.
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 161
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
Freud havia suspeitado dessa espectra- Hanold associado à imagem, pela vincula-
lidade, mas não avançou para a suspensão ção com a lembrança dessa figura feminina
da busca de uma originalidade que desse da infância, movimentada por recalques. Há,
significação e ordem aos arquivos na di- no entanto, uma verdade que permanece re-
mensão psíquica. Derrida considera que o calcada no delírio: “a verdade é espectral,
pensamento freudiano tem o mérito de não fantasmática, eis aí sua parte de verdade ir-
negligenciar a espectralidade, os fantasmas redutível à explicação”. Para Derrida (2001,
e assombrações, mas, ao tentar dar conta p.117), isso permite considerar que Freud
deles de modo positivo, tentou conjurá-los. sofreu do mal de arquivo.
Se leva em conta os fantasmas, é para dar Estar com mal de arquivo, não pode signi-
conta deles, explicar e reduzir a crença ne- ficar outra coisa que não sofrer de um mal,
les (DERRIDA, 2001, p.122). de uma perturbação ou disso que o nome
Esse rastro denunciador da busca de “mal” poderia nomear. [...] É dirigir-se a ele
uma verdade no delírio levou Freud a reafir- com um desejo compulsivo, repetitivo e nos-
mar a conjuração do fato ao arquivo. Foi com tálgico, um desejo irreprimível de retorno à
essa disposição que julgou acessar, a partir origem, [...] uma saudade de casa, uma nos-
talgia de retorno ao lugar mais arcaico do
de uma experiência pessoal, a origem de sua
começo absoluto (DERRIDA, 2001, p.118).
própria alucinação. Freud reconheceu expe-
rimentar uma alucinação furtiva, perceben- Toda ciência comporta uma prática ar-
do-se diante de um fantasma: a imagem de quivística e Derrida nos lembra o desenvol-
uma paciente morta que ele pensa ver, para vimento de uma tecnologia apropriada às
logo em seguida perceber que ela apenas suas materialidades: “tecno-ciência, a ciên-
ressurge no corpo de sua irmã viva, que o cia só pode consistir, em seu próprio movi-
procura em seu consultório. mento, em uma transformação de técnicas
Nessa mesma inclinação à busca de uma de arquivamento, de impressão, de inscri-
origem que justifique a espectralidade, na ção, de reprodução, de formalização, de co-
obra O delírio e os sonhos na ‘Gradiva” de W. dificação e de tradução de marcas” (DER-
Jensen, Freud analisa o romance de Jensen, RIDA, 2001, p.26). Lembremos que, nas
Gradiva: uma fantasia pompeiana, onde há ciências que guardam relações com práticas
um jogo entre a imagem e a realidade, na etnográficas, um arquivamento de materiais
atmosfera alucinatória do arqueólogo Ha- advindos de discursos (a fala, a voz) como
nold. Após notar a imagem de Gradiva es- fonte de dados para a interpretação dos fe-
culpida em alto relevo, réplica da obra do nômenos sociais, respeitando o que Derrida
século II, em sonho, Hanold visualizara a aponta como uma analogia entre o fonológi-
morte de Gradiva e seu soterramento nas co e o sociológico, também configura um fo-
cinzas de Pompeia. Inaugura, motivado por nologismo legitimador a uma ciência que se
essa imagem, uma busca arqueológica nas dá como modelo de todas as ciências ditas
ruínas, onde se espanta com a visão de uma humanas (DERRIDA, 2017, p.127).
mulher que associa ao fantasma de Gradi- Consideremos que, também na escrita
va, descobrindo posteriormente se tratar biográfica, esse arquivamento é, por vezes,
de uma mulher real, Zoe, amiga de infância, o norteador de uma reconstituição histórica
por quem nutria sentimentos reprimidos. da existência. Aí também, a espectralidade é
Na análise de Freud, ganha foco o fetiche de furtiva ao mal de arquivo, impedindo qual-
162 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
quer síntese reducionista e contrariando a dívidas históricas e o presente vivo”, sus-
busca das origens. citando uma “crítica radical aos limites di-
cotômicos e totalizantes, desestabilizando
Os espectros reducionismos, essencialismos e conceitos
Não se trataria, no entanto, de abandonar rígidos” (DIAS, 2017, p.43). O espectro é jus-
os fantasmas na sua inacessibilidade. Trata- tamente aquilo que não se deixa dizer por
se, para Derrida, de uma questão de justiça. meio de uma metafísica da presença.
Seria preciso “falar do fantasma, até mesmo O termo “espectros”, em Derrida, está ligado
ao fantasma e com ele, uma vez que nenhu- à ideia de hantologie, ou espectralogia, que
ma ética, nenhuma política, revolucionária se opõe à ontologia binária do ser, uma das
ou não, parece possível, pensável e justa, grandes faces do pensamento derridiano.
Em Espectros de Marx, a proposta é ir além
sem reconhecer em seu princípio o respei-
da ontologia, pensando aquilo que nunca se
to por esses outros” (DERRIDA, 1994, p.11). faz inteiramente presente, mas na forma de
Comentando sobre a responsabilidade ad- rastro. A imagem dessubstancializada é, en-
vinda da espectralidade proposta no pen- tão, a do espectro. A indecidibilidade derri-
samento derridiano em Espectros de Marx, diana (nem isto, nem aquilo), visa eliminar
Dias (2017, p. 42) destaca: “Derrida advoga de vez os binômios metafísicos, e por isso a
o reconhecimento dos que não estão mais fantasmologia, que opera nas inconsistên-
no presente, senão sob a forma de espectros cias do real, se opõe à ontologia (DIAS, 2017,
p.46).
para uma ética possível”, assim como “uma
revisão das dívidas históricas e de ações de De acordo com Pinto Neto (2015, p.18),
reparação dessas dívidas”. Espectros de Marx é a obra em que Derrida
Um duplo, “nem espírito nem corpo ou utiliza de forma mais frequente a expressão
espírito e corpo”, é o que caracteriza o es- hantologie (espectrologia), visando superar
pectro, segundo Derrida (1994, p. 6). O es- a ontologia que afirma o primado do ser e
pectro é um “presente não-presente, um es- o dualismo ôntico/ontológico. Na busca de
tar-aí de um ausente ou de um desapareci- uma dimensão dessubstancializada, de uma
do”, sendo, portanto, alguma coisa que, pre- inconsistência ontológica, a imagem recor-
cisamente, não se conhece, que não se sabe rente passa a ser a do espectro, apontando
“se responde por um nome e corresponde a para uma “virtualidade como condição de
uma essência”, alguma coisa que não pode toda atualização”, em uma lógica que supe-
ser nomeada (DERRIDA, 1994, p.21). Outra ra o substancialismo do materialismo mar-
característica do espectro é ver sem ser vis- xista, abrindo espaço para um materialismo
to, não estando suscetível à nossa mirada. imaterial (PINTO NETO, 2015, p.119-120),
De acordo com Paz (2017, p.2764), na es- um “modelo de materialismo energético
pectrologia derridiana, do seu lugar impre- com forças sem presença” (PINTO NETO,
ciso, o espectro não apenas vê sem ser visto, 2015, p.124).
mas se constitui numa fonte de demandas A espectralidade que, portanto, escapa a
invisíveis, mas prementes, quando não ines- qualquer síntese intelectual, à ideia da pura
quiváveis. presença e ao mal de arquivo, encontra, na
A espectralidade prevê uma “disjunção escrita, amplos espaços. O texto anuncia, o
da temporalidade, cujos recortes temporais tempo todo, a possibilidade da morte, do
e espaciais se fundem entre as heranças e autoextermínio, sem negar ser abrigo dos
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 163
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
rastros e das fantasmagorias que sempre as artes não discursivas portam sempre dis-
sobrevivem. É nesse sentido que o tema dos cursividade, do mesmo modo que as artes
fantasmas nos permite revisitar o pensa- discursivas portam sempre não‑verbalida-
de: toda a arte, incluindo a arquitectónica, a
mento sobre a escrita com a suspeita de que
escultórica e a pictórica, por natureza mais
o jogo de remessas significantes, que todo rebeldes à palavra e mais muradas no silên-
texto encena, é movimentado pelo encontro cio, está repleta de discursos virtuais (BER-
com espectros. NARDO, 2017, p.62).
O trajeto feito até aqui, originado pela
Derrida admite a invisibilidade em toda
preocupação em esboçar alguns elementos
imagem. As artes nos sugerem o invisível.
centrais da filosofia de Derrida que nos per-
Há um suporte de invisibilidade em todo
mitissem chegar à noção de espectralidade,
visível, defende Derrida em Pensar em não
nos abre, agora, a possibilidade de pensar-
ver. Reforça: se não é visível o que torna a
mos sobre os impulsos da escrita, com ima-
coisa visível, “então uma certa noite vem ca-
gens ou palavras, na literatura e no cinema,
var um abismo na própria apresentação do
como gestação e dispersão de fantasmas,
visível” (DERRIDA, 2012, p.399). É com esse
entre eles, o do próprio Derrida.
traço de invisibilidade que o artista cria. Seu
fazer pressupõe o que Derrida chama de um
Palavras, imagens e
enceguecimento. Há um momento em que
espectralidades o artista que desenha está cego, quando é
Palavras e imagens são equiparáveis, em surpreendido pelo próprio traço, uma “ce-
Derrida, a partir de seus traços de espec- gueira que aflora os demais sentidos”, “que
tralidade. As palavras podem, mesmo, dese- deixa por instantes os conceitos ou pré-con-
nhar imagens. ceitos que formulam o mundo visível para
Pimentel considera que “o texto derri- se entregar ao abismo de uma certa noite”
diano é de uma profusão de reflexos, de pin- (PIMENTEL, 2015, p.183).
turas distendidas em palavras-imagens, de- É assim que o desenhista dá a ver o que
senhos que se assemelham a seus próprios não vê. Ainda quando o desenho é repre-
desenhos de escrita, fotografias que recon- sentativo, o traço escapa ao campo de visão
tam o negativo de sua escrita de imagem” (DERRIDA, 2010, p.52). Memórias de cego: o
(PIMENTEL, 2015, p.184). auto-retrato e outras ruínas é título de uma
A aproximação que a palavra e a imagem exposição feita no Louvre, em 1990-1991,
guardam com a dimensão da espectralidade sob curadoria de Jacques Derrida, em que
justifica a proximidade com que Derrida as inclui desenhos relacionados ao tema da
trata, associando o trabalho de montagem cegueira. Freire destaca do texto derridiano
cinematográfica ao da escrita. Há algo que que a acompanha: “haveria em todo ponto
torna as coisas visíveis, a partir delas, pala- de vista (point de vue) uma espécie de vista
vra e imagens, mas que não é da ordem do nenhuma (point de vue), um invisível consti-
visível, compartilhamento que desestabiliza tuinte de toda visão” (DERRIDA apud FREI-
a classificação das artes entre discursivas e RE, 2012, p.187, grifos da autora).
visuais. Bernardo assim sintetiza essa ideia: Uma escrita sem o apoio da visão se-
Não há arte não espacial, advoga Derrida, ou ria como um desenho de cego: quando se
que não plasme um efeito de espaçamento: escreve sem ver, diz Derrida (2010, p.11),
164 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
“uma mão de cego aventura-se solitária ou do na apreensão visual como possibilidade
dissociada, num espaço mal delimitado” de acesso à verdade dada na presença plena
tateando e inventando um traço que “não de sentido.
se regula pelo que é presentemente visível” Os espectros, no entanto, não estão ape-
(DERRIDA, 2010, p.51). Mallet (2002, p.36- nas nas imagens associadas aos fantásticos,
37), na obra La musique em respect, cita o nos filmes com vampiros e espíritos. Derrida
texto Memórias de cego..., destacando a con- aponta para uma espectralidade que não se
sideração que Derrida faz lembrando Van reduz a isso, expansível do começo ao fim da
Gogh: o artista vai de uma cegueira a outra, imagem cinematográfica. Comentando essa
cego para qualquer modelo, de forma que experiência, Ribeiro (2014, s/p) considera
“desenhar é a ação de se abrir uma passa- que, para Derrida, todo filme é um filme de
gem para atravessar uma parede invisível” fantasmas, sendo a imagem cinematográfica
e fazer o autorretrato é fazer o retrato de portadora de uma “estrutura espectral” que
um homem cego, tendo seu rosto “afunda- possibilita ao espectador a experiência de
do na noite”. Comentando esse ponto cego, algo “estranhamente familiar”.
Freire (2012, p.192) considera que “a im- Ao discutir o tema da espectralidade
possibilidade da visão se apresenta como a derridiana no cinema, Fernanda Bernardo
própria possibilidade da escrita, do traço, destaca a assertiva de Derrida em Spectro-
do registro”. graphies: ser assediado por um fantasma
Bernardo, discutindo a relação de Derri- “é ter a memória do que nunca se viveu no
da com o cinema, destaca que o pensamento presente, ter a memória do que, no fundo,
do cinema é um pensamento da espectrali- nunca teve a forma da presença. O cinema é
dade, que sugere essa proximidade entre “a uma ‘fantomachie’. Deixai os fantasmas re-
cena da escrita e a técnica da rodagem, da gressar” (DERRIDA apud BERNARDO, 2017,
montagem e da imagem cinematográficas” p.55)
(BERNARDO, 2017, p.53). Importante lembrarmos, ainda, com es-
No cinema, Derrida verá a possibilidade ses comentadores de Derrida, as produções
da permanência da virtualidade dos espec- cinematográficas Ghost Dance (McMULLEN
tros para além da finitude do espectador, et al,1 983)4 e Dailleur’s, Derrida (FATHY,
sendo que ela se positiva no tempo para 1999)5. Destacamos, o primeiro, em que
além da sua morte: “tal imagem poderá ser Derrida atua juntamente com Pascale Ogier,
reproduzida na nossa ausência, como já o onde há uma cena6 que ele mesmo destaca
sabemos, estamos já assediados por este em que pergunta a ela se acreditava em fan-
porvir que porta a nossa morte. A nossa de- tasmas, a que ela responde: “sim, agora eu
saparição já está ali” (DERRIDA apud BER- acredito”. Bernardo comenta que essa cena
NARDO, 2017, p.89). será revivida por Derrida quando de uma
Freire (2014, p.64) também nos lembra exposição que é convidado a fazer algum
que “a fenomenologia espectral do cine- tempo depois da gravação do filme, quan-
ma, tal como abordada pela desconstru- 4 Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ção, mostraria um certo ‘não-ver’ na base ch?v=SwkjAuN-_-k . Acesso em 12/09/2020.
de toda visão, isto é, uma certa cegueira em 5 Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=JMQDUrQ6ctM . Acesso em 19/09/2020.
todo ponto de vista”. Isso confronta, de fato, 6 Disponível em: https://www.youtube.com/wat-
o questionável pensamento ocidental foca- ch?v=0nmu3uwqzbI. Acesso em 19/09/2020.
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 165
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
do a parceira já está morta. Nessa ocasião, matéria espectral através da qual pretendia
ele reflete sobre a sobrevivência da virtua- retornar depois de sua morte?
lidade do filme à morte, dela e futuramente No momento em que me movo por es-
dele, e sobre como o fantasma da própria sas inquietações, me recordo da tela A noi-
Ogier se evidenciou quando reviveu a cena: te estrelada (1889) de Vincent Van Gogh.
“pude então experimentar o sentimento Na apresentação da tela no Museu de Arte
perturbante do retorno do seu espectro, o Moderna, lemos que há, nela, um campo de
espectro do seu espectro reaparecendo para energia turbulenta, de onde se destaca um
me dizer, reaparecendo‑me a mim aqui ago- cipreste conectando a terra e o céu, uma ár-
ra: ‘Agora… agora… agora, sim, acredita em vore tradicionalmente associada a cemité-
mim, eu acredito em fantasmas’” (DERRIDA rios e luto. No site do mesmo museu, há uma
apud BERNARDO, 2017, p.87). série de vídeos de teor quase investigativo
É nesse sentido que Freire sintetiza a que especulam as invisibilidades das telas e
fantasmagoria que a imagem cinematográ- da vida de Van Gogh que, um ano depois da
fica inevitavelmente lança no mundo: “o fil- criação de A noite estrelada, suicidou-se. Há,
me, pode sobreviver a suas mortes e mesmo ao que parece, traços de espectralidade que,
se os dois ainda estivessem vivos, estariam como no caso da experiência derridiana em
já a partir dali, transformados em fantasmas Ghost Dance, se duplicam nos fantasmas
(FREIRE, 2014, p.63). O que fica, na imagem, sugeridos pela noite, ainda que iluminada
é algo como um simulacro de vida, um resto pelas estrelas, e no do próprio artista que já
que permanece, um fantasma. Se palavras e não mais testemunha essa permanência que
imagens comungam espectralidades, o que sua obra inaugurou no mundo.
fica da escrita seria também esse resto, essa No vídeo7, enquanto o narrador descre-
fantasmagoria. ve e especula sobre a vida e a obra de Van
Retomo, a este ponto, o olhar de Derrida Gogh, sua voz é embebida em uma atmos-
na tela de Dailleur’s, Derrida. Tudo parece se fera musical, ela mesma, tomada pela noite
passar como se previsse, naquele instante, a e por suas fantasmagorias. Logo no início,
sobrevida do filme à própria morte e à morte após informar os elementos que compõem
dos espectadores. Saberia que de uma exis- a imagem da tela aqui referida, o narrador
tência escriturística restariam fantasmas menciona o fato da tela ter sido pintada em
que frequentariam espaços, acadêmicos ou um hospício, no ano que antecede a morte
não, alastrando-se em múltiplas reescritas? do seu autor, quando a imagem do quadro
é substituída, na película, pela imagem do
Se não uma clara intencionalidade, podería-
artista, meio que espectral, com foco no seu
mos supor um reconhecimento do inevitável
olhar inquisidor e, ao que parece, melancó-
alcance desses espectros do autor que é, que
lico. Para além dessa aproximação tateante
escreve incansavelmente, inclusive em tom
do olhar para a tela, já pressentimos toda
autobiográfico, e de suas buscas por algo
sua marca espectral.
como um “eu” que permanecerá sendo? Ou
Essas palavras-imagens que tecem frag-
a escrita não carrega qualquer intenciona-
mentos biográficos de Derrida e Van Gogh
lidade. Ou o apego de Derrida à escrita tem
a ver com uma imagem-palavra, ainda que 7 Disponível em: https://artsandculture.google.
com/asset/la-nuit-transfigur%C3%A9e/bgEu-
fantasmagórica, que ele não quer ver borra- wDxel93-Pg?childAssetId=zQFQE2liz3GQ0w&hl
da pelos riscos da fala. Não seria, por fim, a =pt-BR
166 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
se recusam a entregar tudo de uma vez por de suas provocações, em uma tentativa de
todas. São silenciadas pelos olhares que conduzi-las a um corpo de conceitos que
já insinuam: não sobreviverei, daqui logo só pudesse ser lido em consonância com
mais, senão como um espectro. algum efeito pragmático. Se não é esse per-
sonagem que se confunde com uma prática
A escrita e demarcação de rastros da referencialidade, é talvez a imprecisão da
Em 1994, Derrida concedeu uma entrevis- espectralidade que deve permear um texto
ta a Betty Milan, de Paris para a Folha, em onde há uma espécie de correspondência
que, por vários momentos, interrompeu a de anseios e pressentimentos, tecido em
fala, alegando não conseguir explanar a con- qualquer escrita não arquivística. O espec-
tento as questões que lhe eram destinadas. tro, em Derrida, é isso que escapa à redução
Momento marcado, obviamente, por algum da síntese teórica e do arquivamento. Voltar
constrangimento e muita dissonância. Não aos espectros pressupõe reconhecer esse
obstante, em uma das suas respostas, falou escape e manter uma “vigilância em relação
de Marx, do espectro de Marx. Esclareceu a certas maneiras que os homens têm na so-
que a obra Espectros de Marx não sugeria ciedade de esquecer, dissimular” (DERRIDA
uma apologia ao retorno das análises mar- apud MILAN, 1994, s/p).
xistas aos nossos tempos, mas o que ficou Segue-se uma entrevista em tom errático
dela como rastro, atemporal. Fantasmas não e parece imperar uma pressão incontorná-
morrem nunca. O que não foi dito sobre o vel sentida pelo entrevistado. As questões
pensamento marxista, o que restou de uma estão escritas nos papéis nas mãos do filó-
apropriação redutora é o que permanece sofo, que as lê, por mais de uma vez, e decla-
como um ruído ao fundo dos discursos teó- ra não ser possível ou viável respondê-las.
ricos e políticos. Uma frase parece resumir seus anseios de
É nesse sentido que afirma não se tratar que aquilo tivesse um fim repentino: “eu es-
de um retorno a Marx, mas de Marx: “ques- crevo tão melhor do que falo...”.
tionar com o espírito de Marx não quer di- Não parece estranho uma frase que, ao
zer reaplicar dogmaticamente a doutrina mesmo tempo em que aponta para o desejo
de Marx, voltar a uma ortodoxia marxista”. de evitar a fala prolixa, reforça o interesse
O retorno a Marx seria como que uma re- pela restituição da legitimidade da lingua-
dução de seus pensamentos àquilo que já gem escrita, minimizada pela prevalência
fora configurado como doutrina marxista, o da fala. Em Gramatologia, como vimos, Der-
que, de alguma forma, significaria, segundo rida cita o fonocentrismo, apontando para
Derrida, “uma maneira de neutralizar Marx, a necessidade de contornar um caráter ins-
de fazer dele um personagem da Academia trumental associado à escrita, distanciada
Filosófica”, de forma que sua leitura do es- do originário e da totalização de sentidos na
pectro marxista pretendia protestar contra fala.
“uma certa desapropriação filosófica de Fala e escrita, visão e audição, dia e noite
Marx” (DERRIDA apud MILAN, 1994, s/p). são oposições binárias que aparecem am-
Nessa sua mesma lógica, será preciso plamente problematizadas nas obras derri-
que Derrida retorne sem ser reduzido a um dianas. Estão conectadas, sendo os primei-
personagem da Academia Filosófica, evi- ros termos – fala, visão e dia – associados à
tando, assim, qualquer redução dos efeitos proximidade do sentido, portanto, à síntese
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 167
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
intelectual, à presença. Escrita, audição e do olhar de Derrida, já nos momentos finais
noite são, por sua vez, colocadas longe da do texto cinematográfico, cujo teor é biográ-
totalidade de sentidos, em uma dimensão fico, um olhar que nos frequenta com a força
de inacessibilidade que desafia as intenções de um espectro. Me pergunto se, nesse mo-
logocêntricas. mento, em que parece ver para além da câ-
Mas, não seria também a escrita, em es- mera, prevendo alguma finitude, reconhece
pecial a biográfica, uma forma de conten- ter-se lançado na aventura biográfica para,
ção da espectralidade? Escrever não seria, simplesmente, gestar seu próprio fantasma,
sempre, demarcar um traço identitário que deixar o rastro pela tessitura da imagem e
poderia não escapar à busca de elucidações das palavras, ou para empreender a busca
e à síntese intelectual? A escrita não seria, por um fantasma identitário.
além de rastro, uma materialidade onde se Não há como evitar inquietações: por
pudesse reduzir os espectros, apagar os fan- que tanto escrever se, de saída, já não há
tasmas? Trata-se de pensar se não teríamos mais que uma perseguição a uma origem
na escrita de Derrida, tão minuciosamente e um traço identitário pressuposto como
detalhada, o suficiente para tentarmos con- inexistentes ou inalcançáveis? Gostaria de
duzi-lo a uma presença ou se, de fato, suas saber se Derrida pôde escapar, com sua es-
palavras-imagens dadas à visibilidade guar- crita, a essa interminável busca de um fan-
dam uma invisibilidade que não pode ser tasma identitário que considerava, de saída,
esgotada. A escrita poderia, na primeira via, inacessível. Nesse sentido, quando Derrida
trair os espectros? questionou a busca de origem no arquiva-
mento, negou a possibilidade de colocar
Trair a espectralidade? qualquer ser na luz da presença, ousou di-
Me pergunto, enquanto penso no fantasma zer, no início de um documentário sobre a
de Derrida, na possibilidade de apagamento própria vida e obra, que todo texto de tom
de fantasmas. Em outros termos, nisso em autobiográfico insinua essa busca pelo fan-
que previu o que escapa à destruição, à pul- tasma identitário, não intencionava dar sua
são da morte no arquivamento, haver uma existência a uma profusão de fantasmago-
força de apagamento, auto extermínio? Ao rias que sobrevivessem à própria morte?
que parece, todas as imagens-palavras que, Em sendo assim, o desejo do fantasma e de
em Dailleur’s..., encaminham para o olhar de reconhecer, inclusive na própria existência,
Derrida, de onde partimos, desenham nega- uma artesania de espetralidades, não seria
ções como resposta. também uma intenção de contorno de uma
Insistamos: importa perguntar se seria existência sem sentido e de uma incontor-
possível traçar uma rota de busca identitá- nável finitude? Em síntese, a pressuposi-
ria, que toda a biografia prevê e que a justi- ção do fantasma não carregaria o indício de
ficativa, como nos lembrou Derrida em Dail- um desejo de ir além, de sobreviver à pró-
leur’s.., procedendo o apagamento de todos pria morte? Talvez sim, mas talvez tornar-
os rastros. Em outros termos, a escrita po- se uma profusão de espectros jamais tenha
deria trair a espectralidade? sido uma intenção de Marx, e tampouco de
Retomemos, partindo das questões ini- Derrida.
ciais, a escrita de um espectro que parece se Já no início de Dailleur’s.., a possibilida-
estender por toda a parte... Estamos diante de de toda escrita é apresentada: a busca
168 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
interminável por um eu. Defende Derrida tralidades. Por fim, haveria possibilidade de
que quem diz poder encontrar algo como apagamento dos fantasmas? Para Derrida,
esse “eu”, já não escreve mais, ou melhor, já os fantasmas persistem e, ainda que se tente
não vive mais. Logo, na sequência, Derrida livrar deles, estão sempre a retornar.
está diante de um grande aquário e comen- Síntese das questões dirigidas a Derrida:
ta a impaciência dos peixes, enquanto a câ- por que falar de si, dar-se à escrita biográfi-
mera se desdobra entre o olhar de uma des- ca, quando já se prevê que ela não carrega-
sas criaturas e o do seu observador. Diz se rá senão espectralidades? O jogo da escrita,
sentir também aprisionado, diante de uma entre a busca de identidade e a insinuação
mirada e, ambos, o humano que é e o não de espectros, parece mais um efeito radica-
humano, fazem a experiência do tempo, de lizador da intenção de povoar a escrita com
formas absolutamente distintas. Assim co- invisibilidades que propriamente de conju-
meça a aparição da espectralidade de Der- rar os fantasmas. Em outros termos, a escri-
rida: partindo do compartilhamento com os ta se constituiria em uma forma de acenar
animais não humanos, passando pelas mar- com a própria existência a busca inglória e
cas do pós-colonialismo e pela violência da interminável de determinações do ser que
tentativa de revelação do secreto, própria esbarra sempre no invisível, não dito, não
dos totalitarismos que forçam a identifica- totalizável, mas que, nem por isso, pode abs-
ção, avançando para a alegoria da circunci- ter-se de deixar marcas, olhares nas telas
são, que denuncia inscrições, como as que que vão inquirir o espectador: “você acredi-
ficam no corpo, chega ao esconderijo do su- ta em fantasmas?”.
blime arquitetado na escrita. Toda escrita, No encadeamento das imagens-palavras
reforça Derrida, é uma forma de resistência em Dailleur’s.., Derrida confessa ter escrito
e suas forças resguardam a possibilidade da muito e ele mesmo se faz a pergunta: por
transgressão. que se escreve tanto? Segue considerando
Nesse momento, em que já enfrenta a ne- que é inevitável se revelar na escrita e que
cessidade do escape das revelações e identi- deve, por isso, pedir perdão, já que não con-
ficações, se encaminha para a impossibilida- segue se defender de uma espécie de pudor
de de escrever um livro sobre as marcas da
de dizer.
circuncisão, que deveria tocar as raízes do
Por que escreves? Parece que você acha que
inconsciente, jamais dadas à plena luz. In-
o que escreve é interessante, [...] o que, de
sistir no intento poderia significar sofrer de uma certa maneira, é absolutamente obsce-
um mal de arquivo. Dessa perspectiva, seria no. O ato de escrever é injustificável desse
impossível também apagar os fantasmas, ponto de vista. Então, pede perdão, como
ainda que fossem ocultados, ignorados e es- alguém que se desnuda e diz “aqui estou,
quecidos. Obliterar não é, necessariamente, olhem” e, naturalmente, pede de imediato
destruir. A escrita tomada por obscurida- perdão: “perdoem-me por me fazer de inte-
ressante” (DERRIDA, 1999, s/p).
des, ainda quando é a escrita de si, sempre
carregará um indeterminado, não revelado, Há também outro motivo para pedir
não identificado, de forma que escrever à desculpas, segundo ele, algo que o inquieta
busca de uma identidade é um movimento sempre, que tem a ver com a marca, a im-
que retroalimenta expectativas, oferecendo, pressão deixada, e com a linguagem: “quan-
a cada nova intenção, um campo de espec- do deixo uma impressão, apago a singulari-
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 169
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
dade dos destinatários”. A escrita poderia multiplicidade de vozes é também o espaço
ferir a identidade do destinatário, sendo, as- aberto aos fantasmas, aos ‘retornates’, ao re-
sim, uma traição, um perjúrio. Ainda assim, torno do que está reprimido, o que está ex-
seria preciso reconhecer que, sem qualquer cluído” (DERRIDA, 1999, s/p). Apagar vozes
marca, impressão, experiência de traição ou é, portanto, uma tirânica tentativa de ocul-
violência, nenhuma existência poderia se tar, conter, silenciar os espectros de todas
movimentar ou se escrever. as vítimas de repressão. Essa ideia conduz
Por que, então, constituir-se em uma a espectralidade a uma questão política e
permanência, para sempre poder retornar Derrida a explicita convocando os humanos
e frequentar as existências de humanos à a uma espécie de autoanálise e à responsa-
cata de sentidos, se a busca de sentidos não bilidade. Nesse sentido, escrever seria uma
permite qualquer resolução? Por que, em forma de ouvir ou dar à escuta a multiplici-
outros termos, Derrida deixou seu rosto, ao dade de vozes, transgredindo a ocultação da
final de uma escrita biográfica, para demar- espectralidade.
car o fantasma em que se constituiria? Tal- Resta, então, perguntar se há fantasmas
vez porque reconhecesse a importância dos sem traços humanos. Para alguém que quis
fantasmas que frequentaram sua própria enxergar os viventes para além da fronteira
existência, sem o que nenhum pulso de vida entre humano e não humano, da oposição
seria possível: do fantasma da perseguição entre bestialidade e soberania, seria pru-
política, mas também de Ogier escutando-o dente perguntar se reconhecer ao humano
por horas e dando vida às invisibilidades uma fantasmagoria não preveria, evitando
que havia pensado – “sim, eu acredito em qualquer especismo, pressupor os espec-
fantasmas” –, de Marx, de Levinas, do ani- tros dos viventes não humanos? Não o fazer
mal – que logo é – e que tanto marcou seu não significaria, mais uma vez, assumir os
pensamento sobre a descentralização do sinais de um antropocentrismo fragilizado
humano. Ou talvez porque precisasse mes- pelas próprias reflexões derridianas? Ou
mo se dar como provocação para além da diríamos que, como há fantasmas de Marx,
própria morte, havendo nisso alguma inten- há também os de todos os viventes que, em
ção, autocentrada ou não. alguma condição espaço-temporal, estive-
Garantir espaço à espectralidade é ali- ram sujeitos a alguma forma de contenção,
mentar as possiblidades de constituição his- justificada nessa mesma lógica antropocên-
tórica. Interessante destacar, nesse ponto, trica? Há, por exemplo, espectros das flores-
duas imagens que aparecem no filme: as se- tas que, a essa altura, gritam errantes, como
pulturas de seus gatos e as ruínas que foram suas fuligens por aí, e que voltarão a nos fre-
cenário da morte violenta de uma mulher, quentar sempre que pressentirmos nossa
materialidades frequentadas por fantasmas. íntima conexão com tudo que é vivo?
Diante das referidas ruínas, discorre sobre Em síntese, trata-se de nos perguntar-
a trama de vozes, em que uma voz habita a mos se Derrida nos deu espectros como ex-
outra (plurivocidade) e a violenta tentativa pansão de uma humanidade, somando mais
de apagamento de uma voz ou de redução uma ilusão a tantas já materializadas em
das vozes a uma só voz (monologia). A re- narrativas autorreferentes, ou uma escrita
dução dessa trama revelaria a estratégica onde os fantasmas, sem nomes, sem feições
tentativa de conjuração dos fantasmas: “a definidas, sem propriedades necessaria-
170 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Andreia A. Marin
mente humanas, podem ser pressentidos, com palavras-imagens cheios de silêncio,
diminuindo assim qualquer grandiloquên- apontando não para si mesmo, mas para um
cia na forma como constituímos imagens de campo de indeterminações onde quer lan-
nós mesmos. çar à deriva seus espectadores-leitores. Per-
A imagem que Derrida tece de si mesmo gunta: “vocês acreditam em fantasmas? Eles
parece já se confundir com seus próprios veem sem serem vistos... Não me olhem...
espectros ao final de Dailleur’s..., quando en- É para lá que devem voltar-se porque toda
frenta a constatação da própria morte por invisibilidade guarda uma possível visibili-
vir. Revela-se como um fantasma que deseja dade...”. E, perdido em suas próprias pressu-
reviver: “meu desejo mais forte seria reco- postas dificuldades com a fala, escreve em
meçar, reviver tudo, o mau e o bom, [...] o so- um ato imagético: “Nós morremos... Eles
frimento e a possibilidade de sublimação”. nunca morrem”.
Não desejaria inventar coisas novas, mas
recomeçar as mesmas coisas, desejo que se Referências
reforçaria na hora da morte: “o que é trági- BERNARDO, F. Derrida e o cinema. Revista Filo-
co na existência, e não só na morte, é que a sófica de Coimbra, n. 51, pp. 51-90, 2017.
significação do que vivemos, e que quando a BIRMAN, J. Arquivo e mal de arquivo: uma leitu-
vida é longa implica muitas coisas, determi- ra de Derrida sobre Freud. Natureza Humana,
na-se mais no último momento, no momen- v.10, n.1, p. 105-128, jan-jun, 2008.
to da morte” (DERRIDA, 1999, s/p). Ao que COELHO, C. C. Gramatologia e Semiologia: o pen-
parece, desejaria poder continuar vivendo samento de Jacques Derrida diante da linguísti-
com os próprios espectros: afirmação da ca de Ferdinand de Saussure. Sapere Aude, v.4,
n.7, p.151-169, 1º sem. 2013.
vida que prevê a morte e a continuidade do
que a partir dela permanece, não como uma DERRIDA, J. Espectros de Marx: o estado da dí-
identidade incapaz de desgarrar-se de um vida, o trabalho do luto e a nova Internacional.
Trad. Anamaria Skinner. Rio de Janeiro: Relume-
si mesmo, mas de uma espectralidade que Dumará, 1994.
se dissemina. É assim que Derrida termina
sua escrita, depois de ter-se aventurado a ___________. Documentário. In: FATHY, S. D’ail-
leurs Derrida (Documentaire). DVD (151
mostrar-se, pedir perdão e, inevitavelmen- min). Paris: Gloria Films/Arte, 1999.
te, continuar: confessa que não teve notícia
___________. Mal de arquivo: uma impressão
na história da humanidade de alguém que freudiana. Trad. Claudia M. Rego, Rio de Janeiro:
tenha sido mais feliz que ele e que, “bêba- Relume-Dumará, 2001.
do de um prazer ininterrupto”, permane-
___________. Memórias de Cego: O auto-retrato
ceu “como o contraexemplo de si mesmo, e outras ruínas. Tradução: Fernanda Bernardo.
constantemente triste, privado, destituído, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010.
decepcionado, impaciente, desesperado...”.
___________. Pensar em não ver – escritos sobre as
Evitando o caminho da exclusão de qual- artes do visível (1979-2004). Org. Ginette Mi-
quer dessas certezas, arrisca a afirmação: chaud; Joana Masó; Javier Bassas. Trad. Marcelo
“Eu assino!” (DERRIDA, 1999, s/p). Uma es- Jacques de Moraes. Florianópolis: UFSC, 2012.
crita que se assina, com cada rabisco, cada ___________. Gramatologia. Trad. Miriam Chnai-
marca de seus fantasmas. derman e Renato Janine. São Paulo: Perspectiva,
Reencontro Derrida e me sinto inclina- 2017.
da a pensar que ele acena, com um olhar ou DIAS, F. L. Espectros de Derrida na ficção bra-
Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020 171
Palavras-imagens, escrita biográfica e os fantasmas de Derrida
sileira contemporânea: 1964 e seus fantasmas estudos sobre a escrita. Delta, v.13, n.2, pp. 291-
consistentes nas obras A resistência, de Julián 313, Aug.1997.
Fuks, e Lavoura arcaica, de Raduan Nassar. Ca-
dernos literários, n.2, v.1, p. 41-51, 2017. PAZ, R. G. Pensar as demandas: implicações éti-
co-estéticas da espectrologia de Jacques Der-
FATHY, S. D’ailleurs Derrida (Documentaire). rida nas teorias da narrativa. In: Anais da XV
DVD (151 min). Paris: Gloria Films/Arte, 1999. Abralic – Experiências literárias, textualidades
Disponível em: https://www.youtube.com/wat- contemporâneas, pp.2763-2774. Rio de Janeiro:
ch?v=JMQDUrQ6ctM . Acesso em 19/09/2020. UERJ, 2017.
FREIRE, M. C. Por amor ao traço: uma leitura de PIMENTEL, D. A. Resenha de pensar em não ver.
“Memórias de cego”. Revista Ítaca, v.19, pp.186- Alea, Rio de Janeiro, vol.17/1, p. 181-186, jan-
194, 2012. jun 2015.
____________. “O retorno dos fantasmas: arriscar PINTO Neto, M. A estranha instituição da litera-
um pensamento desconstrutivo do cinema”. In tura no multiverso dos espectros. Alea, Rio de
Atas do III Encontro Anual da AIM, editado Janeiro, v.17, n.1, pp.114-126, jan-jun 2015.
por Paulo Cunha e Sérgio Dias Branco, 58-65.
Coimbra: AIM, 2014. RIBEIRO, M. Derrida na Cahiers du Cinéma: “O
cinema e seus fantasmas”. Entre Imagens, n.17,
MALLET, Marie-Louise. La musique en res- dez.2014. Disponível em https://www.inciner-
pect. Paris: Galilée, 2002. rante.com/textos/jacques-derrida-e-os-fantas-
mas-do-cinema. Acesso em 25/09/2020.
McMULLEN, K.; MELLINGER, L.; OGIER, P. Ghost
dance. 1983. Disponível em: https://www.you- SAUSSURE, F. Curso de linguística geral. Trad.
tube.com/watch?v=JMQDUrQ6ctM. Acesso em Antônio Chelini, José P. Paes e Izidoro Blikstein.
12/09/2020. 27ªed., São Paulo: Cultrix, 2006.
MILAN, B. Derrida caça os fantasmas de Marx. SANTOS, A. C. Derrida e a Linguística Estrutural:
Entrevista: Especial para a Folha, de Paris. São uma leitura do capítulo 1 de Gramatologia. Es-
Paulo: Folha de São Paulo, 26 de junho de 1994. tudos Linguísticos, v.47, n.2, p. 474-484, 2018.
MORAES, M. A crítica de Derrida ao etnocentris-
mo não declarado de Lévi-Strauss. Ensaios Fi-
losóficos, v.VII, pp. 137-155, Abr. 2013.
Recebido em: 15/10/2020
MOTA, S.B.V. A Gramatologia, uma ruptura nos Aprovado em: 28/11/2020
Esta obra está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional.
172 Revista Tabuleiro de Letras, v. 14, n. 02, p. 155-172, jul./dez. 2020
Você também pode gostar
- Tfo-Rpi01 - Relatório de Inspeção de PinturaDocumento1 páginaTfo-Rpi01 - Relatório de Inspeção de PinturaDaniel Fernandes75% (8)
- Gastronomia SaloiaDocumento2 páginasGastronomia SaloiaAndré MagalhãesAinda não há avaliações
- Revista Canguru MatemáticaDocumento142 páginasRevista Canguru MatemáticaJoyce Furlan80% (5)
- Técnicas de Desmontagem e Montagem de EquipamentosDocumento74 páginasTécnicas de Desmontagem e Montagem de EquipamentosCosta Vagner100% (1)
- Desenho Universal: Caminhos Da Acessibilidade No BrasilDocumento3 páginasDesenho Universal: Caminhos Da Acessibilidade No BrasilMaurício Silveira0% (1)
- Livro de Ética Profissional PDFDocumento132 páginasLivro de Ética Profissional PDFJacquelane Souza100% (4)
- SANTAELLA, L. Cap 3 e 4 Do Assinatura Das CoisasDocumento29 páginasSANTAELLA, L. Cap 3 e 4 Do Assinatura Das CoisasThiago GranaiAinda não há avaliações
- QUEIROZ, João. Semiose Segundo PeirceDocumento209 páginasQUEIROZ, João. Semiose Segundo PeirceThiago GranaiAinda não há avaliações
- Dor de ExistirDocumento12 páginasDor de ExistirThiago GranaiAinda não há avaliações
- Frédéric Gros - Caminhar, Uma Filosofia-Ubu Editora (2021)Documento116 páginasFrédéric Gros - Caminhar, Uma Filosofia-Ubu Editora (2021)Thiago Granai100% (1)
- A Contruibuicao Do Pensamento de Maturana para A EducacaoDocumento17 páginasA Contruibuicao Do Pensamento de Maturana para A EducacaoThiago GranaiAinda não há avaliações
- Cimentação PrimáriaDocumento32 páginasCimentação PrimáriaVlaudemir Barbosa da RochaAinda não há avaliações
- Ifu Fabius Mri SW 3n 9039062Documento240 páginasIfu Fabius Mri SW 3n 9039062Geovanna MikaellaAinda não há avaliações
- Guia Educando - Resumão Da Matemática 1 - 17,08,2020Documento36 páginasGuia Educando - Resumão Da Matemática 1 - 17,08,2020MATHEUS MACEDOAinda não há avaliações
- Minissimulado - Ocupação Pré-Colonial Do Atual Estado de PernambucoDocumento5 páginasMinissimulado - Ocupação Pré-Colonial Do Atual Estado de PernambucoTarcio AndréAinda não há avaliações
- PsicodramaDocumento14 páginasPsicodramaAline Nabono Duboviski100% (2)
- PLANODocumento10 páginasPLANOGraziinha FerreiraAinda não há avaliações
- Introdução Aos Direitos HumanosDocumento4 páginasIntrodução Aos Direitos HumanosYuri SilvaAinda não há avaliações
- Reflexao CriticaDocumento4 páginasReflexao Criticarosalina rosiAinda não há avaliações
- ICA 100-30 - PLANEJAMENTO DE PESSOAL ATC - 2008 (Com M1 de 03JUL08)Documento43 páginasICA 100-30 - PLANEJAMENTO DE PESSOAL ATC - 2008 (Com M1 de 03JUL08)kassilva62Ainda não há avaliações
- Apos Defeito Areia VerdeDocumento31 páginasApos Defeito Areia VerdeLink ZeldaAinda não há avaliações
- Cap1 - Princípios Físicos GeraisDocumento76 páginasCap1 - Princípios Físicos GeraisHottonAinda não há avaliações
- Trabalho Da LeticiaDocumento11 páginasTrabalho Da LeticialeticiapimenteljennerAinda não há avaliações
- PlemaDocumento2 páginasPlemaanacrisnu100% (1)
- Aula 01 - Introdução Ao Campo Da Psicologia Do DesenvolvimentoDocumento12 páginasAula 01 - Introdução Ao Campo Da Psicologia Do DesenvolvimentoIsabella SouzaAinda não há avaliações
- Formulário Follow-Up Cliente 2016 para UsoDocumento3 páginasFormulário Follow-Up Cliente 2016 para UsokauanesckAinda não há avaliações
- A6 - 7o ANO - AVALIAÇÃO DE MATEMATICA - 3oBIMDocumento4 páginasA6 - 7o ANO - AVALIAÇÃO DE MATEMATICA - 3oBIMReginaldo CamposAinda não há avaliações
- Avaliação de HistóriaDocumento3 páginasAvaliação de Históriabia camposAinda não há avaliações
- As Frases Mais Escolhidas de PessoaDocumento1 páginaAs Frases Mais Escolhidas de PessoamjserucaAinda não há avaliações
- Frase de SócratesDocumento3 páginasFrase de SócratesfpmaAinda não há avaliações
- As Novidades No Tratamento Da AnsiedadeDocumento7 páginasAs Novidades No Tratamento Da AnsiedadeArmando Ribeiro100% (3)
- Mulheres - Atrizes Dos Movimentos Sociais: Relações Político-Culturais e Debate Teórico No Processo DemocráticoDocumento30 páginasMulheres - Atrizes Dos Movimentos Sociais: Relações Político-Culturais e Debate Teórico No Processo DemocráticoJoselito SilvaAinda não há avaliações
- Trabalho de EletricidadeDocumento33 páginasTrabalho de EletricidadeseriusalmeidaAinda não há avaliações
- Artigo - Os Efeitos Dos Vazios Urbanos No Custo de Urbanização Da Cidade de Palmas-TODocumento25 páginasArtigo - Os Efeitos Dos Vazios Urbanos No Custo de Urbanização Da Cidade de Palmas-TOJoão BazolliAinda não há avaliações
- Fundamentos de Geometria II Aula 1Documento3 páginasFundamentos de Geometria II Aula 1Walter SantosAinda não há avaliações