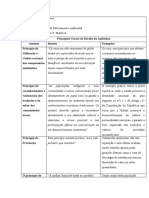Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)
SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)
Enviado por
Rodrigo CasteloTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)
SANTOS Josiane Particularidades Da Questao Social No Brasil (Temas & Matizes 2010)
Enviado por
Rodrigo CasteloDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
125
PARTICULARIDADES DA “QUESTÃO SOCIAL” NO BRASIL:
Elementos para o debate
Josiane Soares Santos
RESUMO: O presente texto tem o objetivo de apresentar alguns elementos para o debate das
particularidades da “questão social” no Brasil. Sua necessidade advém da compreensão de que é
preciso adensar o debate conceitual sobre a “questão social” saturando-o de mediações referentes às
formações sociais específicas. A partir da análise do desemprego, como uma de suas expressões,
busco identificar as modalidades de exploração da força de trabalho dominantes na constituição do
capitalismo brasileiro. Ao considerá-las de modo central uma das principais conclusões extraídas do
texto é de que a flexibilidade e precariedade das ocupações no mercado de trabalho brasileiro são
marcas históricas da “questão social”; isso significa dizer que não se pode tributá-las ao atual padrão
de acumulação flexível, advindo com a crise capitalista contemporânea. As conclusões apresentadas
foram resultantes da pesquisa teórica realizada para elaboração da minha tese de doutoramento.
Palavras-chave: Mercado de trabalho; Formação social; Desemprego.
ABSTRACT: This paper aims to present some of the elements for discussion of the peculiarities of the
"social issues" in Brazil. Their need arises from the understanding that we must enrich the conceptual
debate on the "social issues" saturating the mediation relating to specific social formations. From the
analysis of unemployment as one of its expressions, I try to identify the terms of exploitation of
workforce modalities prevailing in the constitution of Brazilian capitalism. Considering these
modalities as a central point, one of the main conclusions of the paper is that the flexibility and
precariousness of jobs in the Brazilian labor market are historical marks of the "social issue" in Brazil.
It means that we can not attribute them to the current standard of flexible accumulation, arising from
the crisis of contemporary capitalist. The conclusions presented were the result of theoretical research
carried out for preparation of my doctoral thesis.
KEY WORDS: Labor market; Social formation; Unemployment.
1. Introdução: o debate do Serviço Social como ponto de partida
Este trabalho pretende expor, de um modo panorâmico (dados os limites de sua
apresentação), alguns dos aspectos mais significativos da tese de doutorado de
minha autoria, cujo objeto tem sua centralidade dada pela “questão social”
(SANTOS, 2008). A partir do diálogo inaugurado por Iamamoto (1995) com a obra
marxiana em “Relações Sociais e Serviço Social no Brasil”, a discussão sobre os
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
126
fundamentos dessa profissão passa a ter em conta a mediação da “questão social”
como razão de ser das políticas sociais públicas e privadas no contexto do
capitalismo monopolista. Estas, por sua vez, constituem parte significativa do que
viria a ser o mercado de trabalho, não só de assistente sociais, mas também de
outras especialidades do trabalho coletivo, demarcando claramente a fronteira entre
práticas sociais de filantropia (as chamadas protoformas do Serviço Social) e a força
de trabalho assalariada que se institucionaliza nos anos 1940.
No que diz respeito à “questão social”, sua conhecida definição, da autoria de
Cerqueira Filho (1982), é significativamente redimensionada ganhando em
densidade e determinações, posto que matizada pelas categorias centrais à análise
marxiana – especialmente as que comparecem na lei geral da acumulação – d´O
Capital. Nesta concepção, a gênese da “questão social” é explicada pelo processo de
acumulação ou reprodução ampliada do capital: a incorporação pelos capitalistas
das inovações tecnológicas, tendo em vista o aumento da produtividade do trabalho
social e diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário à produção de
mercadorias, produz um movimento simultâneo de aumento do capital constante e
diminuição do capital variável, empregado na força de trabalho (MARX, 2001).
Com isso, o decréscimo relativo de capital variável aparece inversamente como
crescimento absoluto da população trabalhadora, mais rápido que os meios
de ocupação. Assim, o processo de acumulação produz uma população
relativamente supérflua e subsidiária às [suas] necessidades. [...] [O aumento
da extração da mais valia relativa e absoluta] faz com que o trabalho
excedente dos segmentos ocupados condene à ociosidade socialmente forçada
amplos contingentes de trabalhadores aptos ao trabalho e impedidos de
trabalhar [...]. Cresce, pois uma superpopulação relativa para esse padrão de
desenvolvimento: não são os “inúteis para o mundo”, a que se refere Castel,
mas os supérfluos para o capital, acirrando a concorrência entre os
trabalhadores – a oferta e a procura – com evidente interferência na regulação
dos salários. [...] parcela da população trabalhadora cresce sempre mais
rapidamente do que a necessidade de seu emprego para os fins de valorização
do capital [...]. Gera, assim uma acumulação da miséria relativa à
acumulação do capital, encontrando-se aí a raiz da produção/reprodução da
questão social na sociedade capitalista (IAMAMOTO, 2001 p.14-15).
Uma vez colocadas no debate, essas premissas passam a ser incorporadas
dos mais diversos modos pela cultura profissional, fortalecendo o processo de
ruptura com o Serviço Social Tradicional. As ponderações que tenho a levantar
sobre o observado nas leituras do material que debate a “questão social” no interior
do Serviço Social dizem respeito a aspectos ainda insuficientemente abordados.
Para tanto, retomo, uma vez mais, o ponto de partida da introdução a esse debate
no Serviço Social que se dá quando Iamamoto (In: IAMAMOTO & CARVALHO,1995)
afirma que
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
127
o surgimento e desenvolvimento [do Serviço Social] são vistos a partir do
prisma da “questão social” [...] [entendida como] as expressões do processo
de formação e desenvolvimento da classe operária e seu ingresso no
cenário político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe
por parte do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros
tipos de intervenção, mais além da caridade e repressão (p.19 &77).
Com essa reflexão, considero que o marco teórico-conceitual do debate sob o
prisma do marxismo estava consideravelmente estabelecido. É fato reconhecido que
a análise marxiana do capitalismo, em especial, da lei geral da acumulação, apesar
de não tratar diretamente da “questão social”, “revela a [sua] anatomia [...], sua
complexidade, seu caráter de corolário (necessário) do desenvolvimento capitalista
em todos os seus estágios” (NETTO, 2001, p. 45) e isso já aparecia articulado nas
análises de Iamamoto (1995 e 2001). Obviamente que essa introdução bem
sucedida não exime a necessidade de maiores desdobramentos teórico-conceituais,
até porque o ponto de vista do marxismo não é o único que se coloca no debate
profissional contemporâneo.
O que pretendo salientar com a afirmação de que esse marco inicial é já
suficientemente denso do ponto de vista teórico-conceitual é que, após o longo
intervalo existente entre essa reflexão e o “boom bibliográfico” sobre a “questão
social” no Serviço Social, que data dos primeiros anos do séc. XXI, são registradas
poucas inovações nas publicações. Percebo assim que, de um modo geral, a análise
da produção bibliográfica sobre a “questão social” no Serviço Social apresenta
poucos aprofundamentos em relação ao marco inicial do debate supracitado. Isto
significa dizer do tanto de tinta já gasto para afirmar mais do mesmo: a “questão
social” é expressão das relações de exploração do trabalho pelo capital.
Sem desprezar a importância desse enfrentamento de natureza teórica num
momento em que as ciências sociais questionam veementemente a centralidade – e
mesmo a validade – de categorias como “trabalho”, gostaria de chamar a atenção
para a sua insuficiência, que corresponde, a meu ver, à insuficiente centralidade
conferida às mediações do nível histórico-concreto. Tanto assim que Iamamoto
desde o ano de 2006, em suas palestras e em sua última publicação (2007), vem
insistentemente levantando preocupações e fomentando análises que têm como foco
as particularidades da formação social brasileira, articuladas à necessidade de um
adensamento do debate em torno da “questão social”.
Isso não deve levar a crer, em hipótese alguma, que os textos em questão não
tratem o debate da “questão social” na perspectiva da historicidade ou que padeçam
de falta de contextualização. Significa, sim, dizer que os textos de maior circulação
nacional entre os assistentes sociais caracterizam-se pela intencionalidade focada
na contraposição às concepções, geralmente de Castel e Rosanvallon, no plano do
embate teórico. Falta-lhes saturar a concepção afirmada com as mediações
históricas determinantes das expressões da “questão social”. Dito de outro modo:
falta conferir centralidade ao plano histórico, ontologicamente fundante da
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
128
concepção afirmada que, por estar referida especialmente à sociedade brasileira,
requer a abordagem das particularidades estruturantes dessa formação social.
Trata-se, portanto, de uma preocupação com o lugar destinado às mediações
histórico-concretas que embora presentes, não são o foco do debate travado que se
dá, predominantemente, no plano teórico-conceitual. Assim sendo, ao extrapolar o
debate teórico, as referências que se encontram às expressões da “questão social”
quase sempre se fazem acompanhar de um incômodo “etc.” denotando não apenas
a complexidade dos fenômenos constitutivos da “questão social”, mas, também, do
meu ponto de vista, a generalidade do seu nível de apreensão.
Isso aponta uma lacuna investigativa no que toca à incorporação das
particularidades do capitalismo brasileiro enquanto fatores essenciais à
compreensão das expressões da “questão social”. Ou seja, identifica-se, nesse
ponto, uma ausência de incorporação das investigações sobre a formação social
brasileira para pensar as particularidades da “questão social” no Brasil. Segundo
Marx (1996, p.35)
[...] indivíduos determinados, que como produtores atuam de um modo
também determinado, estabelecem entre si relações sociais e políticas
determinadas. É preciso que, em cada caso particular, a observação
empírica coloque necessariamente em relevo – empiricamente e sem
qualquer especulação ou mistificação – a conexão entre a estrutura social
e política e a produção.
Entendo que Marx, citado acima, está chamando atenção para a dimensão
histórico-concreta do modo de produção, portanto, para o nível da “formação
social”1 e colocando em questão as mediações que impossibilitam a existência da
categoria “modo de produção” num “estado puro”. Tomando essa indicação e
observando o debate teórico acerca da “questão social”, sob o ângulo do marxismo,
vê-se que o marco referencial é dado apenas por categorias do modo de produção
(capital e trabalho). Isso coloca o debate num nível genérico evidenciando o desafio
de ultrapassá-lo apanhando as mediações sócio-históricas próprias ao nível da
formação social, para além das suas determinações em termos do modo de
produção capitalista – como o são as categorias centrais do debate já instaurado
sobre a “questão social”.
Dizendo de outro modo: para explicar a “questão social” no Brasil não basta
identificar as categorias centrais ao modo de produção capitalista, que compõem o
nível da universalidade; há que acrescentar a esse nível a singularidade dos
1 “[...] a análise histórica demonstra que, nas sociedades que sucederam à comunidade primitiva,
havendo sempre um modo de produção dominante, ele subordina formas remanescentes de modos já
substituídos, formas que se apresentam como vestígios mais ou menos fortes do passado – podendo
mesmo, em certos casos, ocorrer a combinação de formas de mais de um modo de produção numa
sociedade determinada. Por isso, emprega-se a expressão formação econômico-social (ou,
simplesmente, formação social) para designar a estrutura econômico-social específica de uma
sociedade determinada, em que um modo de produção dominante pode coexistir com formas
precedentes (e mesmo, com formas que prenunciam elementos a se desenvolverem posteriormente)”
(NETTO & BRAZ, 2006, p. 62-63).
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
129
componentes desta sociedade enquanto formação social concreta, para que se
tenha condições de dimensionar suas particularidades enquanto mediações
centrais das expressões da “questão social”.
Quanto à importância dessa premissa, sem dúvida há acordo entre vários
autores do Serviço Social. Netto (2001), por exemplo, aponta que
[...] o problema teórico consiste em determinar concretamente a relação entre
as expressões emergentes e as modalidades imperantes de exploração.
Esta determinação, se não pode desconsiderar a forma contemporânea da
“lei geral da acumulação capitalista”, precisa levar em conta a complexa
totalidade dos sistemas de mediações em que ela se realiza. Sistemas nos
quais, mesmo dado o caráter universal e mundializado daquela “lei geral”,
objetivam-se particularidades culturais, geo-políticas e nacionais que,
igualmente, requerem determinação concreta. [...] Em poucas palavras: a
caracterização da “questão social”, em suas manifestações já conhecidas e
em suas expressões novas, tem de considerar as particularidades
histórico-culturais e nacionais (p. 48-49 – grifos meus).
Apesar de aparecer como um grande consenso entre os autores da
perspectiva marxista, a incorporação dessas particularidades se mostra, até o
momento, insuficiente porque “ofuscada” pela polêmica de cunho teórico o que, na
minha avaliação, responde por boa parte da já assinalada “estagnação” do debate
da “questão social” no nível conceitual. No interior do conceito “questão social”
estão agrupados vários processos sócio-históricos reais que precisam ser
investigados em suas “múltiplas determinações”. Daí a insuficiência de remetê-los
somente ao modo de produção e suas categorias fundamentais sem particularizar o
nível da formação social, como tem predominantemente ocorrido até aqui.
Assim é que as particularidades do capitalismo brasileiro e das expressões da
“questão social” me parecem os principais desafios à pesquisa deste tema na
atualidade. De posse desses elementos ficará facilmente evidenciada a inadequação
do debate teórico da “questão social” travado a partir de concepções como a de
Castel (1998) e Rosanvallon (1998). Refiro-me, obviamente, à funcionalidade
conservadora dessas concepções, como o têm tratado de demonstrar as produções
no campo do Serviço Social, mas não apenas a ela. Refiro-me ao fato de que adotar
essas concepções significa, sobretudo, ignorar as particularidades do capitalismo
brasileiro e como tais particularidades determinam a “questão social” no país.
A título de exemplo, cito a discussão travada em Castel (Idem) sobre as
formas de solidariedade na “sociedade salarial”. Esta discussão supõe um contexto
de desenvolvimento do fordismo clássico, com seus padrões de negociação coletiva e
ganhos de produtividade para a classe trabalhadora, padrão esse que não chegou a
constituir-se enquanto realidade das relações entre capital e trabalho no Brasil.
Fica flagrante assim a inadequação do trato conferido à “questão social” que tenha
por base essa bibliografia, realidade recorrente nos cursos de graduação em Serviço
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
130
Social do país inteiro2, dada a ausência de fontes que particularizem esse debate no
nível da formação social brasileira.
Foi partindo dessa dificuldade e conhecendo-a bem, devido à minha inserção
no campo do ensino de Serviço Social, que me propus a contribuir com o debate na
direção de uma aproximação mais concreta às mediações históricas da “questão
social”. Essa aproximação teve em conta a premissa da insuficiência da categoria
“modo de produção”, que precisa ser acompanhada da categoria “formação social”,
a fim de alcançar as particularidades da “questão social”, ultrapassando a
“generalidade” predominante no debate teórico travado até aqui no campo do
Serviço Social sobre o tema.
O exposto a seguir pretende oferecer, obviamente sem qualquer pretensão
exaustiva, alguns dos elementos para o debate dessas particularidades baseado na
análise do desemprego como expressão da “questão social” no Brasil. Ao considerar
a centralidade do trabalho como elemento fundante da sociabilidade, o desemprego
me pareceu a expressão da “questão social” que mais fecundamente poderia
elucidar suas particularidades. Nele, e mais precisamente em suas causalidades, se
mostram algumas mediações essenciais à apreensão de tais particularidades, entre
as quais destaco, seguindo as sugestões de Netto (2001), as modalidades de
exploração da força de trabalho dominantes na constituição do capitalismo
brasileiro.
Assim é que me proponho a enfatizar dois aspectos da tese que terão
necessariamente, por suposto, uma série de elementos presentes no texto original.
Trata-se de elencar o que considerei como particularidades da formação social
brasileira e, na sequência, como tais particularidades determinam a “questão
social” no Brasil, com foco no desemprego, como elementos para o debate.
2. Particularidades constitutivas do capitalismo na formação social brasileira:
elementos determinantes das particularidades da “questão social”
Para permanecer fiel ao propósito anunciado, a abordagem das particularidades da
“questão social” aqui exploradas serão precedidas pela exposição de seus elementos
fundantes: as particularidades do capitalismo brasileiro. Considero, portanto, que é
preciso iniciar essa seção explicitando o óbvio: existem diferentes angulações para
2 A recente avaliação da ABEPSS sobre a implementação das Diretrizes Curriculares (2008), coloca, em
relação ao eixo da “questão social”, que uma das dificuldades centrais tem sido a ausência de
bibliografia que possibilite uma discussão acerca das expressões da “questão social” no Brasil.
Registra-se que os textos utilizados pelos docentes nos programas de disciplinas trabalham, no mais
das vezes, a questão conceitual, ou seja, as diferentes concepções acerca do que seria a “questão
social”, normalmente por meio da afirmação e/ou contraposição aos textos de Castel e Rosanvallon.
Ficam ausentes do ensino – nas diferentes disciplinas pelas quais perpassa o eixo da “questão social” –
as suas expressões, fundamentalmente as relacionadas com a particularidade da sociedade brasileira
e das regiões e estados onde estão inseridos os cursos de graduação. Assim é que a escassez
bibliográfica a respeito dessa temática na direção supramencionada é hoje um indicativo de que é
preciso adensar esse campo de investigações.
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
131
realizar essa exposição e, assim sendo, preciso demarcar de que forma pretendo
fazê-lo.
Meu ponto de partida são as hipóteses sugeridas por Netto (1996) e
enriquecidas no diálogo com vários autores como Florestan Fernandes, Werneck
Sodré, Caio Prado Jr., João Manuel Cardoso de Mello, entre outros. Três ordens de
fenômenos caracterizam, nessa hipótese, as particularidades históricas da formação
do Brasil moderno. A primeira delas é o caráter conservador da modernização
capitalista no Brasil.
Na formação social brasileira, um dos traços típicos do desenvolvimento
capitalista consistiu precisamente em que se deu sem realizar as
transformações estruturais que, noutras formações (v.g., as experiências
euro-ocidentais), constituíram as suas pré-condições. No Brasil, o
desenvolvimento capitalista não se operou contra o “atraso”, mas
mediante a sua contínua reposição em patamares mais complexos,
funcionais e integrados (NETTO, 1996, p. 18 – grifos em negrito meus).
Nessa direção é perceptível, na constituição do capitalismo no Brasil, a
manutenção de características vão se refuncionalizando ao invés de serem
superadas pelo processo de modernização capitalista. O latifúndio, por exemplo,
tendo sua origem datada nos marcos do Brasil Colônia, é uma desses caracteres
“renovados” no interior da dinâmica capitalista brasileira e possui grande
centralidade como determinante da “questão social” no país. O mesmo apresenta
grande complementariedade econômica quando analisado sob a ótica da
reprodução ampliada do capital – especialmente após o advento do imperialismo e
da manutenção do “desenvolvimento desigual”3 – para a maximizar a taxa de lucros
dos países capitalistas centrais4.
A dominância do modelo agro-exportador resulta da conjugação de uma série
de fatores de produção a baixo custo, especialmente a força de trabalho, que
possibilitavam a produção de matérias-primas relativamente baratas. Assim, esses
produtos podiam ser vendidos no mercado internacional por preços satisfatórios
para quem as produzia e também para seus compradores – no caso, os países
capitalistas centrais que tinham nesse mecanismo de acesso a matérias-prima um
dos fatores que proporcionava a elevação das taxas de lucro. Na medida em que
3 Sodré (1990, p. 09) considera esse desenvolvimento desigual entre o caso brasileiro e os parâmetros
“clássicos” de formação do capitalismo enquanto heterocronia. Entende o autor que o desenvolvimento
desigual, produz diferenças consideráveis entre o universal e o particular “que [precisam ser levadas]
em consideração, a todo momento, na discussão dos problemas históricos. Ela permanece, ao longo
dos tempos, sob formas diversas”.
4 “[...] ocorreu um deslocamento econômico das „fronteiras naturais‟ daquelas sociedades: as nações
periféricas, como fonte de matérias-primas essenciais ao desenvolvimento econômico sob o capitalismo
monopolista, viram-se, extensa e profundamente, incorporadas à estrutura, ao funcionamento e ao
crescimento das economias centrais como um todo. [...] Aquelas passaram a competir fortemente entre
si pelo controle da expansão induzida destas economias, gerando o que se poderia descrever, com
propriedade, como a segunda partilha do mundo” (FERNANDES, 2006, p.296).
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
132
essa complementariedade era lucrativa para as classes produtoras de ambas as
partes, formava um “complexo integrado” marcado por uma
[...] aliança social e política a longo prazo entre imperialismo e as
oligarquias locais, que congelou as relações pré-capitalistas de produção
no campo. Esse fato limitou de forma decisiva a extensão do “mercado
interno”, e assim novamente tolheu a industrialização cumulativa do país,
ou dirigiu para canais não industriais os processos de acumulação
primitiva que, apesar de tudo, se manifestaram (MANDEL, 1985, p. 37).
Nessa direção, considero de extrema valia a conceituação do capitalismo
brasileiro como capitalismo retardatário (CARDOSO DE MELLO, 1994). Ela
permite chamar a atenção para a característica gênese do capitalismo brasileiro
comum a outros países latino-americanos onde não basta
[...] admitir que a industrialização latino-americana é capitalista. É
necessário, também, convir que a industrialização capitalista na América
Latina é específica e que sua especificidade está duplamente determinada:
por seu ponto de partida, as economias exportadoras capitalistas
nacionais, e por seu momento, o momento em que o capitalismo
monopolista se torna dominante em escala mundial, isto é, em que a
economia mundial capitalista já está constituída. É a esta industrialização
capitalista que chamamos retardatária (CARDOSO DE MELLO, 1994, p.98).
Isso teve as maiores consequências enquanto determinante da força
adquirida pelo mito de “país de vocação agrária” e a entronização da estrutura
fundiária concentrada. Na medida em que o estágio de desenvolvimento do
capitalismo mundial impunha uma elevação dos graus de monopolização da
tecnologia, ficava cada vez mais distante do Brasil a possibilidade de montar um
esquema de acumulação capitalista endógeno até os anos de 1950. Isso porque,
mesmo havendo capital acumulado disponível para investimento industrial, houve
um “bloqueio da industrialização”, nos termos de Cardoso de Mello (Idem), que a
manteve “restringida”5. A explicação disto está no fato de que a constituição de
forças produtivas especificamente capitalistas6 tinha como pré-requisito para um
5 “[...] o padrão de acumulação do período de transição [não se manteve] intocado desde 1889 até
1950. Sua ruptura efetiva começa a configurar-se em 1933/37, quando, passada a crise de 1930,
tanto a acumulação industrial-urbana quanto a renda fiscal do governo se desvincularam da
acumulação cafeeira, e daí em diante submetem-na aos destinos e interesses do desenvolvimento
urbano-industrial. [...] A esse período, que vai de 1933 a 1955, [...] convencionamos denominar,
provisoriamente, de industrialização restringida” (TAVARES, 1998, p.128 &131).
6 “Penso que o conceito de forças produtivas capitalistas prende-se a um tipo de desenvolvimento das
forças produtivas cuja natureza e ritmo estão determinados por um certo processo de acumulação de
capital. Isto é, aquele conceito só encontra sua razão de ser na medida em que se defina a partir de
uma dinâmica da acumulação especificamente capitalista, que vai muito além do aumento do
excedente por trabalhador derivado da introdução do progresso técnico. Deste ponto de vista,
pensamos em constituição de forças produtivas capitalistas em termos de processo de criação das
bases materiais do capitalismo. Quer dizer, em termos da constituição de um departamento de
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
133
esquema de acumulação endógeno, a montagem de um setor de bens de produção,
assentado em capitais nacionais, com função de alimentar a demanda industrial.
Esse era justamente o “foco” da rentabilidade dos países de capitalismo maduro
nesse momento do imperialismo: a manutenção de áreas para exportação de
capitais7. Assim sendo, era restrito o leque de “opções” industriais do Brasil dado
que
[...] a tecnologia da indústria pesada, além de extremamente complexa,
não estava disponível no mercado, num momento em que toda sorte de
restrições se estabelecem num mundo que assiste a uma furiosa
concorrência, entre poderosos capitalismos nacionais.
Bem outro era o panorama da indústria de bens de consumo corrente,
especialmente da indústria têxtil: tecnologia relativamente simples, mais
ou menos estabilizada, de fácil manejo e inteiramente contida nos
equipamentos disponíveis no mercado internacional; tamanho da planta
mínima e volume do investimento inicial inteiramente acessíveis à
economia brasileira de então (CARDOSO DE MELLO, 1994, p. 103).
Por mais que o desenvolvimento capitalista posteriormente operado no país
tenha possibilitado o ingresso na fase da industrialização pesada, o mesmo não
implicou qualquer alteração significativa em relação à estrutura fundiária8. Seus
impactos podem ser observados na transformação na base produtiva da agricultura
brasileira, pautada por processos de modernização que, incentivados pelos fortes
mecanismos creditícios públicos, disponíveis aos grandes proprietários,
consolidaram, com base no latifúndio, as chamadas agroindústrias. Isso significa
dizer que “os produtos agrícolas exportados passam agora por um setor industrial.
[...] já não é mais o produto primário apenas, mas sim, produtos com diferentes
níveis de processamento da indústria” (BRAUN, 2004, p.16-17). A modernização do
agro-negócio se faz, no entanto, sob a mesma base sócio-política (a grande
propriedade territorial) e com a mesma debilidade da modernização industrial
(importando tecnologia e insumos), o que caracteriza, na atualidade uma espécie de
“volta ao passado”, de acordo com Pochmann:
É cada vez maior a especialização da economia nacional em termos da
produção e exportação de bens primários com baixo valor agregado e
reduzido conteúdo tecnológico, geralmente intensivo em postos de trabalho
mais simples [...]. Nos países desenvolvidos, verifica-se, em contrapartida,
bens de produção capaz de permitir a autodeterminação do capital, vale dizer, de libertar a
acumulação de quaisquer barreiras decorrentes da fragilidade da estrutura técnica do capital”
(CARDOSO DE MELLO, 1994, p. 98).
7 É importante salientar que “[...] [os] empréstimos públicos [são] uma das primeiras formas de
exportação de capitais” (SILVA, 1985, p.33).
8 “Em 1970, apesar do intenso processo de industrialização pelo qual o país havia passado nas duas
décadas anteriores, a agricultura era responsável por 74,1% das exportações nacionais” (BRAUN,
2004, p.6).
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
134
a diversificação da produção, com maior valor agregado e elevado conteúdo
tecnológico na produção de bens e serviços.
Em síntese, o Brasil registra, uma certa volta ao modelo de inserção
internacional praticado no século 19, quando se destacou como uma das
principais economias produtoras de bens agrícolas, como café, borracha,
algodão, pimenta do reino, entre outras (In: SILVA e YAZBEK (orgs), 2006, p.23).
Evidencia-se, pois que o desenvolvimento do capitalismo brasileiro, operado
no quadro do capitalismo dos monopólios, continuou limitado por mecanismos
protecionistas de acesso à tecnologia por parte dos países cêntricos, o que não
permitiu qualquer eversão no lugar ocupado pelo Brasil na divisão internacional do
trabalho. Esse quadro deve ainda ser complementado, de acordo com Machado
(2002), pela ausência, no Brasil, de um núcleo endógeno de inovação tecnológica.
Isso ocorreu porque os benefícios concedidos pelo Estado intervencionista à
burguesia nacional não eram acompanhados de exigências mínimas de
investimento em pesquisa e desenvolvimento – que deveriam funcionar como uma
espécie de contrapartida, no sentido de consolidar alguns aportes que
possibilitassem autonomia tecnológica em médio-longo prazos.
Ou seja, o ganho de dimensão conseguido pelos produtores domésticos –
dado a reserva de mercado – não resultou no desenvolvimento de uma
tecnologia própria que transformasse o mercado interno em base ou
trampolim para se empreender a conquista de mercados externos.[...]
A racionalidade conservadora e pouco empreendedora do empresariado
nacional e a atuação das multinacionais [...] já revelam, portanto, a
racionalidade estratégica dos agentes locais, os quais se mostravam pouco
propensos a desenvolver processos internos de inovação tecnológica para
competir no mercado internacional. No entanto, o formato das políticas
industriais governamentais, assentadas num protecionismo
indiscriminado, cria um ambiente institucional que não condiciona ou
impele à modificação nos padrões de comportamento industriais [...]
apenas acentua os traços mais negativos de uma burguesia industrial
parasitária e acostumada a sobreviver de benevolentes favorecimentos
econômicos (MACHADO, 2002, p. 43).
A possibilidade de autonomia tecnológica fica cada vez mais distante,
sobretudo, após as mudanças na base técnica da produção, chamadas por alguns
de “Terceira Revolução industrial”. Conforme analisa Chesnais (1996), os
investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) tendem a se concentrar nos
chamados países da “tríade” (EUA, Japão e União Européia), gerando o processo de
“desconexão forçada”. Instaura-se a ampliação da mobilidade do capital, com
liberdade total em busca das melhores condições produtivas e especulativas
atrelada a mecanismos nada inclusivos. Esta vem realizando-se ao contrário, de
modo altamente seletivo e implicando a “desconexão”, em relação ao sistema, de
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
135
áreas periféricas, e a centralização dos investimentos produtivos nos países da
“tríade” e seus arredores.
Ocorre, assim, uma espécie de rearranjo na divisão internacional do trabalho
– em que cabe aos países “desconectados”, quando muito, o papel de exportadores
de produtos industriais tradicionais já que estão fora da rota de transferência de
tecnologia e dos acordos de cooperação tecnológica. Acentuam-se, ainda, as
características desses países como importadores de produtos de alta tecnologia,
fazendo de sua intermediação, na ótica da burguesia nacional, um “novo-velho”
espaço de valorização de capitais.
A proliferação nos anos noventa de negócios voltados à importação parece
reviver – sob nova roupagem – a velha tradição colonial das burguesias
“compradoras”, as quais multiplicam seus negócios em torno da
importação de sofisticados produtos. Enfim, nos anos noventa, verifica-se
um retrocesso no anterior processo de constituição de uma burguesia
industrial nacional (MACHADO, 2002, p. 65).
Desse modo é que a manutenção do latifúndio de monocultura para
exportação ganha ares de “modernidade”, justificados pela sua participação na
balança comercial do país, respondendo historicamente por considerável parcela do
superávit primário9. Braun (2004), a partir de fontes oficiais do Ministério da
Agricultura, ressalta que o padrão de produtividade do agro-negócio respondeu por
99,8% do saldo positivo da balança comercial brasileira de exportações em 1975,
63,9% em 1987 e 79,6% em 1992.
A segunda característica de destaque entre as particularidades da formação
do capitalismo brasileiro, de acordo com Netto, são os processos de “revolução
passiva” que peculiarizam
uma recorrente exclusão das forças populares dos processos de decisão
política: foi próprio da formação social brasileira que os segmentos e
franjas mais lúcidos das classes dominantes sempre encontrassem meios e
modos de impedir ou travar a incidência das forças comprometidas com as
classes subalternas nos processos e centros políticos decisórios. A
socialização da política, na vida brasileira, sempre foi um processo
inconcluso [...]. Por dispositivos sinuosos ou mecanismos de coerção
aberta, tais setores conseguiram que um fio condutor costurasse a
constituição da história brasileira: a exclusão da massa do povo no
direcionamento da vida social (p. 18-19 - grifos meus).
Traço de incontáveis evidências históricas e atuais, essa particularidade está
obviamente articulada à anterior, na medida em que a fragilidade dos mecanismos
9A agroindústria “teve crescimento de 24%, na safra, mas que não repercute no mercado interno, pois
está fortemente voltado para as exportações, assim como não altera o desempenho da renda e do
emprego, uma vez que trata-se de setor mecanizado com altos índices de produtividade” (BRAZ, 2004).
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
136
democráticos, mais especificamente, do seu acesso por parte das classes
subalternas, responde por boa parte do exitoso processo de “modernização
conservadora”. Isso significa dizer que na base da parcialidade das mudanças
ocorridas no processo de modernização capitalista brasileiro está uma estratégia
recorrente de antecipação das classes dominantes aos movimentos reais ou
potenciais das classes subalternas. Essa antecipação, a depender da situação
concreta, pode ter um caráter progressista e/ou restaurador, caracterizando o que
Gramsci (apud Coutinho, 1999) denominou como “revolução passiva”.
Os processos de revolução passiva são estratégicos para enfrentar o que
Weffort (1978, p. 17) vai denominar “a tarefa trágica de toda democracia burguesa:
a incorporação das massas populares ao processo político”. É isso, afinal, que está
em questão nos diferentes processos de revolução passiva, que podem ser
enumerados na formação social brasileira: o capitalismo instituiu-se por aqui
tentando minimizar os “custos democráticos” decorrentes do padrão civilizacional
alcançado pela luta de classes, especialmente nas sociedades euro-ocidentais.
Assim é que as frações das classes dominantes operam, quase sempre pela
via do Estado e ao arrepio dos mecanismos democráticos instituídos – ou, falando
gramscianamente, “pelo alto”, – as medidas de atendimento dos interesses
subalternos em jogo, controlando o seu grau de abrangência. Daí advém a
parcialidade das mudanças ocorridas, uma vez que se fazem pela “prática do
transformismo10 como modalidade de desenvolvimento histórico que implica a
exclusão das massas populares” (COUTINHO 1999, p.203).
O transformismo indica uma forte tendência das classes dominantes na
sociedade brasileira não só quando se pensa em suas disputas intestinas, onde
ocorre a “assimilação pelo bloco no poder das frações rivais [mas,
fundamentalmente,] de setores das classes subalternas” (Idem, p.205). O recurso a
regimes de exceção é, portanto, estimulado como forma “segura” de lidar com os
antagonismos de classe. Não é à toa que boa parte da vida republicana no Brasil
registra “intervalos democráticos”, de pouca substância – conforme considera
Albuquerque (1981) –, em meio a vários períodos ditatoriais.
[...] o que se concretiza, embora com intensidade variável, é uma forte
dissociação pragmática entre desenvolvimento capitalista e democracia. [...]
Assim, o que “é bom” para intensificar ou acelerar o desenvolvimento capitalista
entra em conflito, nas orientações de valor menos que nos comportamentos
concretos das classes possuidoras e burguesas, com qualquer evolução
democrática da ordem social. A noção de “democracia burguesa” sofre uma
redefinição, [...] pela qual ela se restringe aos membros das classes possuidoras
10 De origem gramsciana, o “transformismo” tornou-se bastante utilizado nas análises sobre o Brasil a
partir de sua popularização na obra de Carlos Nelson Coutinho. O mesmo é assim definido em uma
das notas dos Editores dos Cadernos do Cárcere vol.3 (2000): “O fenômeno do transformismo está
presente em diversas passagens dos Cadernos, em conexão com o conceito de “revolução passiva” ou
“revolução-restauração”. [...] O transformismo significa um método para implementar um programa
limitado de reformas, mediante a cooptação pelo bloco no poder de membros da oposição” (p.396)
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
137
que se qualifiquem, econômica, social e politicamente, para o exercício da
dominação burguesa (FERNANDES, 2006, p. 340).
Fica evidente, portanto, como os processos de revolução passiva determinam
profundamente as expressões da “questão social” no Brasil posto que emolduram as
lutas de classe, uma de suas mediações mais essenciais, conforme terei
oportunidade de salientar adiante.
Por fim, a terceira particularidade do capitalismo na formação social
brasileira para Netto aparece como
topus social, de convergência destes dois processos, o específico
desempenho do Estado na sociedade brasileira – trata-se da sua
particular relação com as agências da sociedade civil. A característica do
Estado brasileiro, muito própria desde 1930, não é que ele se sobreponha a
ou impeça o desenvolvimento da sociedade civil: antes, consiste em que ele,
sua expressão potenciada e condensada (ou, se se quiser, seu resumo), tem
conseguido atuar com sucesso como um vetor de desestruturação, seja pela
incorporação desfiguradora, seja pela repressão, das agências da sociedade
que expressam os interesses das classes subalternas. O que é pertinente, no
caso brasileiro, não é um Estado que se descola de uma sociedade civil
“gelatinosa”, amorfa, submetendo-a a uma opressão contínua; é-o um
Estado que historicamente serviu de eficiente instrumento contra a
emersão, na sociedade civil, de agências portadoras de vontades coletivas e
projetos sociais alternativos (1996, p.19 - grifos em negrito meus).
Das particularidades aqui assinaladas, essa aparece mais consensualmente
entre os estudiosos da formação social brasileira e possui dimensões outras que a
assinalada pelo autor. Quero dizer com isso que o papel político do Estado na
subjugação dos interesses das classes subalternas deve ser pensado como
tributário da dimensão econômica dessa intervenção. Mais precisamente: quero
explicitar que a intervenção do Estado possui em suas dimensões econômicas e
extra-econômicas uma unidade onde a primazia ontológica radica nas funções
econômicas que é levado a assumir.
O fortalecimento do Estado foi se gestando em substituição ao que
classicamente caberia à burguesia protagonizar. Com isso o espaço público foi
sendo historicamente “privatizado”, já que os interesses burgueses no Brasil nunca
chegaram a se instituir como expressão de “interesses universais”. Sobretudo, foi
apoiando-se na força que emana do Estado que as classes dominantes forjaram as
estruturas especificamente capitalistas, do ponto de vista das relações de produção.
Assim, sem nenhuma classe exercendo hegemonia sobre si, o Estado se
“autonomiza”. Esta autonomia seria, portanto, responsável por fazer do Estado o
agente econômico por excelência: é no âmbito de seu papel dirigente que se
conforma uma unidade entre os diferentes interesses das frações burguesas,
traduzida nos projetos econômicos e sociais propostos como “políticas do Estado” e
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
138
“para toda a nação”. O Estado não só protagoniza, desse modo, um papel político
central enquanto recorre ao “transformismo” como estratégia de manutenção da
posição subalterna dos interesses das classes trabalhadoras, mas também se
caracteriza como protagonista do ponto de vista econômico.
Para além das óbvias consequências que a intervenção política do Estado
possui no sentido de garantir as condições para o elevadíssimo grau de exploração
da força de trabalho11, sua participação foi central no processo de constituição de
forças produtivas capitalistas em todas as fases: da transição para a
industrialização restringida, depois para a industrialização pesada até consolidação
do capitalismo monopolista no Brasil, após-1964.
O Estado é quem aparece, porém, como substituto da “máquina de
crescimento privado nacional”, passando a operar crescentemente nos setores
pesados da indústria de bens de produção e nas operações de financiamento
interno e externo da indústria.
Ao mesmo tempo aparece, contraditoriamente, como promotor dos
investimentos estrangeiro e privado nacional, suprindo-os de economias
externas baratas; fornecendo-lhes subsídios aparentemente indiscriminados,
mas na realidade diferenciados; dando-lhes garantias e até permissividade no
endividamento (interno e externo) (TAVARES, 1998, p.147-148).
A crise desse modelo de desenvolvimento, explicitamente assentado no
Estado como agente econômico central, desencadeada no final dos anos 1970 e com
processamento ao longo dos anos 1980 reflete, em boa medida, as frágeis bases do
protecionismo às frações burguesas nacionais. Por expressar uma extrema
dependência do fluxo de exportação de capitais (financeiros e tecnológicos) o modelo
desenvolvimentista é altamente impactado com a crise mundial recente do
capitalismo e suas alternativas de superação, pautadas pela reestruturação
produtiva e financeirização da economia.
É possível extrair dessa discussão, portanto, que a presença do Estado no
Brasil é historicamente muito mais decisiva para a constituição do capitalismo que
o costumam admitir os “liberais de plantão”. Machado (2002), por exemplo,
sustenta que na base da “opção” pela agenda neoliberal nos anos 1990 e da
entusiasta “onda” de privatizações de investimentos econômicos estatais, encontra-
se a expectativa de setores da burguesia nacional, interessados na apropriação
privada das possibilidades de valorização desses capitais, consideravelmente
consolidados.
11 Entre 1933 e 1955 nas condições de uma industrialização restringida “o que se exige do Estado é
bem claro: garantir forte proteção contra as importações concorrentes, impedir o fortalecimento do
poder de barganha dos trabalhadores, que poderia surgir com um sindicalismo independente, e
realizar investimentos em infra-estrutura assegurando economias externas baratas ao capital
industrial. Quer dizer, um tipo de ação político-econômica inteiramente solidário a um esquema
privado de acumulação que repousava em bases técnicas ainda estreitas” (CARDOSO DE MELLO,
1994, p. 114).
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
139
Ainda que apareça na condição de sócio-minoritária dos grandes grupos
imperialistas, que adquiriram as mais significativas empresas privatizadas, a
burguesia atenua, com isso, a perda de antigos espaços de valorização dados por
mecanismos protecionistas típicos do Estado Desenvolvimentista que tiveram que
ser reduzidos com a desregulamentação da economia. Ora, claro está que a
intervenção econômica do Estado no setor de bens de produção durante o período
desenvolvimentista atuou como um amortecedor das incertezas envolvidas no alto
custo desse tipo de investimento que exigia mobilização elevada de capitais,
mecanismo, aliás, típico da “industrialização retardatária” (CARDOSO DE MELLO,
1994). “Entretanto, uma vez montada uma estrutura capitalista articulada, diluiu-
se o componente de incerteza, o que tornou os ativos produtivos estatais
extremamente rentáveis e atrativos à iniciativa privada” (MACHADO, 2002, p. 59).
2.1 Particularidades da “questão social” no Brasil
Considerando as incursões até aqui realizadas, mesmo que sumariamente, estão
postas as condições para apresentar as hipóteses formuladas acerca das
particularidades assumidas pela “questão social” no capitalismo brasileiro.
Pretende-se que tais hipóteses ajudem a identificar, entre as características das
expressões atuais da “questão social” brasileira, o quanto trazemos de heranças do
passado, muito embora redimensionadas por um contexto de inovações no modus
operandi do capitalismo mundial.
Conforme o afirmam as várias produções do Serviço Social no campo
marxista, entender a “questão social” é, sobretudo, considerar a exploração do
trabalho pelo capital, derivando numa série de expressões diferenciadas. Tendo em
vista essa assertiva, que remete à centralidade do trabalho na constituição da vida
social, e, ao mesmo tempo a impossibilidade de investigar, de uma só vez, as várias
expressões da “questão social” é que priorizei a questão do desemprego.
Pretendo alcançar, em relação ao desemprego, neste primeiro momento de
aproximação, não uma completa caracterização de suas manifestações na sociedade
brasileira. Pretendo sim, captar alguns de seus traços que, pensados a partir da
ótica de totalidade, possibilitada pela noção de “questão social”, o particularizem
diante das tendências próprias a cada contexto do capitalismo mundial.
Isso significa não perder de vista as mediações próprias ao processo de
constituição do capitalismo brasileiro no contexto do desenvolvimento do
capitalismo mundial. Significa, também, não perder de vista que o potencial
totalizador presente no debate sobre a “questão social”, na perspectiva em que ele
se realiza aqui, impõe um percurso de relações e mediações necessariamente
conectadas, impedindo, dessa forma, que a imperativa eleição do desemprego como
foco de investigação, se dê numa angulação que o isole dos demais “complexos de
complexos” que o determinam e dele resultam.
Essas advertências são da maior importância dadas as articulações, na
realidade, entre esta e as demais expressões da “questão social”. É evidente, por
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
140
exemplo, que a pobreza – muitas vezes tomada como expressão máxima da “questão
social” – somente pode ser entendida quando considerada a partir da incapacidade
de reprodução social autônoma dos sujeitos que, na sociedade capitalista, remete
de modo central à questão do desemprego. Sem esquecer, é claro, que também
trabalhadores inseridos no mercado de trabalho, e, portanto, empregados (formal
e/ou informalmente) não estão isentos de sofrerem processos de pauperização. Isso
porque vários estudiosos da formação social brasileira são enfáticos na afirmação
de que o Brasil, no contexto do capitalismo mundial, destaca-se, entre outras
características, por uma superexploração da força de trabalho que se “naturalizou”
como condição para sua inserção subordinada nas engrenagens do capitalismo
monopolista de corte imperialista. Essa condição da força de trabalho no Brasil
remete às particularidades da formação social brasileira, de acordo com hipóteses
de Netto (1996) supra mencionadas.
É claro também, para continuar no mesmo exemplo, que este processo
remete a outros indicadores sociais como acesso a saneamento básico, habitação,
educação, que determinam, por sua vez, os indicadores de saúde e assim por
diante. Embora essas articulações não estejam sendo objeto do presente estudo do
ponto de vista reflexivo é importante demarcar que tenho presente sua existência
ontológica e, é tendo-a em vista, que visualizo a fecundidade do debate em torno da
“questão social”.
Portanto, trata-se de situar os traços do desemprego como resultantes
do caminho percorrido, através da particularização no nível da formação
social brasileira, de como se plasmaram as lutas de classe e os mecanismos
de exploração do trabalho pelo capital. Tal particularização tem o objetivo de
tornar inteligíveis os contornos mais amplos, em que se inserem mediações centrais
para a discussão proposta, quais sejam, a constituição do “mercado de trabalho” e
do “regime de trabalho” (o que inclui os mecanismos de proteção social e regulação
do trabalho) no Brasil.
Assim é que no caso brasileiro, ambas as categorias tiveram seus marcos
regulatórios instituídos durante a “industrialização restringida”: a formação do
mercado de trabalho assalariado, a estrutura sindical corporativa, a CLT e a
resultante disso tudo, expressa no conceito de Wanderley Guilherme dos Santos
(1987) de “cidadania regulada”. A partir da “industrialização pesada”, especialmente
após 1964, passam, entretanto, por um redimensionamento significativo, posto que
neste momento adquirem força as características que imputo como
particularidades da “questão social” no país: a flexibilidade estrutural do
mercado de trabalho e precariedade das ocupações.
Pochmann (In: SILVA & YAZBEK, 2006) considera que a formação do
mercado de trabalho no Brasil possui, especialmente entre os anos de 1930 e 1970,
algumas características sem as quais não se pode entender o “padrão de sociedade
salarial incompleto, com traços marcantes de subdesenvolvimento”, a exemplo da
“distinção entre assalariamento formal e informal [que] constituiu a mais simples
identificação da desregulação, assim como a ampla presença de baixos salários e de
grande quantidade de trabalhadores autônomos (não assalariados)” (p.25).
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
141
Salienta ainda, entre os determinantes dessas características, o intenso
processo migratório campo-cidade, que responde por boa parte dos traços desse
padrão de exploração da força de trabalho, assim como pela formação do excedente
de mão-de-obra que fica fora do usufruto dos resultados do crescimento econômico,
muito embora tenha sido essencial para o seu processamento. Nessa mesma linha,
Dedecca e Baltar enfatizam a importância dos anos 1930-1956 para a conformação
do mercado de trabalho no Brasil. De acordo com eles,
nesse período [...] se inicia a constituição da base de trabalho assalariado
necessária para a estruturação do movimento sindical. [...] é a partir do
momento que ganha expressão o processo de industrialização é que vai se
formando um mercado de trabalho urbano-industrial que abre
perspectivas para a estruturação de um movimento sindical [em] nível
nacional. A industrialização ao avançar vai delineando um mercado
nacional de bens, serviços e trabalho com uma dinâmica cada vez mais
determinada pela indústria de transformação, bem como por uma
crescente concentração das atividades no meio urbano (1992, p.05).
Se o período conhecido como “industrialização restringida” foi um marco na
gestação dos pilares sob os quais se erige o mercado e o regime de trabalho no
Brasil cabe destacar que, ao longo do processo de constituição do capitalismo
brasileiro, a conjuntura da “industrialização pesada” foi determinante na aquisição
das características com que estes vêm atravessando as três últimas décadas. A
ênfase nesse momento histórico se explica por duas ordens de fatores.
Primeiramente, porque é nesse período que se completa o processo do
capitalismo retardatário (CARDOSO DE MELLO, 1994) brasileiro. Pela primeira vez
na história econômica brasileira nos aproximamos da superação de uma lacuna
central, do ponto de vista da constituição de forças produtivas especificamente
capitalistas, fomentando o setor de bens de produção.
Ao que parece, nenhuma indústria pesada se implantou historicamente a
partir da diferenciação e da dinâmica interna de uma indústria de bens de
consumo que cresce acompanhando a própria expansão de um mercado
urbano centrado em uns poucos pólos de urbanização. Historicamente, a
maioria dos países chamados de “industrialização retardatária”, vale dizer,
aqueles que não participaram da primeira revolução industrial, implantou
sua indústria pesada seja com o apoio do Estado Nacional, seja em aliança
com o grande capital financeiro internacional, como parte de um esquema
de sua expansão à escala mundial (TAVARES, 1998, p. 139).
A fase de “industrialização pesada” configurou-se, no Brasil, a partir das
características supramencionadas por Tavares: tanto a intensa intervenção estatal
quanto a associação entre os capitais nacional e internacional, conformando um
padrão de desenvolvimento que seria colocado em xeque ao final dos anos 1970 e,
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
142
principalmente, na década de 1980. Implantou-se, desse modo, uma nova estrutura
industrial com base nas indústrias mecânicas, de material elétrico e comunicações,
de material de transporte, química e uma nova indústria metalúrgica.
As repercussões dessa nova estrutura industrial devem ser entendidas,
obviamente, não apenas do ponto de vista de alterações na composição do capital
constante, mas, também do capital variável. Isso implicou tanto num crescimento
significativo da classe operária quanto em mudanças qualitativas nos ramos que a
absorvem, e, portanto, na estruturação do mercado de trabalho.
Em 1940, a classe operária era formada fundamentalmente por
empregados nas indústrias têxtil (28,6%), produtos alimentares (21,3%),
metalurgia (7,5%), produtos de minerais não metálicos (7%) e vestuário e
calçado (6%). [IBGE – Estatísticas Históricas do Brasil]. Não obstante, a
composição do operariado foi mudando com o aumento da importância
relativa do emprego nas indústrias metalúrgicas e de minerais não-
metálicos e o declínio do emprego nas indústrias têxtil e de produtos
alimentares observados durante as décadas de 1940 e 1950. Essa
mudança na estrutura do emprego da indústria de transformação se
aprofunda na industrialização pesada, quando se verifica uma importância
crescente do emprego nas indústrias mecânica, de materiais elétricos e de
transporte, enquanto se manteve relativamente estável aquelas relativas às
indústrias metalúrgicas e de produtos de minerais não-metálicos, cujo
dinamismo está relacionado estreitamente, ao lado do ramo de produtos de
madeira, com as atividades de construção civil. Estes ramos respondiam
por 22% do emprego da indústria de transformação em 1939. Essa
proporção evoluiu para 27,6% em 1949, 35,7% em 1959, 41,5% em 1970 e
46,5% em 1980. Sinteticamente, as indústrias têxtil e de produtos
alimentares declinam sua participação no emprego da indústria de
transformação (DEDECCA & BALTAR, 1992, p.22 – grifos meus).
O segundo motivo pelo qual me refiro com centralidade à industrialização
pesada relaciona-se intimamente ao primeiro. É nesse momento histórico,
especialmente após 1964 – pelas características econômicas e políticas de que é
portador – que visualizo a emergência de importantes particularidades assumidas
pela “questão social” no Brasil que atravessaram os anos 1980 e 1990, chegando
até a contemporaneidade. Trata-se da marca deixada no mercado de trabalho
brasileiro a partir desse período com a “reforma trabalhista” da ditadura. Esta
provocou um acentuado grau de flexibilidade estrutural e da precariedade das
ocupações.
Considero, tomando como referência especialmente as pesquisas do Instituto
de Economia da UNICAMP, que essas características do mercado de trabalho
brasileiro possuem estreita relação com a alta rotatividade no uso da mão-de-obra,
facultada aos empregadores pela legislação brasileira historicamente, embora em
graus diferenciados, a depender da correlação de forças determinada pelos
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
143
diferentes momentos da luta de classes no país. Essas particularidades são
especialmente evidentes no contexto da ditadura militar, devido à intensa repressão
às lutas de classe associada a uma legislação que, com a instituição do FGTS
(Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) em substituição à estabilidade nos
empregos, possibilita a elevação da rotatividade na utilização da mão-de-obra pelos
empregadores.
Associe-se isso às características do padrão de proteção social brasileiro que,
apesar do alto grau de regulação das relações de trabalho, não impactou o regime
de trabalho no sentido de uma regressão dos traços mencionados que estão, por
sua vez, na gênese dos índices de desemprego no Brasil.
o equacionamento do desemprego tem implicado inúmeros problemas e
dificuldades. No Brasil tal questão aparece com traços específicos que lhe dão
complexidade ainda maior.[...]
É importante lembrar que em nosso país a dualidade e a heterogeneidade do
mercado de trabalho são problemas histórico-estruturais, que já estavam
presentes antes mesmo da crise que atingiu a economia mundial como um
todo. Assim, os problemas da “modernidade”, decorrentes do novo paradigma
tecnológico, da abertura dos mercados e da globalização financeira, se
superpõem aos problemas do atraso (alto grau de informalização e de
precariedade das relações de trabalho, desigualdade social, deficiências do
sistema de proteção social, baixíssimo nível de escolaridade da força de
trabalho). [...]
Esses fatores, num quadro de profundo atraso nas relações entre capital e
trabalho, ajudam a entender o fato do país nunca ter tido, no passado, políticas
públicas de emprego. Na verdade, o próprio conceito de política social tem
existência recente em nosso país, pois durante décadas acreditou-se que a
melhoria das condições de vida da população e do perfil de distribuição de
renda seria uma conseqüência direta e inevitável do crescimento econômico. [...]
Destaca-se o grau de complexidade dos problemas associados ao mercado de
trabalho no Brasil e, sobretudo, a dependência do enfrentamento desta questão
ao equacionamento de inúmeros problemas no plano macroeconômico
(AZEREDO In: OLIVEIRA (org.) 1998, p.125-126 – grifos meus).
A conexão dessas particularidades com o desemprego como expressão da
“questão social” se dá pelo fato de se constituírem num paradoxo “fordismo à
brasileira”. Isso significa dizer que, ao contrário do que ocorria nos países cêntricos
– cujo padrão de proteção social reforçava a estabilidade dos empregos como
condição para as excepcionais taxas de lucro do período – a
flexibilidade/precariedade é erigida, no Brasil, como princípio estruturante dos
postos de trabalho, fato que só adquire sentido quando se leva em consideração as
particularidades do capitalismo brasileiro.
Considerar a flexibilidade estrutural do mercado de trabalho e a precariedade
na estrutura de ocupações como particularidades da “questão social” no Brasil
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
144
possibilitou-me uma compreensão diferenciada acerca de alguns debates que
“cruzam” diversas elaborações em torno da “questão social” e, especialmente, do
desemprego, na atualidade.
Refiro-me às frequentes alusões à flexibilidade dos empregos como uma
característica que aparece geneticamente associada ao modo de acumulação
flexível, emergente com o conjunto de reestruturações capitalistas próprias da sua
mais recente crise. Obviamente não se trata de descartar essa associação, embora
discordando de seu vínculo genético, pois, sem dúvida, corresponde a um dado da
realidade contemporânea e é responsável pelo aumento não só do desemprego,
como também da informalidade e dos “subempregos”. Trata-se, sim de resgatar que
o mercado de trabalho no Brasil já possuía uma “flexibilidade estrutural”
nas relações de trabalho: um tipo de flexibilização adequado ao padrão
tradicional de superexploração do trabalho, vigente desde os anos 60. A
“flexibilidade estrutural” que caracteriza o mercado de trabalho no Brasil
pode ser observada, por exemplo, pela relativa facilidade para a adequação
numérica do contingente de ocupados e pelas flutuações no nível de
rendimentos do trabalho. [...] A investida neoliberal no Brasil dos anos 90,
voltada para a desregulamentação do direito do trabalho, cujo maior
exemplo é a Lei do Contrato Temporário, aprovada em 1997, sob o governo
Cardoso, imprimirá características disruptivas à flexibilidade estrutural do
trabalho no Brasil, procurando criar novos patamares de flexibilidade
estrutural adequados à época da terceira Revolução industrial e da
mundialização do capital, o que implica reduzir custos sem prejudicar a
qualidade (ALVES, 2005, p.155 e 157).
Sob essa ótica, a flexibilidade nas relações de trabalho do capitalismo
brasileiro não é uma novidade contemporânea, muito embora seus determinantes
tenham se modificado substantivamente dos anos 1990 em diante. Parafraseando
Pastorini (2004), considero que, em se tratando desse fenômeno (a flexibilidade), há
uma tendência à “perda da processualidade” nas análises de vários dos autores que
discutem a “questão social” no Serviço Social. Transpõem-se para a realidade
brasileira, no mais das vezes, análises sobre a crise capitalista e sua
reestruturação, válidas para os países cêntricos, sem algumas mediações
essenciais, como a diferenciação entre o padrão de proteção social desses países e o
brasileiro, caracterizado classicamente por Santos (1987) como próprio de uma
“cidadania regulada”.
Essas são as particularidades que, estando presentes no regime de trabalho
do Brasil desde então, podem ser consideradas, consequentemente, como
particularidades da “questão social”, diferenciando-o de outros países onde esses
fenômenos estão associados à crise capitalista recente. Ou seja, se flexibilidade e
precariedade costumam aparecer ligadas à fase de acumulação flexível do capital,
no Brasil, não se pode considerá-las sem que sejam, antes, situadas como
características do “fordismo à brasileira”: o desemprego enquanto expressão da
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
145
“questão social” adquire o caráter de desemprego estrutural na economia brasileira
desde que o capitalismo retardatário completa seu ciclo, no auge da
“industrialização pesada”.
A importância dessas premissas, portanto, se afirma na medida em que
particularizam o debate sobre o desemprego estrutural no Brasil em face de outras
realidades, especialmente a dos países cêntricos, onde esse fenômeno aparece como
algo “novo”, ou, como querem Castel e Rosanvallon, como uma “nova questão
social”.
3. Considerações Finais: tangenciando outros elementos para o debate
Dada sua magnitude e presença alarmante no atual estágio de desenvolvimento do
capitalismo a “questão social” continua a requerer esforços de particularização
muito além do que me foi possível realizar no estudo que forneceu as bases para o
presente texto. O que pretendi oferecer, em se tratando do Brasil, foi um primeiro
exercício de aproximação a algumas de suas mediações histórico-concretas com
ênfase no desemprego, uma de suas expressões mais centrais12.
Penso que cabe aqui uma advertência. O leitor pode estar se perguntando
sobre a validade ou não da generalização dessas particularidades do desemprego
como particularidades da “questão social”. Muito embora não seja essa a minha
intenção, pode-se pensar que ao fazê-lo operei uma redução da abrangência do
conceito que designa outras expressões para além do desemprego. Nesse sentido é
importante salientar os princípios ontológico-sociais que permeiam as formulações
aqui contidas e então enfatizando o já afirmado: o desemprego pareceu-me a
expressão mais transversal à totalidade das expressões agrupadas sob o conceito de
“questão social”.
Posso afirmar tranquilamente que o desemprego, nessa pesquisa, não chegou
a ser uma escolha. Ele se impôs como expressão a ser priorizada na medida em que
é resultante do mecanismo básico de reprodução da “questão social”: a lei geral da
acumulação capitalista. Ao mesmo tempo, é a partir dele, considerando-se a
centralidade do trabalho na constituição da vida social, que se gestam uma série de
repercussões na esfera da sociabilidade. Não quero afirmar aqui qualquer relação
monocausal entre desemprego e demais expressões da “questão social”, uma vez
que o trabalho assalariado (e não só a sua “ausência”), por exemplo, também
determina fortemente algumas de suas expressões, como é o caso dos processos de
pauperização relativa.
Do mesmo modo traços da cultura, presentes na vivência individual e
coletiva dos indivíduos sociais, também estão a reclamar investigações que
12Pochmann (In: ANTUNES, (org.), 2006), a partir de dados do IBGE, enfatiza o crescimento do
desemprego no Brasil, cuja presença na década de 1980 correspondia a cerca de um quarto ou um
quinto do que foi registrado na década de 1990.
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
146
perquiram as conexões entre estes traços e outras tantas expressões da “questão
social”. Ocorre que, mesmo considerando-se tais “cruzamentos”, ou mesmo
“caminhos”, para a pesquisa de outras expressões da “questão social”, não vejo
como ignorar as mediações aqui salientadas, em se tratando da realidade brasileira.
Quero deixar claro, no entanto, que isso não implica necessariamente na sua
centralidade; ou seja, dependendo do objeto focalizado no interior do amplo
espectro da “questão social”, a flexibilidade e a precariedade do regime de trabalho
no Brasil podem desempenhar um papel mais ou menos crucial, mas, sem dúvida,
estarão presentes e por isso estão sendo generalizadas como particularidades não
só do desemprego, mas da “questão social” no Brasil.
Entendendo o caráter provocativo da presente contribuição ao debate,
gostaria, por fim, de elencar outros desafios à pesquisa que envolvem, por exemplo,
as particularidades recentes do desemprego no país (anos 1980 e 1990) tendo em
conta o momento atual de crise capitalista.
A ideia é indicar as características e determinantes do desemprego nas duas
décadas em questão e, ao mesmo tempo, realçar seus traços comuns, que são
dados pela flexibilidade estrutural e precariedade das ocupações do mercado de
trabalho brasileiro como características da “questão social”. Pretende-se, desse
modo, identificar algumas “pistas” para a necessária continuidade do movimento de
apreensão de suas mediações que possam estimular outras investigações nessa
direção.
A preocupação é mostrar que a flexibilidade do atual “modo de acumulação”
não pode ser pensada, no caso brasileiro, sem levar em consideração a flexibilidade
estrutural das ocupações preexistente, mediatizando análises que no Serviço Social
(e não só) a colocam como uma “nova” determinação no mundo do trabalho.
Defendo que se manifesta na atualidade uma extensão e aprofundamento da
flexibilidade estrutural do mercado de trabalho, estendendo-a a outros aspectos além
da flexibilidade quantitativa dos empregos, expressa na alta rotatividade da mão-de-
obra.
No caso dos anos 1980 a crise do “desenvolvimentismo” aparece como
principal determinante dos índices de desemprego. Trata-se da crise do padrão de
desenvolvimento adotado até a “industrialização pesada”, assentado no tripé setor
produtivo estatal, capital nacional e capital internacional. Nesse contexto o
desemprego vinculou-se, em grande medida, às oscilações da atividade produtiva,
observada pela tendência à recuperação quantitativamente equivalente dos postos
de trabalho perdidos nos momentos de crise. Houve uma expressiva queda das
oportunidades ocupacionais no setor produtivo que, embora preservado, passa a
não mais absorver em proporções satisfatórias o aumento da população ativa.
Destaca-se nesse panorama a restauração da democracia e o protagonismo do
movimento sindical (contrastando com o panorama do sindicalismo mundial) e o
restabelecimento das negociações coletivas, inclusive com mecanismos de reajuste
salarial regulados pelo Estado.
No caso dos anos 1990, tem-se um desemprego derivado da adoção das
políticas de ajuste neoliberais. Além de suas proporções terem aumentado em
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
147
relação aos anos 1980, o desemprego desse último período tem se caracterizado
como de longa duração. A partir dos anos 1990, registra-se, ao contrário do
ocorrido até a década de 1980, uma tendência à dissociação entre recuperação da
economia brasileira (e, nela, dos índices de produção) e sua repercussão no
emprego regular.
Isso significa que o aprofundamento e extensão quantitativa da flexibilidade
nas relações de trabalho decorrem, antes, de uma crise no padrão de
desenvolvimento e das políticas de ajuste neoliberais do que de quaisquer inovações
organizacionais, ou mesmo produtivas, que estejam sendo operadas em razão do
novo regime de acumulação. Nesse sentido é que se torna fundamental ter em conta
o complexo de mediações assinalado quanto às particularidades do
desenvolvimento capitalista na formação social brasileira.
Tanto assim que apesar de atingir de modo generalizado a estrutura de
ocupações, a flexibilidade estrutural do trabalho no Brasil é especialmente presente
no caso dos postos de trabalho ocupados por trabalhadores com pouca
escolaridade, conforme indicam tendências históricas do regime de trabalho
brasileiro. Em relação a esse extrato das classes trabalhadoras, a flexibilidade
estrutural do trabalho no Brasil tem acentuado o desemprego e a informalidade. A
título de demonstração, dados de 1995 do PNAD/IBGE (apud DEDECCA In:
OLIVEIRA (org.), 1998), apontam que 77% dos trabalhadores por conta própria da
região Nordeste não possuem ensino fundamental completo. Esta situação na
região Sudeste é de 63%.
A debilidade das condições de funcionamento do mercado de trabalho
brasileiro – caracterizada pelo elevado desemprego e pela informalidade – e a
ausência de perspectivas sobre uma possível recomposição do nível de
emprego fortalecem o poder de contratação das empresas, que aproveitam
da grande disponibilidade de força de trabalho para atuar de maneira
discriminatória no mercado de trabalho, optando por recrutar, quando
necessário, os trabalhadores com melhor nível educacional e de qualificação
e, em conseqüência, por reduzir os custos de adaptação e treinamento desse
trabalhador (DEDECCA In: OLIVEIRA (org.), 1998, p. 285).
A escolaridade passa, assim, a ser um critério de contratação que não
necessariamente tem a ver com a qualificação necessária ao trabalho que será
executado o qual, muitas vezes, não possui maiores exigências dessa natureza. Isso
implica num claro mecanismo para redução dos custos com o trabalho, como o
assinalou o autor supramencionado. Funciona, também, como critério de
diferenciação do salário inicial dos trabalhadores, em relação aos que possuem
menos instrução formal.
Outra diferença importante entre esses períodos é a configuração do
movimento sindical. Ao contrário da década de 1980, quando o sindicalismo
brasileiro adquiriu condições políticas de instituir, mesmo que somente nas
categorias mais bem organizadas, negociações coletivas onde a pauta tinha como
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
148
eixo central as demandas salariais, a partir dos anos 1990, com as medidas de
ajuste neoliberais, reduzem-se a capacidade de pressão e barganha dos sindicatos.
Embora não tenham sido completamente abandonadas, essas negociações
passaram, cada vez mais, a voltarem-se à questão do emprego, com uma tendência
clara à pulverização e descentralização.
É diante desse quadro, francamente regressivo, que a cidadania burguesa
passa também por uma “reestruturação” onde a flexibilidade é alçada a princípio de
“modernidade” diante da aparente ausência de alternativas.
A argumentação em defesa da flexibilização é sempre mais ou menos a
mesma: é melhor que nada. É verdade. Mas que não se espere um
desenvolvimento da nossa força de trabalho, como todos desejamos,
na base do “é melhor que nada”. Um bom trabalho em um bom
emprego, a despeito de todas as mudanças que estão ocorrendo,
continua sendo a condição mais importante para [...] a imensa maioria
das pessoas. Dizer que isso acabou, sem esclarecer o que poderá vir a
substituí-lo, não passa de escárnio (SALM, In: V.V.A.A.,1998, p.21).
Reproduzir esse discurso é “jogar água no moinho” do “fatalismo”
(IAMAMOTO, 1992), embora muitas vezes a intencionalidade profissional seja
repleta de motivações éticas em contrário. Portanto, voltando ao Serviço Social –
que fora nosso ponto de partida – se acertamos na “mudança de rumo” nas análises
sobre nossa profissionalidade a partir do diálogo com a matriz marxiana, do qual
resultou a compreensão acerca da “questão social” como seu elemento fundante, é
momento de estarmos atentos para “reajustar o foco” desta análise. É
imprescindível que a mesma esteja saturada das mediações contidas na realidade a
fim de que possa ser tomada com centralidade pelo conjunto dos profissionais nas
estratégias a serem formuladas no âmbito da intervenção propriamente dita.
Texto recebido em junho de 2010.
Aprovado para publicação em agosto de 2010.
Sobre a autora
Josiane Soares Santos é Doutora em Serviço Social (UFRJ) e Professora Adjunta do
Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. E-mail:
josisoares@hotmail.com
REFERÊNCIAS
ABESS. Diretrizes Gerais para o Curso de Serviço Social. In: Cadernos ABESS, n°07. São
Paulo: Cortez, 1997.
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
149
____. Relatório Final da Pesquisa avaliativa da implementação das diretrizes
curriculares do curso de Serviço Social. ABEPSS: São Luís, CD-room, 2008.
ALBUQUERQUE, M. M. Pequena História da Formação Social Brasileira. Rio de Janeiro:
Graal, 1981.
ALVES, G. O Novo (e precário) mundo do trabalho. São Paulo: Boitempo Editorial, 2005.
AZEREDO, B. Políticas públicas de emprego no Brasil: limites e possibilidades. In:
OLIVEIRA, M.A. (org.) Reforma do Estado e Políticas de emprego no Brasil. Campinas:
UNICAMP, I.E., 1998.
BRAZ, M. O governo Lula e o projeto ético-político do Serviço Social. In: Revista Serviço
Social e Sociedade nº78. São Paulo: Cortez, 2004.
BRAUN, M. B. S. Uma análise da balança comercial agrícola brasileira à guisa de sua
evolução histórica recente. (2004) Disponível em: http://ww. cac-
php.unioeste.br/revistas/gepec/download . Acesso em 27/09/2007.
CARDOSO DE MELLO, J. M. de O capitalismo tardio. 9° ed. São Paulo: Editora
Brasiliense, 1994.
CASTEL, R. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Petrópolis: Vozes,
1998.
CERQUEIRA FILHO, G. A questão social no Brasil: crítica do discurso político. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 1982.
CHESNAIS, F. A mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996.
COUTINHO, C. N. As categorias de Gramsci e a realidade brasileira. In: Gramsci: Um estudo
sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 1999.
DEDECCA, C. S. & BALTAR, P. E. de. Notas sobre o mercado de trabalho no Brasil durante
a industrialização restringida. Cadernos do CESIT – texto para discussão n° 12, Campinas:
I.E, mimeo, 1992.
____. Emprego e qualificação no Brasil dos anos 90. In: OLIVEIRA, M.A. (org.) Reforma do
Estado e Políticas de emprego no Brasil. Campinas: UNICAMP, I.E., 1998.
FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil: ensaios de interpretação sociológica. Rio
de Janeiro: Globo, 2006.
GRAMSCI, A. Cadernos do Cárcere volume 3. Edição e tradução: Carlos Nelson Coutinho;
co-edição: Luiz Sérgio Henriques e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2000.
IAMAMOTO, M. V. & CARVALHO, R. de. Relações Sociais e Serviço Social no Brasil:
esboço de uma interpretação histórico-metodológica. São Paulo: Cortez, 1995.
______. Renovação e Conservadorismo no Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992.
______. A questão social no Capitalismo. In: Revista Temporalis n° 03. Brasília: ABEPSS,
2001.
______. Serviço Social em tempo de capital fetiche – capital financeiro, trabalho e questão
social. São Paulo: Cortez, 2007.
MACHADO, G. V. A burguesia brasileira e a incorporação da agenda liberal nos anos 90.
Campinas: Instituto de Economia UNICAMP. Dissertação de Mestrado, 2002.
MANDEL, E. O capitalismo tardio. São Paulo: Nova Cultural, 1985.
MARX, K. O Capital. Livro 1, Vol. I. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
______. & ENGELS, F. A Ideologia Alemã. São Paulo: Hucitec, 1996.
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Josiane Soares Santos
Particularidades da “Questão Social” no Brasil: elementos para o debate
150
NETTO, J. P. Ditadura e Serviço Social: uma análise do Serviço Social no Brasil pós-64. 2ª
ed. São Paulo: Cortez, 1996.
______. Cinco notas a propósito da questão social. In: Revista Temporalis, ano 2, n°3,
Brasília: ABEPSS, Grafline, 2001.
______. e BRAZ, M. Economia política: uma introdução crítica. São Paulo: Cortez, 2006.
PASTORINI, A. A categoria “questão social” em debate. São Paulo: Cortez, 2004.
ROSANVALLON, P. A nova questão social. Brasília: Ed. Instituto Teotônio Vilela, 1998.
SODRÉ, N. W. Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil. Belo horizonte: Oficina de
Livros, 1990.
TAVARES, M. da C. Acumulação de capital e industrialização no Brasil. Campinas, SP:
UNICAMP, I.E., 1998.
POCHMANN, M. Desempregados do Brasil. In: ANTUNES, R. (org.). Riqueza e miséria do
trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006.
______. Rumos da política do trabalho no Brasil. In: SILVA, M.O.S. e YAZBEK, M. C. (Orgs.)
Políticas de trabalho e renda no Brasil contemporâneo. São Paulo: Cortez; São Luiz:
FAPEMA, 2006.
SALM, C. Flexibilidade: solução ou precarização do trabalho? In: V.V. AA. Seminário
desemprego: desafios e perspectivas na virada do século. Rio de Janeiro:
CORECON/COFECON, 1998.
SANTOS, W. G. dos. Cidadania e justiça: as políticas sociais na ordem brasileira. Rio de
Janeiro: Campus, 1987.
SANTOS, J. S. Particularidades da “questão social” no capitalismo brasileiro. Rio de
Janeiro: ESS/UFRJ. Tese de Doutoramento, 2008.
SILVA, S. Expansão cafeeira e origens da indústria no Brasil. São Paulo: Editora Alfa-
Omega, 1985.
WEFFORT, F. O populismo na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
Dossiê: A “QUESTÃO SOCIAL”
TEMAS & MATIZES - Vol. 9 - Nº 17 – PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. pp. 125-150.
ISSN: 1981-4682 (versão eletrônica)
Você também pode gostar
- João Bosco Medeiros - Redação Científica - A Prática de Fichamentos, Resumos e ResenhasDocumento300 páginasJoão Bosco Medeiros - Redação Científica - A Prática de Fichamentos, Resumos e ResenhasRegina Menezes85% (20)
- Livro Planejamento Social Intencionalidade e Instrumentação-Myrian Veras Baptista 2 . Edição PDFDocumento83 páginasLivro Planejamento Social Intencionalidade e Instrumentação-Myrian Veras Baptista 2 . Edição PDFRannyelle Alves75% (8)
- Texto - 1 - Educação Dos Corpos Na Escola - Veredas - EustaquiaDocumento29 páginasTexto - 1 - Educação Dos Corpos Na Escola - Veredas - EustaquiaAnonymous JSyC1HAinda não há avaliações
- 4 - Direitos HumanosDocumento14 páginas4 - Direitos HumanosKaren KellyAinda não há avaliações
- Questôes - Direito AdministrativoDocumento14 páginasQuestôes - Direito AdministrativoAmora Amora100% (1)
- BARROCO, Lucia. Ética e Sociedade - Curso de Capacitação Ética para Agentes Multiplicadores, Vol. I PDFDocumento33 páginasBARROCO, Lucia. Ética e Sociedade - Curso de Capacitação Ética para Agentes Multiplicadores, Vol. I PDFLara Abreu CruzAinda não há avaliações
- 2016 - Katia Lima - PNE 2014 2024Documento12 páginas2016 - Katia Lima - PNE 2014 2024Lara Abreu CruzAinda não há avaliações
- CASTELO - A Questao Social Nas Obras de Marx e Engels - Praia Vermelha PDFDocumento10 páginasCASTELO - A Questao Social Nas Obras de Marx e Engels - Praia Vermelha PDFLara Abreu CruzAinda não há avaliações
- Como Elaborar Objetivos de PesquisaDocumento5 páginasComo Elaborar Objetivos de PesquisaLara Abreu CruzAinda não há avaliações
- De Como Não Ler Marx Ou o Marx de Sousa SantosDocumento18 páginasDe Como Não Ler Marx Ou o Marx de Sousa SantosLara Abreu CruzAinda não há avaliações
- Apostila para Concurso Questões Do Serviço Social PDFDocumento104 páginasApostila para Concurso Questões Do Serviço Social PDFAloisi Somer100% (1)
- DA "ERA VARGAS" À FHC: Transições Políticas e Reformas AdministrativasDocumento19 páginasDA "ERA VARGAS" À FHC: Transições Políticas e Reformas AdministrativasLara Abreu CruzAinda não há avaliações
- EstilisticaDocumento0 páginaEstilisticaLara Abreu Cruz100% (1)
- Anais Da ABRASDDocumento2.003 páginasAnais Da ABRASDMacell LeitãoAinda não há avaliações
- Faculdade de Educação Mestrado em Educação: Um Estudo de Caso Na Escola Marista de ManhiçaDocumento132 páginasFaculdade de Educação Mestrado em Educação: Um Estudo de Caso Na Escola Marista de ManhiçaKina TovelaAinda não há avaliações
- Bergamaschi - o Intelectual IndígenaDocumento19 páginasBergamaschi - o Intelectual IndígenaLayla Jorge Teixeira CesarAinda não há avaliações
- Organizado Por Prof. Edson: C P A B C P S o P P M e S PDocumento350 páginasOrganizado Por Prof. Edson: C P A B C P S o P P M e S PDiego MartinsAinda não há avaliações
- Lynn GrabhornDocumento173 páginasLynn GrabhornDanilo M. LemosAinda não há avaliações
- Lumbu A Democracia No Reino Do KongoDocumento65 páginasLumbu A Democracia No Reino Do KongoMatheusAinda não há avaliações
- Resumo Psicologia e Ideologia (Cap 1 e 4) - PattoDocumento17 páginasResumo Psicologia e Ideologia (Cap 1 e 4) - PattoPedro Bernardes NetoAinda não há avaliações
- Sofrimento Ético-Político Como Categoria de Análise Da Dialética Exclusão InclusãoDocumento5 páginasSofrimento Ético-Político Como Categoria de Análise Da Dialética Exclusão InclusãoBruno Halyson Nobre100% (1)
- Dissertação - ElkaDocumento102 páginasDissertação - ElkaMaria BeneditaAinda não há avaliações
- Um Ensaio Sobre A Participação Política Da Juventude BrasileiraDocumento195 páginasUm Ensaio Sobre A Participação Política Da Juventude BrasileiraRamiro SilveiraAinda não há avaliações
- MediaçãoDocumento40 páginasMediaçãoevandoAinda não há avaliações
- Acasaearua: Significados Das Categorias Público e PrivadoDocumento4 páginasAcasaearua: Significados Das Categorias Público e PrivadoCarlaRMNascimentoAinda não há avaliações
- O Estigma Na EscolaDocumento67 páginasO Estigma Na EscolarenataborsaroAinda não há avaliações
- Apanhado Do Livro de Nicolau MaquiavelDocumento4 páginasApanhado Do Livro de Nicolau MaquiavelQuezia KellyAinda não há avaliações
- Caderno de História - 1ano - 6unidDocumento14 páginasCaderno de História - 1ano - 6unidBrunaAinda não há avaliações
- Plano de Comunicação HospitalDocumento32 páginasPlano de Comunicação HospitalKaroline GrubertAinda não há avaliações
- Principios Geraiis Do Direito Do AmbienteDocumento2 páginasPrincipios Geraiis Do Direito Do AmbienteTurma E2Ainda não há avaliações
- 6º AnoDocumento2 páginas6º AnoManuela GeriAinda não há avaliações
- PM14 C842ed0369Documento38 páginasPM14 C842ed0369alysson VictorAinda não há avaliações
- Novos Atores SociaisDocumento9 páginasNovos Atores SociaisAnonymous sHAcx5qAinda não há avaliações
- CHAUÍ, Marilena - Convite À FilosofiaDocumento28 páginasCHAUÍ, Marilena - Convite À FilosofiaJeniffer CostaAinda não há avaliações
- DIEHL, Educacao para o Consumo. 2014Documento240 páginasDIEHL, Educacao para o Consumo. 2014Debora VilelaAinda não há avaliações
- Pratica Pedagogica GeralDocumento12 páginasPratica Pedagogica GeralBraimoAinda não há avaliações
- Teste 2 Etica e Deontolgia ProfissionalDocumento30 páginasTeste 2 Etica e Deontolgia ProfissionalMeritoManuelAlfandegaMmaAinda não há avaliações
- Ari - de - Sa - No Ar - ENEM - 2018 - 2a - SEMANADocumento8 páginasAri - de - Sa - No Ar - ENEM - 2018 - 2a - SEMANAPauloAinda não há avaliações
- Fraternidade ShamballaDocumento98 páginasFraternidade ShamballaLeonardo Artaud Toledo100% (2)