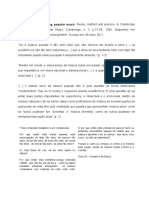Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Peter Pal Pelbart - O Teatro Da Loucura
Enviado por
Erick VieiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Peter Pal Pelbart - O Teatro Da Loucura
Enviado por
Erick VieiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O teatro da loucura
Peter Pál Pelbart*
Resumo: Neste artigo faço um relato de fragmentos de uma experiência de te-
atro com pacientes psiquiátricos que atuam na Companhia Teatral Ueinzz, de
um hospital-dia em São Paulo. Os relatos dizem respeito à participação da Com-
panhia no Festival de Teatro de Curitiba, ao primeiro ensaio da Companhia no
hospital-dia “A Casa”, e à experiência de convívio da Companhia com os atores
do Théatre du Radeau, no Sul da França. A partir desses relatos levanto algumas
questões que deverão servir de contexto para pensar a relação entre praticas
estéticas e vidas precárias na contemporaneidade. Nesse contexto de controle
da vida podemos notar que as modalidades de resistência vital proliferam de
maneiras inusitadas, como a colocação em cena da vida em estado de variação.
Palavras-chave: loucura; teatro; vida; resistência.
Abstract: The Theater of madness. In this article I report a fragment of theater
experience with psychiatric patients who play in Ueinezz Theatre Company of
a Day Hospital in São Paulo. The reports relate to the Company’s participation
in the Festival de Teatro de Curitiba, the first rehearsal of the company in “A
Casa” Day Hospital and the experience of living with the actors of the Company’s
Théâtre du Radeu in south of France. From these reports, I raise some issues
that should serve as context to think about the relationship between esthetic
Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013. 119
Peter Pál Pelbart
practices and precarious lives nowadays. In this context of control of life we can
see that the arrangements for vital resistance proliferate in unusual ways, like
putting on scene life in a state of variation.
Keywords: Madness; theatre; life; resistance.
Eu gostaria de dar eco a uma experiência muito concreta no cam-
po da loucura. Não vou falar da História da Loucura, nem da Nau dos
Insensatos, nem do silenciamento da Desrazão. Não pretendo fazer um
disurso de denúncia, nem sequer uma análise do papel dessa discursivi-
dade ao longo das últimas décadas, nesse âmbito específico. Limito-me a
relatar fragmentos de uma experiência de teatro com pacientes ditos psi-
quiátricos, desde o lugar de coordenador desse projeto, de ator esporá-
dico, mas também, não vou negá-lo, desde minha sensibilidade filosófica.
Somos a Cia. Teatral Ueinzz, nascida há dez anos num hospital-
-dia em São Paulo. Fomos dirigidos desde o início por Sérgio Penna e Re-
nato Cohen, há alguns anos deixamos o hospital-dia e nos constituímos
como uma companhia autônoma, ensaiamos semanalmente, fizemos três
peças, tivemos mais de 150 apresentações, viajamos muito pelo Brasil e
também no exterior, tudo isso faz parte de nosso currículo, mas toda essa
concretude não garante nada. Por vezes, passamos meses no marasmo
de ensaios semanais insípidos, às vezes nos perguntamos se de fato al-
gum dia nos apresentamos ou voltaremos a nos apresentar, alguns atores
desaparecem, o patrocínio míngua, textos são esquecidos, a companhia
ela mesma parece uma virtualidade impalpável. E de repente surge uma
data, um teatro disponível, um mecenas ou um patrocinador, o vislumbre
120 Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013.
O teatro da loucura
de uma temporada, um convite para o Cariri ou para Paris... O figurinista
recauchuta os trapos empoeirados, atores sumidos há meses reaparecem,
às vezes fugidos até de uma internação... Um campo de imantação é rea-
tivado, os solitários vão se enganchando, os dispersos se convocam mutu-
amente, um coletivo feito de singularidades díspares se põe em marcha,
num jogo sutil de distâncias e ressonâncias, de celibatos e contaminações
– compondo o que Guattari chamaria de um “agenciamento coletivo de
enunciação”. Mas mesmo quando tudo “vinga”, é no limite tênue que se-
para a construção do desmoronamento. Eu gostaria então, nesse diapa-
são, contar alguns fragmentos que ilustrem essa sensação.
O primeiro fragmento diz respeito à nossa apresentação do Festi-
val de Teatro de Curitiba, há alguns anos atrás. Faltavam poucos minutos
para a trupe entrar em cena. O público se apinhava nas arquibancadas
laterais do teatro, um assombroso galpão envolto em brumas e mergu-
lhado na atmosfera da música estrepitosa. Cada ator se preparava para
proferir em grego o embate agonístico que dá início a esse espetáculo
“sem pé nem cabeça”, conforme o comentário elogioso de um crítico da
Folha de S.Paulo. Eu aguardo tenso, repasso na cabeça as palavras que
devemos lançar uns contra os outros, em tom intimidatório e desenfre-
ada correria. Passeio os olhos em meio ao público e percebo nosso nar-
rador recuado do microfone alguns metros – ele parece desorientado.
Aproximo-me, ele me conta que perdeu seu texto. Enfio a mão no bolso
de sua calça, onde encontro o maço de folhas por inteiro. O ator olha os
papéis que estendo à sua frente, parece não reconhecê-los, põe e tira os
Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013. 121
Peter Pál Pelbart
óculos, e murmura que desta vez não participa da apresentação – esta
é a noite de sua morte. Trocamos algumas palavras e minutos depois,
aliviado, vejo-o de volta ao microfone. Mas sua voz, em geral tão trêmula
e vibrante, soa agora pastosa e desmanchada, como a dramatizar o texto
que reza: “Minha memória anda fraca..” Sinto as palavras viscosas, desli-
zando umas sobre as outras, diluindo-se progressivamente, e aquilo que
deveria servir de fio narrativo para nossa labiríntica montagem teatral
deságua lentamente num pântano escorregadio. Na cena seguinte dessa
peça intitulada Dédalus, eu sou Hades, rei do Inferno, e ele é o barqueiro
Caronte, que levará Orfeu até Eurídice. Mas entre uma remada e outra,
bruscamente ele interrompe a cena, faz uso de suas últimas reservas,
atravessa o palco na diagonal e dirige-se à saída do teatro, uma porti-
nhola que dá para a rua. Já ali, eu o encontro sentado na mais cadavérica
imobilidade, balbuciando sua exigência de uma ambulância – chegou a
sua hora. Ajoelho-me ao seu lado e ele diz: “Vou para o charco”. Como as-
sim? pergunto eu. “Vou virar sapo”. O príncipe que virou sapo, respondo,
pensando que nesta nossa primeira turnê artística ele viaja com sua na-
morada recente, é como uma lua de mel. Mas ele retruca, de modo ines-
perado: “Mensagem para o ACM”. Sem titubear digo que “estou fora”,
não sou amigo do ACM, melhor mandar o ACM para o charco e ficarmos
nós dois do lado de fora. Depois a situação se alivia, ao invés da ambu-
lância ele pede um cheesburger do McDonald´s, conversamos sobre o
resultado da loteria em que apostamos juntos e o que faremos com os
milhões que nos esperam. Ouço os aplausos finais vindos de dentro do
122 Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013.
O teatro da loucura
teatro, o público começa a retirar-se. O que eles vêem quando saem pela
mesma portinhola que dá para rua é Hades, rei do inferno (meu persona-
gem) ajoelhado aos pés de Caronte morto-vivo, pelo que recebemos uma
reverência respeitosa de cada espectador que passa por nós, para quem
essa cena íntima parece fazer parte do espetáculo. Foi tudo por um triz, é
por um triz que nos apresentamos, é por um triz que não morremos, mas
nada disso deve ser ocultado, é um ingrediente que faz parte e faz parte
dessa estética, ou dessa ética.
Passo agora a meu segundo exemplo. É o primeiríssimo ensaio
da Cia. realizado ainda nas dependências do Hospital-Dia “A Casa”. Num
exercício teatral sobre os diferentes modos de comunicação entre seres
vivos, pergunta-se a cada pessoa do grupo que outras línguas fala, além
do português. Um paciente que nunca fala, apenas emite um som anasa-
lado semelhante a um mantra disforme, responde imediatamente e com
grande clareza e segurança, de todo incomuns nele: alemão! Surpresa
geral, ninguém sabia que ele falava alemão. E que palavra você sabe em
alemão? Ueinzz. E o que significa Ueinzz em alemão? Ueinzz. Todos riem
– eis a língua que significa a si mesma, que se enrola sobre si, língua
esotérica, misteriosa, glossolálica. Às vezes ela é acompanhada de um
dedo em riste, outras de uma excitação que desemboca num jorro de
urina calça abaixo. Inspirados no material coletado nos laboratórios, os
diretores trazem ao grupo sua proposta de roteiro: uma trupe nômade,
perdida no deserto, sai em busca de uma torre luminosa, e no caminho
cruza obstáculos, entidades, tempestades. Ao cruzar um oráculo, em sua
Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013. 123
Peter Pál Pelbart
língua sibilina, ele deve indicar o rumo que convém aos andarilhos. O ator
para o oráculo é prontamente designado: é este que fala alemão. Ao lhe
perguntarem onde fica a torre Babelina, ele deve responder: Ueinzz. O
paciente entra com rapidez no papel, tudo combina, o cabelo e bigode
bem pretos, o corpo maciço e pequeno de um Buda turco, seu jeito es-
quivo e esquizo, o olhar vago e perscrutador, de quem está em constante
conversação com o invisível. É verdade que ele é caprichoso, quando lhe
perguntam: Grande oráculo de Delfos, onde fica a torre Babelina? Às ve-
zes ele responde com um silêncio, outras com um grunhido, outras ele
diz Alemanha, ou Bauru, até que lhe perguntam mais especificamente,
Grande oráculo, qual é a palavra mágica em alemão? E aí vem, infalível,
o Ueinzz que todos esperam. De qualquer modo, o mais inaudível dos
pacientes, o que faz xixi na calça e vomita no prato da diretora, caberá a
ele a incumbência crucial de indicar ao povo nômade a saída das Trevas
e do Caos. Depois de proferida, sua palavra mágica deve proliferar pelos
alto-falantes espalhados pelo teatro, girando em círculos concêntricos e
amplificando-se em ecos vertiginosos, Ueinzz, Ueinzz, Ueinzz. A voz que
em geral desprezávamos porque não ouvíamos, a ruptura a-significante,
como diria Guattari, encontra aí, no espaço cênico e ritual, uma eficácia
mágico-poética. Quando a peça é batizada com esse som, temos dificul-
dade em imaginar como se escreve isto: Wainz, ou weeinzz, ou ueinz? O
convite vai com weeinz, o folder com ueinzz, o cartaz brinca com as pos-
sibilidades de transcrição, numa grande variação babélica. Hoje somos a
Cia. Teatral Ueinzz.
124 Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013.
O teatro da loucura
Aí vai, por fim, um último fragmento, que extrapola o domínio te-
atral. Fomos convidados, recentemente, para um convívio de uma sema-
na com os atores do Théâtre du Radeau, no Sul da França, num projeto de
afetação recíproca. O diretor daquela trupe é François Tanguy, um maluco
genial, que entrou com nossa trupe num grau de empatia, corpo-a-corpo,
comunicação xamânica dificilmente imaginável, apesar da barreira abso-
luta da língua. Ele circulava com uma barra de madeira que termina num
pente, um objeto que nós usaríamos para coçar nossas costas, mas que
lhe foi presenteado pelo Laymert Garcia dos Santos, que por sua vez o
recebeu de algum cacique do Xingu, e fez longas sessões com nossos ato-
res. Para os índios, esse instrumento serve para ir escarificando as cos-
tas do interlocutor durante uma conversa, e deixar no seu corpo alguma
marca do encontro. Tanguy usou esse mesmo princípio com nossos ato-
res. Enfim, tudo ali era surpreendente. Almoçávamos ouvindo o François
ler em voz alta O suicidado da sociedade, ao lado de um antropólogo mui-
to velho, amigo pessoal e editor de Artaud, e nessa atmosfera em que se
cruzavam artistas vindos de várias partes, um de nossos atores perguntou
certa vez a François se fomos convidados porque éramos anjos decaídos.
No último dia, antes de nossa apresentação, François colocou sobre as
costas desse ator uma imensa asa feita de pano caída, corroborando a
imagem do anjo decaído, e foi com ela que ele se apresentou. Foi nesse
ínterim que aconteceu o mais inusitado. Esse ator havia proposto a Lau-
rence, uma das atrizes da Cia. francesa, um casamento. Ela era bem mais
velha, talentosíssima, e quando compreendeu de maneira performática o
Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013. 125
Peter Pál Pelbart
teor da proposta, acolheu-a imediatamente. Terminada a apresentação,
então, ele lembrou do casamento, e num clima feérico, aconteceu um
casamento festivo, com véu de noiva, o noivo foi vestido com uma suntuosa
capa de príncipe russo, uma giganesca máscara de veado, rendada e trans-
parente, todos os convivas vestiram perucas exóticas, e assim deu-se o
casamento do anjo caído e a atriz calejada. Algo do limite entre razão
e desrazão, loucura e sanidade, fantasia e realidade, foi aí deslocado, e
assumido coletivamente, ritualmente, performaticamente. A atriz, que
nunca havia casado, agradeceu a ele e insistitu que ele era a única pessoa
no mundo que poderia ter-lhe proposto isso.
Bem, não sou especialista da área de teatro, performance, nem
sequer das artes, mas a partir de minha frequentação nessa interface en-
tre a filosofia, o domínio subjetivo e uma certa dimensão micropolítica,
gostaria de levantar algumas questões que talvez possam servir nesse
contexto, sobretudo para pensar a relação entre práticas estéticas e vidas
precárias no contexto contemporâneo, e que eu vou chamar, por como-
didade, de contexto biopolítico, onde o embate se dá em torno da vida,
do seu domínio, do seu estatuto, da sua potência.
Partamos do mais simples. A matéria-prima nesse trabalho tea-
tral é a subjetividade singular dos atores, e nada mais. Isto é, o que está
em cena é uma maneira de perceber, de sentir, de vestir-se, de mover-se,
de falar, de pensar, mas também uma maneira de representar sem repre-
sentar, de associar dissociando, de viver e de morrer, de estar no palco
e sentir-se em casa simultaneamente, nessa presença precária, a um só
126 Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013.
O teatro da loucura
tempo plúmbea e impalpável, que leva tudo extremamente a sério e ao
mesmo tempo “não está nem aí”, como o definiu depois de sua participa-
ção musical numa das apresentações o compositor Livio Tragtemberg – ir
embora no meio do espetáculo atravessando o palco com a mochila na
mão porque sua participação já acabou, ora largando tudo porque che-
gou a sua hora e vai-se morrer em breve, ora atravessar e interferir em to-
das as cenas como um líbero de futebol, ora conversar com o seu ‘ponto’
que deveria estar oculto, denunciando sua presença, ora virar sapo... Ou
então grunhir, ou coaxar, ou como os nômades de Kafka em A Muralha
da China, falar como as gralhas, ou apenas dizer Ueinzz... O cantor que
não canta, quase como Josefina, a dançarina que não dança, o ator que
não representa, o herói que desfalece, o imperador que não impera, o
prefeito que não governa – a comunidade dos que não têm comunidade.
Não consigo deixar de pensar que é esta vida em cena, “vida por
um triz”, que faz uma das peculiaridades desse trabalho, e que dá às ve-
zes a impressão, para alguns espectadores, de que são eles os mortos-
-vivos, e que a vida verdadeira está do lado de lá do palco. Num contexto
marcado pelo controle da vida (biopoder), as modalidades de resistên-
cia vital proliferam de maneiras as mais inusitadas. Uma delas consiste
em pôr literalmente a vida em cena, não a vida nua e bruta, como diz
Agamben, reduzida pelo poder ao estado de sobrevida, em meio ao nii-
lismo terminal que presenciamos a cada dia, a vida besta, a vida bovina,
o ciberzumbi, o homo otarius que cruzamos a cada esquina e que nós
mesmos somos diariamente, mas a vida em estado de variação, modos
Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013. 127
Peter Pál Pelbart
“menores” de viver que habitam nossos modos maiores e que no palco
ou fora dele ganham às vezes visibilidade cênica ou performática, mes-
mo quando se está à beira da morte ou do colapso, da gagueira ou do
grunhido, do delírio coletivo, da experiência-limite. No âmbito restrito ao
qual me referi aqui, o teatro pode ser um dispositivo, entre outros, para a
experimentação hesitante e sempre incerta, inconclusa e sem promessa,
de reversão do poder sobre a vida em potência da vida, do biopoder em
biopotência, redesenhando inteiramente a geografia de nossa perversão,
expropriação, clausura, silenciamento, injustiça.
É nesse horizonte que, a meu ver, seria possível situar a referida
experiência de teatro. Há décadas atrás, Foucault ficou seduzido pelos ho-
mens infames, suas vidas insignificantes, sem glória, que por um jogo do
acaso foram iluminados por um átimo pelo holofote do poder com o qual se
defrontaram e cujas palavras pareciam atravessadas por uma intensidade
insólita. Talvez já não encontremos essas existences fulgurantes, embora
inessenciais, esses poemas vidas, “partículas dotadas de uma energia tanto
maior quanto menores e mais difíceis de serem detectadas.” Diluídos entre
os múltiplos mecanismos de poder anônimos, as palavras não gozam mais
daquela fulguração teatral e vibração fugaz que Foucault saboreava nos
arquivos – é a banalidade que toma o proscênio. Mas no seio dela, a par-
tir de uma autosubjetivação tateante, emissões de singularidade parecem
afirmar o desejo de outra coisa. Como diz Deleuze, estamos em busca de
uma vitalidade. Mesmo a psicanálise tem necessidade de dirigir-se a uma
vitalidade no doente, que a doença perdeu, mas a psicanálise também.
128 Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013.
O teatro da loucura
É nesse diapasão que eu diria que na esquizocenia, termo cunha-
do por um de nossos diretores para designar essa nossa prática, a loucura
pode tornar-se força biopolítica, biopotência. Mas o alcance dessa afirma-
ção extrapola em muito a loucura ou o teatro, e permitiria pensar a fun-
ção de dispositivos multifacéticos – ao mesmo tempo políticos, estéticos,
clínicos– na reinvenção das coordenadas de enunciação da vida. Nas con-
dições subjetivas e afetivas de hoje, um dispositivo “minúsculo” como o
que apresentei poderia ressoar com as urgências maiúsculas do presente.
__________
Notas
* Possui graduação em Filosofia pela Sorbonne (Paris IV- 1983) e doutorado em
Filosofia pela Universidade de São Paulo (1996). Atualmente é professor titular da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Trabalha com Filosofia Contemporânea,
atuando principalmente nos seguintes temas: Deleuze, Foucault, tempo, loucura,
subjetividade, biopolítica. É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq.
Referências Bibliograficas
ARTAUD, Antonin - Van Gogh O Suicida Da Sociedade. Tradução: Ferreira Gullar. Rio
de Janeiro: Ed. José Olympio, 2007
Poliética. São Paulo, v. 1, n. 1, pp. 119-129, 2013. 129
Você também pode gostar
- Etica Como Potencia e Moral Como ServidaoDocumento8 páginasEtica Como Potencia e Moral Como ServidaoErick VieiraAinda não há avaliações
- Lev Semynovicth Vygotsky-2013.2Documento12 páginasLev Semynovicth Vygotsky-2013.2Erick VieiraAinda não há avaliações
- Jogos de ImprovisoDocumento12 páginasJogos de ImprovisogilgmmAinda não há avaliações
- FichamentoAnalyzingPopularMusic TaggDocumento5 páginasFichamentoAnalyzingPopularMusic TaggErick VieiraAinda não há avaliações
- (Tese) RAUTER, Cristina. Clínica Do Esquecimento - Construção de Uma Superfície PDFDocumento100 páginas(Tese) RAUTER, Cristina. Clínica Do Esquecimento - Construção de Uma Superfície PDFLeo PingaAinda não há avaliações
- Coleção Primeiros Passos - O Que É Filosofia Da MenteDocumento25 páginasColeção Primeiros Passos - O Que É Filosofia Da MentePatrícia SantosAinda não há avaliações
- Eu e o Outro - o InvasorDocumento2 páginasEu e o Outro - o InvasorInês AmorimAinda não há avaliações
- A Psicologia Face Aos Novos Progressos Da Genética Humana - Rossano Dal-FarraDocumento14 páginasA Psicologia Face Aos Novos Progressos Da Genética Humana - Rossano Dal-FarraErick VieiraAinda não há avaliações
- Exercício de Revisão de Contabilidade GeralDocumento3 páginasExercício de Revisão de Contabilidade GeralErick VieiraAinda não há avaliações
- Relatorio - 2019 - ARTE FINAL - WebDocumento100 páginasRelatorio - 2019 - ARTE FINAL - WebErick VieiraAinda não há avaliações
- Metodologia Versao FinalDocumento71 páginasMetodologia Versao FinalErick VieiraAinda não há avaliações
- Ferreira, J. B. (2017) - Espelhos Partidos Têm Muito Mais LuasDocumento18 páginasFerreira, J. B. (2017) - Espelhos Partidos Têm Muito Mais LuasErick VieiraAinda não há avaliações
- Radice - Revisão Literatura PDFDocumento7 páginasRadice - Revisão Literatura PDFJulianoAinda não há avaliações
- A Psicologia Brasileira Nos Ciclos Democrático-Nacional e Democrático-PopularDocumento14 páginasA Psicologia Brasileira Nos Ciclos Democrático-Nacional e Democrático-PopularErick VieiraAinda não há avaliações
- Manual - Seleção PPGLitCult 2019Documento14 páginasManual - Seleção PPGLitCult 2019Erick VieiraAinda não há avaliações
- A Pesquisa Científica e A Psicologia - FoucaultDocumento21 páginasA Pesquisa Científica e A Psicologia - FoucaultRicardo Cabral0% (1)
- Texto Ana Bock PsicologiaDocumento15 páginasTexto Ana Bock PsicologiaMarcelo FerreiraAinda não há avaliações
- A Imagem Do Corpo No Teatro Das Emoções e Dos Sentimentos - Sérgio GomesDocumento30 páginasA Imagem Do Corpo No Teatro Das Emoções e Dos Sentimentos - Sérgio GomesErick VieiraAinda não há avaliações
- A Mente em HumeDocumento9 páginasA Mente em HumeCaio SarackAinda não há avaliações
- (Eu) Sou Porque - (Nos) Fomos A Extensao Universitaria e Seus Efeitos No Psicólogo em Construcao Erick Vieira-CompactadoDocumento11 páginas(Eu) Sou Porque - (Nos) Fomos A Extensao Universitaria e Seus Efeitos No Psicólogo em Construcao Erick Vieira-CompactadoErick VieiraAinda não há avaliações
- Relações de Poder - Trimestre 2Documento4 páginasRelações de Poder - Trimestre 2Erick VieiraAinda não há avaliações
- Exercício de Revisão de Contabilidade GeralDocumento3 páginasExercício de Revisão de Contabilidade GeralErick VieiraAinda não há avaliações
- As Relações de Poder Segundo Michel FoucaultDocumento22 páginasAs Relações de Poder Segundo Michel FoucaultEduardo MadeiraAinda não há avaliações
- 24 7 - Capitalismo Tardio e Os Fins Do SonoDocumento15 páginas24 7 - Capitalismo Tardio e Os Fins Do SonoTiago NascimentoAinda não há avaliações
- Cap4 Projeto de Ser e SituaçãoDocumento33 páginasCap4 Projeto de Ser e SituaçãoErick VieiraAinda não há avaliações
- Cap1 Exist e TemporalidadeDocumento18 páginasCap1 Exist e TemporalidadeErick VieiraAinda não há avaliações
- MEAC UFC - ToxoplasmoseDocumento3 páginasMEAC UFC - ToxoplasmosesandraAinda não há avaliações
- Maus Tratos Contra AnimaisDocumento27 páginasMaus Tratos Contra AnimaisLeonardo Da Silva CarvalhoAinda não há avaliações
- SOUSA. Jansenismo.Documento10 páginasSOUSA. Jansenismo.Murilo GarciasAinda não há avaliações
- Teste de Invasão de Aplicações WebDocumento513 páginasTeste de Invasão de Aplicações WebEscola Superior de Redes99% (98)
- Assim Caminha A Insensatez - A Maconha, Suas Marchas, Contramarchas e Marchas À RéDocumento258 páginasAssim Caminha A Insensatez - A Maconha, Suas Marchas, Contramarchas e Marchas À Rédenilsoncdearaujo101Ainda não há avaliações
- 19 Roteiro para Crianças Menores e Maiores Armadura Parte 7 QuarentenaDocumento10 páginas19 Roteiro para Crianças Menores e Maiores Armadura Parte 7 QuarentenaDgelicaAinda não há avaliações
- Prova Mestrado 2014 1Documento11 páginasProva Mestrado 2014 1jefersun559Ainda não há avaliações
- Manual Irda 862 220vDocumento38 páginasManual Irda 862 220vTony RodriguesAinda não há avaliações
- ExtintoresDocumento7 páginasExtintoresDanielle VieiraAinda não há avaliações
- Ciências HumanasDocumento4 páginasCiências HumanasthaissperandioAinda não há avaliações
- Patrimônio - SeminárioDocumento34 páginasPatrimônio - SeminárioAngelo Julio de SouzaAinda não há avaliações
- D (5) Razões Trigonométricas (Sen, Cos e TangDocumento13 páginasD (5) Razões Trigonométricas (Sen, Cos e TangSelma Eliane Quatroque TavaresAinda não há avaliações
- Procedimento Atualizacao RastherDocumento9 páginasProcedimento Atualizacao RastherTulio ClementeAinda não há avaliações
- Apostila IncompatibilidadeDocumento83 páginasApostila IncompatibilidadequalidadealsAinda não há avaliações
- 04-Planejamento Da Classe de Pioneiro - ConselheirosDocumento3 páginas04-Planejamento Da Classe de Pioneiro - Conselheirosweslley set7Ainda não há avaliações
- ATO de 30 de Marco de 1891rosileneDocumento44 páginasATO de 30 de Marco de 1891rosilenemárcia_benetãoAinda não há avaliações
- Monumentos Barrocos Desconhecidos Ao Longo Das Estradas ReaisDocumento7 páginasMonumentos Barrocos Desconhecidos Ao Longo Das Estradas ReaisnilzacantoniAinda não há avaliações
- Como Calcular Concreto para LajeDocumento9 páginasComo Calcular Concreto para Lajealexandre ferreiraAinda não há avaliações
- Listas 456Documento6 páginasListas 456Abrão AntónioAinda não há avaliações
- Trabalho de FísicaDocumento7 páginasTrabalho de FísicaGOD PODCASTAinda não há avaliações
- Tese Alencar de Miranda Amaral - PPG ArqueologiaDocumento347 páginasTese Alencar de Miranda Amaral - PPG Arqueologiagraciele tulesAinda não há avaliações
- Programa Nacional de Saúde Reprodutiva DGSDocumento19 páginasPrograma Nacional de Saúde Reprodutiva DGSInês Sofia RosadoAinda não há avaliações
- Estimulantes SNCDocumento37 páginasEstimulantes SNCWalter Mendes JuniorAinda não há avaliações
- Catalogo CC 2023bDocumento113 páginasCatalogo CC 2023bmegs.cosmeticosAinda não há avaliações
- 9 Ano Prova I BimDocumento3 páginas9 Ano Prova I BimMagda RodriguesAinda não há avaliações
- Acs 1 12a Ne IiiDocumento1 páginaAcs 1 12a Ne IiiGenito JohnAinda não há avaliações
- 6 Lista de Exercícios para RhaissaDocumento10 páginas6 Lista de Exercícios para RhaissaLeandro CardosoAinda não há avaliações
- A Etnomatemática Do Povo IndígenaDocumento174 páginasA Etnomatemática Do Povo IndígenaElisangela MeloAinda não há avaliações
- A História Secreta Do Brasil 01 - Gustavo BarrosoDocumento74 páginasA História Secreta Do Brasil 01 - Gustavo BarrosoAlonso Mota Pereira100% (4)
- Indicação: Avaliação Coronariana: Detectores, Com Injeção de Contraste Iodado Não-Iônico e SincronizaçãoDocumento3 páginasIndicação: Avaliação Coronariana: Detectores, Com Injeção de Contraste Iodado Não-Iônico e SincronizaçãothamiresmoraisadmAinda não há avaliações