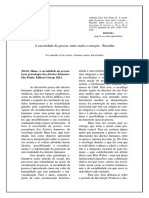Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Utopia, Distopia e Historia
Enviado por
Jean Paul d'AntonyTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Utopia, Distopia e Historia
Enviado por
Jean Paul d'AntonyDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Utopia, distopia e história *
Carlos Eduardo Ornelas Berriel
Salvo melhor juízo, as utopias (principalmente no seu século inicial, em que o gênero
ainda se afirmava e constituía seus delineamentos) são geradas por dois princípios
distintos: 1) a partir de uma experiência histórica, como metáfora (a de Morus é
exemplar como metáfora da Inglaterra concreta), e 2) a partir de uma Idéia, de uma
construção abstrata que desce do Céu para a Terra (sendo a Civitas Solis o melhor
exemplo, como formalização da racionalidade restritiva tridentina). Desta hipótese
surge a idéia de ser a distopia primordialmente oriunda deste segundo princípio, da série
distópica derivar das utopias desligadas do mundo empiricamente concreto.
É bem sabido que a distopia nasceu da utopia, e que ambas expressões são estreitamente
ligadas. Há em toda utopia um elemento distópico, expresso ou tácito, e vice-versa. A
utopia pode ser distópica se não forem compartilhados os pressupostos essenciais, ou
utópica a distopia, se a deformação caricatural da realidade não for aceita. A distopia,
que revela o medo da opressão totalizante, pode ser vista como o oposto especular da
própria utopia. É preciso considerar a relatividade daquilo a que se referia Margareth
Mead, quando avisava ser o sonho de um o pesadelo do outro. Afinal, o sonho de um
pode ser perfeitamente inócuo para o outro. Trata-se principalmente da constatação de
que o “sonho” perfeito de um, quando é oriundo de um constructo abstrato (que é
efêmero mas se quer eterno, que é singular mas se imagina universal, que aspira a
decretar o fim da História por se crer o ponto de chegada da vida humana), este sonho é
o que gera o pesadelo da distopia.
Julga Bronislaw Baczco que “a utopia não orienta por si só o curso da história: em
função do contexto no qual se coloca, essa corresponde aos desejos e às esperanças
coletivas (...). Todavia, nenhuma utopia carrega em si o cenário histórico para o qual
contribuiu eventualmente para sua realização: nenhuma utopia prevê o seu próprio
destino histórico, o próprio futuro” (“Finzione storiche e congiunture utopiche”, in Nell’
anno 2000 – Dall’utopia all’ucronia. Leo S. Olschki editore, Firenze, MMI). Em outras
palavras: as utopias, partindo de elementos reais, reconstroem todas as Histórias
possíveis, todos os cenários que a História não realizou. A raiz desta idéia vem da
* In: Editorial da MORUS – Utopia e Renascimento 2, 2005, p. 4-10.
Poética de Aristóteles, onde está dito ser a poesia mais ampla que a História, pois
realiza até o fim aquilo que a História apenas esboçou. Hegel conceituará uma realidade
notavelmente rica, em que o existente contará com várias dimensões – todas reais.
Aquilo que aparece como uma tendência concreta, mesmo que não venha a se efetivar,
também ganha estatuto de realidade. A utopia legaliza-se filosoficamente aí: é uma
tendência da realidade, operante e efetiva, mas que não se efetiva enquanto Estado.
Habita a dimensão ética. A sua condição de gênero está nos quesitos tendência de
realidade e não-efetividade.
A relação entre real e ilusório é estreitíssima na utopia, assim como no relato das
viagens de descobertas. O imaginário estrutura a experiência real, enquanto esta serve
de base para as elaborações posteriores: as fronteiras entre real e ilusório são, assim,
indefinidas. Na utopia, o ideal se sobrepõe ao real com o mesmo compromisso com que,
nas viagens de descobertas, une real e ilusório: as fronteiras entre verdadeiro e falso se
diluem.
São muito diferentes as perspectivas pelas quais os autores de utopias e distopias
edificam as suas construções; ambas, entretanto, são regidas pelas mesmas leis, como a
tragédia e a comédia também o são, segundo o juízo clássico, aristotélico. Podemos
considerar que:
a) a utopia clássica se desenvolve construindo um hiato (insanável) entre a História real
e o espaço reservado para as projeções utópicas; a descoberta de um país distante, até
então ignorado (como no enredo de Morus, Campanella e outros) se tornou símbolo de
uma fratura não apenas geográfica, mas, sobretudo histórica;
b) a distopia busca colocar-se em continuidade com o processo histórico, ampliando e
formalizando as tendências negativas operantes no presente que, se não forem
obstruídas, podem conduzir, quase fatalmente, às sociedades perversas (a própria
distopia).
Na utopia, a sociedade configurada histórica, cultural e politicamente é formalizada com
o objetivo de ser superada através da imagem da Cidade ideal instaurada. Neste sentido
é exemplar a adoção, por parte de muitos utopistas, do conto de uma viagem aventurosa
que faz o narrador desembarcar em uma terra desconhecida. Tal presença reveste na
utopia um papel fundamental: constitui aquela fratura espaço-temporal que permite a
existência mesma da representação utópica; o longo percurso permite ao narrador deixar
atrás de si a sua própria experiência social, política, religiosa e econômica para viver em
um mundo cujo isolamento geográfico, e conseqüentemente histórico e cultural, criou
instituições e costumes que nada têm em comum com a realidade originária do viajante.
Somos assim colocados frente a uma sociedade radicalmente diversa; mas tal
diferenciação na utopia se torna contraposição especular: a estrutura negativa da
organização humana existente é sobreposta àquela estrutura positiva da Cidade Nova
imaginada. Desta maneira, o utopista procura superar a realidade contingente propondo,
como alternativa, uma sociedade perfeita enquanto racionalmente fundada.
Ao contrário, na distopia a realidade não apenas é assumida tal qual é, mas as suas
práticas e tendências negativas, desenvolvidas e ampliadas, fornecem o material para a
edificação da estrutura de um mundo grotesco. Em suma, é próprio da dimensão
histórica a determinação da diferença entre a utopia e a distopia: o lugar feliz imaginado
é realmente um não-lugar, no sentido em que não se coloca espacialmente na história
mesma de quem escreve; porque aquilo que deseja o utopista é «mostrar» aos homens a
imagem de um mundo feliz e racional, e através desta demonstração admoestá-los para
que se sintam compungidos a imprimir energicamente à História um sentido diverso
daquele até então predominante.
Como já se sabe, a utopia de Morus tem uma base real, que é a Inglaterra de fato, que
nesta obra é severamente estudada. Ela, a Utopia, não é o produto de um delírio, mas
nasceu das necessidades concretas de combater o destino, de fundar uma “segunda
natureza” para o homem – a História. Esta é a face generosa da utopia.
Mas nem todos os exemplos desse gênero foram assim. As utopias da Contra Reforma
não partiram de uma sociedade usada como referência, portanto transfiguradas, mas
conceberam uma polis e uma vida coletiva a partir de conceitos abstratos elaborados por
uma Igreja intensamente defensiva. São metástases dos conventos e dos mosteiros, em
que as práticas necessárias da vida extra-monacal (trabalho, convivência, casamento,
reprodução, representação política, etc.) passam por um completo regramento que
retiram dessas mesmas atividades a espontaneidade civil, e são traduzidas em disciplina
clerical. Isso é central e constitutivo no orwelliano 1984, por exemplo.
A distopia, portanto, é o alongamento do perfil das utopias construídas a partir de
proposituras abstratas, e não de metáforas ou alegorias. O controle social absoluto, a
partir das consciências, nascido na Contra Reforma, conduziu a uma variante de utopias,
que encontra na Civitas Solis sua plena expressão, seu melhor exemplo, que fornecerá
os elementos para a futura distopia. Esta não surge inesperadamente, como um raio num
céu azul, mas já respirava nas anteriores utopias da Contra Reforma (Agostini, Patrizi,
Buonamico).
A noção de perfectibilidade social, então, não nasce – nem poderia nascer - de uma
experiência humana concreta, geradora de problemas solúveis, mas nasce
incontaminada pela História, nasce como constructo ideal, em que a dimensão empírica
do homem está removida. A solidão que emana das pinturas de Piero della Francesca
sobre a cidade ideal (em que pese a especificidade de suas condições de realização) diz
muito sobre isso; não são cidades construídas para o homem realmente existente, mas
um conjunto no qual a arquitetura e o urbanismo cederam lugar e substância à escultura,
e a presença humana desequilibra e borra o conjunto. Sua racionalidade resulta áspera, e
seus índices de condução à emancipação da vida associada mesclam-se ao seu oposto, à
sua própria negação: como Édipo em Colono, o indivíduo acaba expurgado da polis que
ele libertou da quimera enigmática.
Existiram dois momentos centrais da História marcados pela intolerância, e que
possivelmente forneceram os elementos fundantes da distopia; foram duas conjunções
sociais frágeis, instáveis, defensivas – apesar da aparência em contrário: a Igreja
Católica tridentina e o Estado soviético. Essas instituições, no seu processo afirmativo,
criaram a ilusão de serem perfeitas por não poderem suportar a dissensão – o que
efetivamente poderia destruí-las. A ilusão de serem formas perfeitas, utopias já
realizadas, gerou, ainda que involuntariamente, o material que será formalizado na
distopia.
A abstração social tridentina talvez possua um equivalente no hiper-racionalismo de
tipo soviético, que derivou de Lênin e alcançou sua plena tradução com Stálin. As
utopias, ou o seu recurso imagético, encontraram um virtual obstáculo nas
manifestações do marxismo vulgar. Os Estados soviéticos desautorizaram e
implicitamente coibiram a reflexão utópica, por considerarem que a perfeição social já
estava obtida pela perfeita disposição do Estado para alcançar a perfectibilidade. O
desideratum oficial deveria bastar para dissuadir cogitações utópicas.O hiper-
racionalismo faz prevalecer uma concepção tida como racional (quando no fundo são
equações abstratas, filhas da engenharia política) mesmo quando ela apresenta sintomas
inquietantes, principalmente na forma da desintegração dos indivíduos - que são
removidos do universo problemático. Fogueiras quinhentistas e gulags modernos
acabaram formando uma simetria.
Quando Campanella construiu sua cidade perfeita como uma hipostasia da vida
monacal, estava implicitamente considerando a Igreja como a perfeição da vida
coletiva; quando a esquerda do século XX considerou a utopia um não-assunto, estava
considerando o coletivismo soviético como o ápice insuperável do viver associado.
Destas atitudes derivou a distopia.
A grande questão é aquilo que constitui a face oculta, o não-dito utópico: que a
perfectibilidade reside na completa previsão das ações e desejos humanos, que são
realizados antes mesmo de serem pensados. O Estado pensou antes e já o realizou. Ou o
vetou. Em termos mais amplos, a História não se efetivaria pela concreta experiência
humana, mas como produto de um Estado onisciente; a História apareceria como
subproduto das pulsões humanas, coadas pelo filtro estatal. O resíduo obstruído pelo
Estado acumular-se-ia aonde? A resposta será a distopia: ela é o resíduo obstruído pelo
Estado completamente racional.
A distopia é afinal, espelho da suspensão da História; sua imagem é o exílio da
humanidade, tornada resíduo, esta, pela razão enlouquecida. Aqueles que recentemente
teorizaram o fim da História, à sombra benevolente do capital financeiro, proclamavam
o pesadelo como se fosse uma boa nova.
Você também pode gostar
- Material de Apoio para Dep JA-AventureirosDocumento10 páginasMaterial de Apoio para Dep JA-AventureirosCleo Roger HeckAinda não há avaliações
- ApostilaDocumento45 páginasApostiladebate202075% (4)
- Tese Autismo PDFDocumento175 páginasTese Autismo PDFsusetevieira7193Ainda não há avaliações
- Pensar o Ambiente Bases Filosóficas para Educação AmbientalDocumento242 páginasPensar o Ambiente Bases Filosóficas para Educação AmbientalTiago AndréAinda não há avaliações
- Jung v036n02 PDFDocumento106 páginasJung v036n02 PDFMarcus Vinicius Neves Gomes100% (1)
- Terminalidade EspecificaDocumento2 páginasTerminalidade EspecificaFabiana Velasques Moura100% (1)
- Dona Ana Setembro 1Documento16 páginasDona Ana Setembro 1Héber Xavier Martins100% (1)
- Avaliação de Recuperação Final Filosofia 8ºano ADocumento2 páginasAvaliação de Recuperação Final Filosofia 8ºano ASaionara SantiagoAinda não há avaliações
- Apostila de Comportamento Organizacional para ConcursosDocumento53 páginasApostila de Comportamento Organizacional para ConcursosAchei ConcursosAinda não há avaliações
- Contribuições para Uma Pedagogia Da Educação On-LineDocumento12 páginasContribuições para Uma Pedagogia Da Educação On-LineVivi MartinsAinda não há avaliações
- Redação Gestão RHDocumento2 páginasRedação Gestão RHFernanda Severo80% (5)
- SLIDES - LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO-enfermagemDocumento29 páginasSLIDES - LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO-enfermagemMarcos RobertoAinda não há avaliações
- A Literatura ExigenteDocumento9 páginasA Literatura ExigenteManoela Rónai LimaAinda não há avaliações
- Sabemos Que Todas As Coisas Cooperam para o Bem Daqueles Que Amam A DeusDocumento11 páginasSabemos Que Todas As Coisas Cooperam para o Bem Daqueles Que Amam A Deusmagno86Ainda não há avaliações
- 30 Postagens para o InstagramDocumento35 páginas30 Postagens para o InstagramFernando Moura HerculanoAinda não há avaliações
- Curso de Telemarketing PDFDocumento68 páginasCurso de Telemarketing PDFlobogris01Ainda não há avaliações
- Curso de Liderança Igreja FamiliarDocumento152 páginasCurso de Liderança Igreja FamiliarNélio MeloAinda não há avaliações
- Modelo de Jogo - PDF Zago 1Documento9 páginasModelo de Jogo - PDF Zago 1carlostazhcAinda não há avaliações
- Literatura InfantilDocumento204 páginasLiteratura InfantilEudair StiebeAinda não há avaliações
- Mogendorff Janine A Escola de Frankfurt e Seu LegadoDocumento8 páginasMogendorff Janine A Escola de Frankfurt e Seu LegadoAtahualpaSarmentoAinda não há avaliações
- Planejamento Anual de Ensino Religioso 2013Documento16 páginasPlanejamento Anual de Ensino Religioso 2013Fábio Bill Dias Silveira67% (3)
- Desenhos EstereotipadosDocumento5 páginasDesenhos Estereotipadosjanalucius100% (1)
- Idos de MarçoDocumento13 páginasIdos de MarçoAndré AquinoAinda não há avaliações
- Arquivo Da Agressividade em PsicanáliseDocumento23 páginasArquivo Da Agressividade em PsicanáliseIndiana Oliveira Do MonteAinda não há avaliações
- Ferramentas de Seleção de PessoalDocumento6 páginasFerramentas de Seleção de PessoalFábioAinda não há avaliações
- Como Os Homens Pensam e SentemDocumento3 páginasComo Os Homens Pensam e SentemRubens MazziniAinda não há avaliações
- A Sacralidade Da Pessoa Entre Razao e em PDFDocumento4 páginasA Sacralidade Da Pessoa Entre Razao e em PDFicaroyuresocioAinda não há avaliações
- Apostila de Metodologia CientíficaDocumento13 páginasApostila de Metodologia CientíficaWoshington Valdeci0% (1)
- Psicologia Positiva e Transtornos Relacionados A Substâncias Psicoativas: Uma Revisão IntegrativaDocumento14 páginasPsicologia Positiva e Transtornos Relacionados A Substâncias Psicoativas: Uma Revisão IntegrativaMarianna R. Guimarães LameirasAinda não há avaliações
- Ao Mestre Com CarinhoDocumento3 páginasAo Mestre Com CarinhoAline TozettoAinda não há avaliações