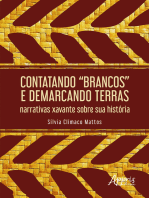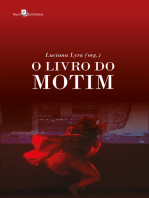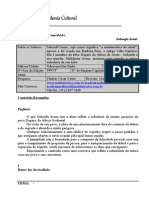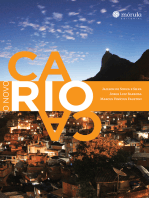Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Virada Testemonhal Do Saber Historico
A Virada Testemonhal Do Saber Historico
Enviado por
oneiverarellanoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Virada Testemonhal Do Saber Historico
A Virada Testemonhal Do Saber Historico
Enviado por
oneiverarellanoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
a virada testemunhal
e decolonial do saber histórico
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 1 18/07/2022 15:19:25
Universidade Estadual de Campinas
Reitor
Antonio José de Almeida Meirelles
Coordenadora Geral da Universidade
Maria Luiza Moretti
Conselho Editorial
Presidente
Edwiges Maria Morato
Alexandre da Silva Simões – Carlos Raul Etulain
Cicero Romão Resende de Araujo – Dirce Djanira Pacheco e Zan
Iara Beleli – Iara Lis Schiavinatto – Marco Aurélio Cremasco
Pedro Cunha de Holanda – Sávio Machado Cavalcante
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 2 18/07/2022 15:19:25
márcio seligmann-silva
A virada testemunhal
e decolonial do saber histórico
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 3 18/07/2022 15:19:25
ficha catalográfica elaborada pelo
sistema de bibliotecas da unicamp
diretoria de tratamento da informação
bibliotecária: maria lúcia nery dutra de castro – crb-8a / 1724
Se48v Seligmann-Silva, Márcio, 1964-
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico / Márcio Seligmann-
-Silva. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2022.
1. Pós-colonialismo. 2. Memória na arte. 3. Cultura - História. 4. Negacionismo.
I. Título
CDD – 325.3
– 701
isbn 978-85-268-1531-5 – 320.569
Copyright © Márcio Seligmann-Silva
Copyright © 2022 by Editora da Unicamp
As opiniões, hipóteses, conclusões e recomendações expressas
neste livro são de responsabilidade do autor e não
necessariamente refletem a visão da Editora da Unicamp.
Direitos reservados e protegidos pela lei 9.610 de 19.2.1998.
É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização,
por escrito, dos detentores dos direitos.
Impresso no Brasil.
Foi feito o depósito legal.
Direitos reservados à
Editora da Unicamp
Rua Sérgio Buarque de Holanda, 421 – 3o andar
Campus Unicamp
CEP 13083-859 – Campinas – SP – Brasil
Tel.: (19) 3521-7718 / 7728
www.editoraunicamp.com.br – vendas@editora.unicamp.br
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 4 18/07/2022 15:19:25
Para Ariani
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 5 18/07/2022 15:19:25
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 6 18/07/2022 15:19:25
History is not the past.
It is the present.
We carry our history with us.
We are our history.
If we pretend otherwise, we literally are criminals.
James Baldwin (2017, p. 107)
[A história não é o passado.
É o presente.
Carregamos nossa história conosco.
Nós somos a nossa história.
Se fingirmos o contrário, somos literalmente criminosos.]
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 7 18/07/2022 15:19:25
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 8 18/07/2022 15:19:25
sumário
Apresentação .. .................................................................................................................................... 11
Introdução ........................................................................................................................................... 15
1. “Da ars memoriae aos estudos de memória pós-coloniais” ....................... 27
2. O tempo depois das catástrofes .. ................................................................................... 113
3. Narrar o trauma .. ..................................................................................................................... 141
. A era do trauma ....................................................................................................................... 163
5. O que resta do testemunho .............................................................................................. 171
6. O local do testemunho ........................................................................................................ 187
7. Anistia e (in)justiça no Brasil .. ....................................................................................... 205
8. Do revisionismo ao negacionismo: pensando uma escrita
da história crítica como resistência ao apagamento ....................................... 223
9. Grande sertão: veredas como gesto testemunhal e confessional ............... 249
10. Violência, encarceramento, (in)justiça: memórias de histórias
reais das prisões paulistas .. ............................................................................................... 267
11. Novos escritos dos cárceres: uma análise de caso .. .......................................... 285
12. A colônia penal de Kaf ka, ou as vicissitudes da colonialidade .............. 311
Palavras finais .. ................................................................................................................................. 337
Bibliografia ......................................................................................................................................... 343
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 9 18/07/2022 15:19:25
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 10 18/07/2022 15:19:25
apresentação
Maria Eugenia Cabaleda: “Realmente creio que as fotografias são a única
forma pela qual podemos visualizar a desaparição forçada na Colômbia e
especialmente em Antioquia, onde temos mais desaparecidos”.
Museo Casa de la Memoria, Medellin, Antioquia, Colombia1
Ana González: “Não ter foto da família é como
não ser parte da história da humanidade”.
La ciudad de los fotografos, documentário, Sebastián Moreno, 2006
Aproveitei o período da pandemia para organizar e compor este livro
que já gestava havia anos. Enclausurado, por conta de um vírus fatal, quase
como um testemunho de minha existência e também como um testamento,
retomei meus trabalhos e minhas notas para produzir esta publicação. Tanto
o conceito de testemunho como o de testamento possuem a mesma raiz, test-,
que de certo modo estrutura estes textos. Atestar, testemunhar, deixar um
testamento, estamos falando de gestos, de atitudes associadas à nossa relação
com o mundo. Veremos como Benveniste vai associar essa raiz ao istor, de
“história”, e à noção de visualidade, de testemunhar visualmente. Enclausurado,
passei a testemunhar minhas memórias, a recolecionar minhas ideias. Era (e
é) como se a possibilidade de desaparição tivesse disparado um dispositivo de
inscrição da vida, um “testemunho que vivi”, para parafrasear Pablo Neruda. A
biologia explica esse fenômeno, afinal, também as quaresmeiras aqui da minha
casa floram cada vez mais – com a piora da poluição. Diante da ameaça de
extinção, queremos dar um testemunho. O absurdo contido nessa afirmação
é evidente, pois, se a humanidade vai desaparecer, por que, por quem e para
quem testemunhar?
Mas esse paradoxo apenas radicaliza outro, já presente ao longo do século
XX: na era moderna, o testemunho tornou-se cada vez mais uma contradição.
Nosso sentido de história mudou de modo tão radical que não nos sentimos
mais associados a uma “tradição”. Podemos testemunhar apenas um frágil
presente, como em blogs ou em posts nas redes sociais, que logo são lavados
pela constante avalanche de novas postagens. Walter Benjamin já percebera
essa despedida da tradição, muito tempo antes, devido ao triunfo da técnica
da fotografia e do cinema. Em meados dos anos 1930 ele escreveu:
11
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 11 18/07/2022 15:19:25
apresentação
A autenticidade de uma coisa é a quintessência de tudo que nela é originalmente
transmissível, desde sua duração material até o seu testemunho histórico. Como
este testemunho está fundado sobre a duração material, no caso da reprodução,
onde esta última tornou-se inacessível ao homem, também o primeiro – o
testemunho histórico da coisa – torna-se instável. E somente isso; mas aquilo
que com isso se desestabiliza é a autoridade da coisa, seu peso tradicional. [...] a
técnica reprodutiva desliga o reproduzido do campo da tradição. Ao multiplicar a
reprodução, ela substitui sua existência única por uma existência massiva.2
O cinema implicava, segundo Benjamin, a “liquidação do valor da tradição
na herança cultural”.3 Nesse sentido, minha sensação diante da urgência do
testemunho só fez se radicalizar. Estamos falando de um duplo vazio, um
originário (nossas sociedades modernas não possibilitam mais o testemunho)
e outro futuro: deu um bug na humanidade, o futuro se apagou! Mas escrevi.
A outra opção poderia ser abrir mão dessa inscrição e “deixar a peteca cair”...
Nietzsche decerto foi o primeiro profeta do esquecimento na era moderna.
Sua relação com a tradição e a memória era o negativo do culto historicista do
passado do século XIX. Daí suas formulações extremas:
Como fazer no bicho-homem uma memória? Como gravar algo indelével nessa
inteligência voltada para o instante, meio obtusa, meio leviana, nessa encarnação
do esquecimento? [...] Grava-se algo a fogo, para que fique na memória: apenas o
que não cessa de causar dor fica na memória.4
Por outro lado, essa associação entre dor e memória não deixa de conter
uma verdade indiscutível. Freud, poucas décadas depois dessas palavras de
Nietzsche, teorizou essa dor em termos do conceito de “trauma”. Para ele, os
traumatizados sofrem de “memória demais”. A memória do trauma é ambígua,
“latente”, igualmente banhada no rio Lete (do esquecimento) e no rio da
Memória. A questão justamente é como lidar com essas inscrições do trauma,
como inscrevê-las, como elaborá-las. Neste livro proponho uma discussão
desses temas a partir de um outro excesso correlato a esse “excesso traumático
de memória”, a saber, a violência inerente ao processo da Modernidade. Essa
violência é tanto biotanatopolítica, ou seja, é fatal, como também é memoricida
e negacionista: carrega em seu bojo uma contínua política do apagamento e
do esquecimento.
12
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 12 18/07/2022 15:19:25
a virada testemunhal e decolonial do saber histórico
Meu dilema inicial, portanto, ao proceder a esta minha operação
testemunhal, não deixava de ser absolutamente autoperformático com relação
ao meu tema: como escrever sobre os testemunhos – e a partir deles – em uma
era duplamente alheia à construção de memórias, seja pelas características da
técnica moderna, seja pela violência da Modernidade. Mas essa mesma técnica
é paradoxal e ambígua. Pois, se a fotografia estabeleceu um corte em nossa
relação com a tradição, com o passado e com a morte, ela também instituiu
um poderoso meio de inscrição do próprio apagamento. Assim, lemos nas
duas epígrafes desta apresentação declarações de mulheres latino-americanas
que se referem à fotografia como um dispositivo essencial no testemunho e na
sobrevida em um território particularmente marcado por políticas estatais de
desaparecimento, ou seja, a América Latina. Dessas tensões e ambiguidades
devem se desdobrar os capítulos deste livro. São tentativas, sempre parciais,
de enfrentar esses dilemas.
Não poderia deixar de fazer uma série de agradecimentos, correndo o risco
de esquecer amigos e colegas que me incentivaram, animaram e acolheram
ao longo deste percurso, mas aqui segue uma lista, tentativa cheia de gratidão
e esperança de mais encontros e diálogos. Antes de mais nada recordo meus
ex-alunos e pós-doutorandos: Paloma Vidal, Ilana Feldman, Antonio Barros de
Brito Junior, Aline Amsberg, Tiago Elídio da Silva, Jacqueline Ceballos Galvis,
Lua Gill da Cruz, Annita Costa Malufe, Augusto Sarmento-Pantoja, Abilio
Pacheco, Liniane Brum, Carlos André Ferreira, Pablo Gasparini, Markus
Lasch, Sabrina Sedlmayer Pinto, Alexia Cruz Bretas, Patrícia da Silva Santos,
Sheila Cabo Geraldo, Michelle Carreirão Gonçalves e Flávia Albergaria Raveli.
E a essas pessoas especiais: Adalberto Müller, Ana Pato, Andrea Lombardi,
Andreas Knitz, Betty Fuks, Carol Jacobs, Caroline Silveira Bauer, Claudia
Gonçalves, David Foster, Diego Matos, Edson Luis André de Sousa, Edson Rosa
da Silva (in memoriam), Eduardo Sterzi, Élcio Cornelsen, Ernani Chaves, Fúlvia
Molina, Georg Otte, Giselle Beiguelman, Gonzalo Leiva, Helena Carvalhão
Buescu, Horst Hoheisel, Isabel Capeloa Gil, Jaime Ginzburg, Janaina Teles, João
Camillo Penna, Jochen Volz, Júlio Cézar Bentivoglio, Karl Erik Schøllhammer,
Kathrin Rosenfield, Kathrin Sartingen, Lais Myrrha, Lawrence Flores Pereira,
Leila Danziger, Lucia Maciel Barbosa de Oliveira, Luis Krausz, Luiz Costa
Lima, Manuel Vallecilla, Marcelo Brodsky, Marcelo Jacques de Moraes, Marcos
Napolitano, Maria Esther Maciel, Marília Bonas, Marina Ludemann, Mauricio
13
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 13 18/07/2022 15:19:25
apresentação
Cardozo, Miguel Vedda, Moacir dos Anjos, Nelson Camata, Olgária Mattos,
Paulo de Sousa Aguiar de Medeiros, Paulo Endo, Rachel Cecília de Oliveira
Costa, Ralph Buchenhorst, Raquel Mercado Salas, Ricardo Timm de Souza,
Roberto Vecchi, Rosana Kohl Bine, Rosane Kaminski, Rosangela Rennó, Sandra
Arenas, Sandra Berman, Sandra Lorenzano, Sigrid Weigel, Solange Farkas,
Susana Kampff Lages, Susanne Klengel, Susanne Zepp, Suzana Sacramin, Tania
Rivera, Tania Sarmento-Pantoja, Vera Casa Nova, Virginia Vecchioli, Willi
Bolle e Winfried Menninghaus.
Evidentemente, a certeza de que tudo isso vale a pena, apesar de tudo,
veio da pessoa a quem eu agradeço por último, justamente por ser a primeira:
Ariani Sudatti.
São Paulo, outubro de 2021
Notas
1
Disponível em <https://www.museocasadelamemoria.gov.co/RV/mnt/archivo/>. Acesso
em 30/10/2021. Quando não indicado explicitamente na bibliografia, todas as traduções
feitas neste livro são de minha responsabilidade.
2
Benjamin, 2013, p. 55.
3
Idem, ibidem.
4
Nietzsche, 1988b, p. 295; 1998, p. 50.
14
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 14 18/07/2022 15:19:25
introdução
Os poderes do testemunho e da arte da
memória na tarefa decolonial
Na paisagem da geografia mítica da Grécia antiga, dois rios paralelos
cruzavam os limites do Hades, ou seja, o além: Lete, o rio do esquecimento, e
Mnemosyne, o rio da recordação. Esse paralelismo não deixa de ser sintomático:
memória e esquecimento caminham juntos, de modo que um não existe sem o
outro. A história do esquecimento é digna de nota: se na Antiguidade acreditava-
-se na capacidade de desenvolver a memória e vencer o esquecimento, o homem
moderno está convencido de duas coisas só aparentemente irreconciliáveis: a
certeza de que tudo o que percebemos se inscreve em nós e o saber de que a
maior parte de nossa memória nos é inconsciente. Freud foi o primeiro a tentar
explicar isso na Modernidade.
Tanto na visão antiga como na moderna atribui-se ao esquecimento um teor
negativo. Verdade em grego é alétheia, ou seja, não esquecimento. Lembrar-se,
ensinava Sócrates, é a forma de atingir a verdade (esquecida porque, segundo
ele, quando nascemos, havíamos antes bebido das águas de Lete). Já a psicanálise
nos ensina a prática da recordação como terapia. A talking cure (cura pela fala)
é também uma cura pela rememoração, ou assim se apresenta. O paradoxo é
que essa recordação visa permitir (nietzscheanamente) a possibilidade de um
“esquecimento” não culpado ou de uma memória sem peso.
Mas a nossa era da onipresença das imagens modificou a história da relação
entre memória e esquecimento. Nossos mega-arquivos virtuais prometem a
perenidade de uma memória total da humanidade. O avesso disso é nossa
15
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 15 18/07/2022 15:19:25
introdução
indiferença com relação ao esquecer: se tudo está armazenado, não precisamos
lembrar de nada por nós mesmos. Vivemos confortavelmente de próteses de
memória: embalados nas ondas do rio da web. Sócrates, ao afirmar que a
escrita levaria ao esquecimento (tema que desenvolvo neste livro), já adiantara
o modelo dessa crítica às técnicas de armazenamento em mais de dois mil anos.
Não podemos perder de vista que memória e esquecimento têm tudo a
ver também com a construção da autoimagem de grupos, culturas e nações.
A memória é composta de muitas camadas que se interconectam: existe
um aspecto dela que é cumulativo (que armazena fatos), mas ela é também
responsável por cimentar os grupos. A memória nos vincula. Ao compartilhar
memórias, construímos um bem comum que nos une. Toda memória, já dizia
Maurice Halbwachs, é de algum modo coletiva. Toda memória é memória
vicária, “dos outros”, pois somos animais sociais, e nossas memórias nos
constituem enquanto tais. Isso tem a ver também com o fato de que somos
seres políticos, vivemos em sociedades, e as memórias fornecem nossos dados,
que estão na base dos pactos morais e de nossos hábitos.
Mais do que nunca, em uma época de crise das grandes narrativas e teorias,
a memória se transformou em um dos últimos bastiões da ética. Temos que
pensar na prática da memória como uma prática política que pode ajudar a
construir uma sociedade mais igualitária e justa. Toda sociedade é atravessada
por querelas em torno do que recordar, e, de modo geral, nós nos esquecemos
de muito mais coisas do que podemos recordar. Por exemplo, se pegarmos
nossas práticas memorialísticas que nos marcavam até recentemente, veremos
que nossos modelos eram figuras como generais, estadistas e os nossos
bandeirantes, pessoas que, na vida real, dificilmente podemos dizer que
foram modelos de convivência ética e dialógica. Nossos monumentos e nossos
“heróis” são ainda frutos de uma historiografia elitista voltada para reafirmar a
história dos vencedores, que afirmava de modo enfático o sistema e glorificava
o progresso (técnico e de um determinado modelo socioeconômico) como algo
positivo e inexorável. Mas esses “vencedores” sempre triunfaram espezinhando
a maioria da população.
Daí pensar hoje na necessidade de fazer uma virada mnemônica ética
nas encenações de nossa memória. Em vez de comemorarmos os “grandes
vultos da nação”, bandeirantes que estupravam, escravizavam e matavam
indígenas, por exemplo, devemos comemorar os próprios indígenas (que
16
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 16 18/07/2022 15:19:25
a virada testemunhal e decolonial do saber histórico
vivem neste continente há milhares de anos sem nunca ter destruído nada de
sua natureza). Devemos comemorar os afrodescendentes que lutaram e lutam
pela sua emancipação, assim como os que participam de movimentos sociais
do campo e das cidades. Assim, estaremos construindo uma memória ética,
um genuíno meio capaz de plasmar uma sociedade melhor. Recentemente,
em julho de 2021, o monumento ao bandeirante Borba Gato (do artista Júlio
Guerra, de 1957) foi incendiado em São Paulo, em um claro ato de protesto
contra nossa paisagem mnemônica ainda dominada pela colonialidade. Nomes
de ruas, memoriais e monumentos no Brasil estão ainda dentro da lógica
monumentalista e colonial herdada do século XIX. Essas marcas conservadoras
da memória constroem muros que barram a construção de outras memórias,
dificultam a inscrição de outras narrativas e a produção de novas subjetividades
resistentes à colonialidade.
É justo falarmos que políticas identitárias são construídas na trama da
memória e do esquecimento. Todo ato de lembrar encerra atos de esquecer.
Mas isso é parte de uma economia da memória que podemos considerar
natural. Mas existem também políticas de esquecimento. Em termos da
nação, países constroem as suas políticas da memória e do apagamento.
Com a ascensão do modelo de organização política sob a forma de nações
como base da vida burguesa, ocorreu, desde o século XIX, uma poderosa
construção de dispositivos e políticas da memória e do esquecimento. As
disciplinas da história, da literatura, da antropologia e da linguística serviram
a essas políticas. Elas ajudaram a dar forma às nações para justificar suas
fronteiras e seus ensejos colonialistas. Poderosas narrativas foram traçadas,
como mostrou, entre outros, Benedict Anderson,1 em torno do que seria cada
nação. De certo modo, para que cada narrativa se adequasse a uma história
nacional “de sucesso”, dever-se-iam apagar outras histórias. Não por acaso,
tem-se falado tanto em negacionismo nas últimas décadas. Devemos pensar
o negacionismo associado tanto às políticas de apagamento da memória
(sem as quais as nações não se constroem) como também como um aliado
sempre presente em políticas de massacres e de genocídios, que marcaram as
biotanatopolíticas do século XX e do nosso também. O discurso monolíngue
do nacionalismo fundamentalista, que se desenvolveu ao longo do século XIX,
produziu e reproduz até hoje máquinas genocidas e memoricidas. Recordo
dois exemplos rapidamente.
17
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 17 18/07/2022 15:19:25
introdução
Hitler, em um discurso a seus chefes militares em 22 de agosto de 1939,
às vésperas da invasão da Polônia, teria dito: “Quem se lembra hoje do
extermínio dos armênios [durante a Primeira Guerra Mundial]?”. Sua intenção
era clara: apenas o lado “heroico” da guerra seria lembrado e a impunidade
estaria garantida aos perpetradores de crimes. Como também veremos neste
livro, o genocídio da população armênia ocorrido durante a Primeira Guerra
Mundial nos estertores do Império Otomano, a chamada Sublime Porta, deu-se
acompanhado de sua negação por parte dos nacionalistas turcos que, até hoje,
mantêm na Turquia leis que proíbem que se aborde de modo crítico esse evento
terrível. Ou seja, Hitler apostou no esquecimento, nas políticas de apagamento,
que haviam sido até então bem-sucedidas no caso do genocídio dos armênios,
como garantia para o sucesso de seu projeto genocida.
Por sua vez, antes disso, em 1918, em meio a pressões internacionais que
exigiram esclarecimentos e justiça com relação ao genocídio armênio, o
nacionalista turco e último embaixador do Império Otomano nos EUA, Ahmed
Rusten Bey, publicou um livro em defesa da honra dos turcos. Desde 1914 ele
publicava em jornais norte-americanos artigos defendendo a Sublime Porta
em suas ações contra os armênios. Para defender esses crimes, Bey recordava
que, nos Estados Unidos, os negros sofriam linchamentos (1918: 84), assim
como narrava uma longa lista de crimes cometidos pelos países da Europa
Ocidental. Com relação à Inglaterra, ele recordou a repressão e a violência
contra os irlandeses, os massacres realizados na Índia, bem como a violência
colonial na África, como no caso do Egito. Também lembrou dos terríveis
campos de concentração de Transvaal, criados pelo Lord Kitchener, na segunda
guerra dos bôeres, entre tantos outros crimes. Seu argumento era para lá de
ambíguo: apontava o dedo para as potências ocidentais, elencando os seus
crimes e chamando-as de hipócritas – para justificar os crimes turco-otomanos
contra a população armênia, que ele considerava, na verdade, justificáveis.2 Para
além dessa contradição, típica dos argumentos fundamentalistas nacionalistas,
que só veem razão nos atos de sua própria pátria, o importante é que Bey, como
Hitler depois dele, aponta para o fato de que as políticas de apagamento da
história, o esquecimento, são parte do movimento político. Déspotas genocidas
apostam no poder no memoricídio como indulto contratado de antemão para
garantir a impunidade dos seus atos. Negacionismo, apagamento e genocídios
andam sempre de mãos dadas.
18
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 18 18/07/2022 15:19:25
a virada testemunhal e decolonial do saber histórico
A violência colonial, até hoje recalcada pelo mundo ocidental, dito
“civilizado”, precisa ser enfrentada. A persistência de monumentos em
homenagem a genocidas, escravocratas, traficantes de escravos, autores de
massacres só é passível de entender se levarmos em conta as políticas de
esquecimento da violência colonial: violência esta que se repete até hoje,
em forma de racismo, exploração territorial, de classe e de gênero. Antigas
potências e elites coloniais foram em parte substituídas e têm continuidade com
as elites locais. As políticas do esquecimento precisam ser enfrentadas, já que
elas sustentam quadros de memória que balizam a repetição da exploração e
da violência. Daí a importância, sempre, de políticas de inscrição da memória,
sobretudo quando se trata desse tipo de violência exterminadora. As forças
do oblívio são sempre poderosas e exigem resposta e políticas resistentes de
memória.
Este livro pretende ajudar a gerar argumentos para desconstruirmos essa
lógica colonial que nos engessa e tende a reproduzir a violência colonial em
nossos dias, com práticas racistas, de opressão e violência de classe, misóginas
e sempre a favor de uma elite cada vez mais indiferente ao sofrimento dos
espezinhados. É importante destacar que, quando falo de “virada testemunhal
do saber histórico”, me refiro a novas sensibilidades desenvolvidas nesse contexto
pós-colonial em que o corpo e sua localização passam a ser reconhecidos como
parte da construção de outras narrativas e epistemologias.
Nossos escritores, cineastas e artistas são justamente alguns dos principais
agentes dessa nova arte da memória ética construída a partir dessas novas
sensibilidades. Eles têm a capacidade de nos apresentar os conflitos sociais de
modo a produzir pontes, abrir arcos que nos conectam com as vítimas daquilo
que a ideologia chama de “progresso”, mas que é, na verdade, a continuidade
da exploração dos viventes pelos homens e dos homens sobre a natureza. No
cinema, por exemplo, a memória tornou-se um tema em si, sobretudo desde
a Segunda Guerra Mundial. Aquele acúmulo de violência produziu uma nova
estética do cinema, voltada para mostrar os escombros, como no neorrealismo
italiano – lembremos do Alemanha, ano zero (1948), de R. Rossellini, e, dentro
de uma nova estética e ética da memória, do muito influente Noite e neblina
(1955), de Alain Resnais, sobre o Holocausto. Toda a obra de Resnais reflete
sobre a memória, como seu fundamental Hiroshima, meu amor (1959) e O ano
passado em Marienbad (1961). Chris Marker, que foi assistente de Resnais,
19
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 19 18/07/2022 15:19:25
introdução
tornou-se depois um dos maiores criadores de um estilo de cinema-arquivo,
voltado para documentar sua época, das imagens do Japão às lutas políticas na
Europa e na América Latina.
No Brasil, é importante lembrar uma nova cinematografia que tem se
desenvolvido em torno do registro da ditadura de 1964-1985. Se a sociedade
brasileira de um modo geral resiste à inscrição e à leitura das memórias
daquele período, os cineastas tornaram-se plasmadores de uma poderosa
contramemória, com filmes como o pioneiro Que bom te ver viva (de Lucia
Murat, 1989), Cidadão Boilesen (de Chaim Litewski, 2009), Os dias com ele (de
Maria Clara Escobar, 2014), Orestes (de Rodrigo Siqueira, 2015), entre tantos
outros. A memória da ditadura é fundamental se quisermos construir um país
mais igualitário e democrático. Foi a manipulação dessa memória a partir de
2013 que, em boa parte, pavimentou o caminho, em termos do imaginário
da nação, para a eleição de um presidente negacionista, adepto de práticas
ditatoriais e representante acabado da nossa colonialidade.
Não podemos nos esquecer do cinema de Eduardo Coutinho, que criou
uma verdadeira escola do cinema-testemunho no Brasil, na linha do que
Claude Lanzmann e Marcel Ophüls haviam iniciado nos anos 1970. A uma
era de catástrofes, grandes cineastas respondem com uma estética e uma ética
do testemunho. O mesmo vale para a muito bem-vinda propagação, desde o
final do século XX, de cineastas indígenas no Brasil, como Larissa Ye’padiho
Duarte, Genito Gomes, Isael e Sueli Maxakali, entre tantos outros brilhantes
cineastas. Projetos como o “Vídeo nas aldeias”, iniciado por Vincent Carelli,
e o “Instituto Catitu”, desenvolvido por Mari Corrêa, ajudaram a desenvolver
essa produção que permite a divulgação das perspectivas ameríndias via
cinema.
Nas artes plásticas, o mesmo movimento pode ser descrito. Uma de nossas
grandes artistas do (des)esquecimento no Brasil é sem dúvida Rosângela
Rennó. Como ela costuma dizer, sua obra lida com o esquecimento – e,
particularmente no Brasil, tendemos a esquecer e silenciar a violência. Sua
obra se dá em amplo diálogo e incorporação da fotografia, algo também
sintomático, já que é uma marca dessa nova arte da memória lançar mão do
dispositivo da fotografia. Essa arte quer captar o “real”, seus “traços”, como nas
fotos, sobretudo na sua era analógica. Também uma nova geração de artistas
tem se dedicado à memória, repaginando a história do Brasil de modo muito
20
A virada testemunhal e decolonial do saber histórico.indd 20 18/07/2022 15:19:25
Você também pode gostar
- PAIXÃO, Fernando. Poema em ProsaDocumento110 páginasPAIXÃO, Fernando. Poema em Prosaoneiverarellano100% (1)
- Antiguidades e Usos Do Passado - Temas e Abordagens, de Leandro HeckoDocumento33 páginasAntiguidades e Usos Do Passado - Temas e Abordagens, de Leandro HeckoDesalinho Publicações100% (1)
- Breve Histórico Do Pensamento Psicológico Brasileiro Sobre Relações Étnico-Raciais PDFDocumento10 páginasBreve Histórico Do Pensamento Psicológico Brasileiro Sobre Relações Étnico-Raciais PDFAlice SalesAinda não há avaliações
- Brecht e A Questao Do MetodoDocumento126 páginasBrecht e A Questao Do MetodoAmanda Stahl100% (1)
- Peter Burke - Culturas Populares e Culturas de EliteDocumento10 páginasPeter Burke - Culturas Populares e Culturas de EliteflaviobolinhaAinda não há avaliações
- Contatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaNo EverandContatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaAinda não há avaliações
- Memoria Social Revisitando Autores e ConDocumento176 páginasMemoria Social Revisitando Autores e ConREYNALDO ALAN CASTRO FILHO100% (1)
- RAGO, M. Epistemologia Feminista, Gênero e HistóriaDocumento17 páginasRAGO, M. Epistemologia Feminista, Gênero e Históriavanvan89Ainda não há avaliações
- As Técnicas Corporais - Marcel MaussDocumento13 páginasAs Técnicas Corporais - Marcel MaussBruna Gomes Afonso100% (2)
- Universidade Federal Fluminense Instituto de Ciências Humanas E Filosofia Programa de Pós-Graduação em História Área de Concentração: História SocialDocumento311 páginasUniversidade Federal Fluminense Instituto de Ciências Humanas E Filosofia Programa de Pós-Graduação em História Área de Concentração: História SocialCélio Velasco100% (1)
- Triângulo rosa: Um homossexual no campo de concentração nazistaNo EverandTriângulo rosa: Um homossexual no campo de concentração nazistaAinda não há avaliações
- Roberto Schwarz - Nacional Por Subtraã Ã oDocumento12 páginasRoberto Schwarz - Nacional Por Subtraã Ã oFrancine Carla de Salles Cunha RojasAinda não há avaliações
- Miolo - Compreender o Feminismo - 0102Documento94 páginasMiolo - Compreender o Feminismo - 0102Lara BarrosAinda não há avaliações
- À Flor Da Terra: o Cemitério Dos Pretos Novos No Rio de JaneiroDocumento204 páginasÀ Flor Da Terra: o Cemitério Dos Pretos Novos No Rio de Janeirojcesar coimbra100% (3)
- Artigo Seligmann-SilvaDocumento27 páginasArtigo Seligmann-SilvaGabriel DottlingAinda não há avaliações
- Andreas HuyssenDocumento45 páginasAndreas HuyssenAntônio Flávio dos Santos MendesAinda não há avaliações
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoNo EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoAinda não há avaliações
- CNFCP Cultura Saber Do Povo Maria Laura CavalcantiDocumento11 páginasCNFCP Cultura Saber Do Povo Maria Laura CavalcantiCaio MeloAinda não há avaliações
- Quilombos e Mucambos - Flavio GomesDocumento31 páginasQuilombos e Mucambos - Flavio GomesronaldotrindadeAinda não há avaliações
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- 21 Museus Colecoes e Patrimonios Narrativas PolifonicasDocumento392 páginas21 Museus Colecoes e Patrimonios Narrativas PolifonicasCassio JunioAinda não há avaliações
- A Miséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo ContemporâneoDocumento4 páginasA Miséria Da Historiografia: Uma Crítica Ao Revisionismo Contemporâneomaurocosta1985Ainda não há avaliações
- VELHO, Gilberto & KUSCHNIR, Karina (Org.) - Mediação, Cultura e PolíticaDocumento292 páginasVELHO, Gilberto & KUSCHNIR, Karina (Org.) - Mediação, Cultura e PolíticaJosé Luiz SoaresAinda não há avaliações
- Mentes Indigenas e Ecumeno AntropologicoDocumento22 páginasMentes Indigenas e Ecumeno AntropologicoJosé Maurício ArrutiAinda não há avaliações
- ALBERTI, Verena PEREIRA, AMILCAR - História Do Movimento Negro Do Brasil - Constituição de Acevo de Entrevista de História Oral PDFDocumento15 páginasALBERTI, Verena PEREIRA, AMILCAR - História Do Movimento Negro Do Brasil - Constituição de Acevo de Entrevista de História Oral PDFFernando VifeAinda não há avaliações
- Durval Albuquerque - Um Leque Que RespiraDocumento15 páginasDurval Albuquerque - Um Leque Que RespiraLuiz Henrique Blume100% (1)
- Livro Site PDFDocumento352 páginasLivro Site PDFIlairton Fernandes Silva Junior100% (1)
- Documento Monumento LegoffDocumento1 páginaDocumento Monumento LegoffAmanda Beatriz LanesAinda não há avaliações
- Tese Diogo CabralDocumento246 páginasTese Diogo CabralMolly WilsonAinda não há avaliações
- Emanuel AraujoDocumento9 páginasEmanuel Araujoapi-3817705Ainda não há avaliações
- JAMESON Sobre Os Estudos de Cultura PDFDocumento38 páginasJAMESON Sobre Os Estudos de Cultura PDFreilohnAinda não há avaliações
- Projeto e Metamorfose Contribuicoes de Gilberto VeDocumento19 páginasProjeto e Metamorfose Contribuicoes de Gilberto VepapercutsAinda não há avaliações
- Susane Rodrigues de OliveiraDocumento232 páginasSusane Rodrigues de OliveiraBruno Rafael Matps Pires100% (1)
- De Cunhã A MamelucaDocumento294 páginasDe Cunhã A MamelucaJoão Azevedo Fernandes100% (1)
- Carceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Documento336 páginasCarceres Imperiais A Casa de Correção Do Rio de Janeiro Seus Detentos e o Sistema Prisional No Imperio, 1830-1861Wlamir SilvaAinda não há avaliações
- História AntigaDocumento59 páginasHistória AntigaHigo Meneses100% (1)
- Joan Scott - ExperiênciaDocumento23 páginasJoan Scott - ExperiênciaÉbano NunesAinda não há avaliações
- Mendonca JoaoMartinhode DDocumento403 páginasMendonca JoaoMartinhode DeddychambAinda não há avaliações
- Os Nuer Resumo Sist PoliticoDocumento4 páginasOs Nuer Resumo Sist PoliticoDaniela CostaAinda não há avaliações
- O Jogo Das Diferencas PDFDocumento5 páginasO Jogo Das Diferencas PDFDimingos FreitasAinda não há avaliações
- Etnografia Etnografias Ensaios Sobre A D PDFDocumento222 páginasEtnografia Etnografias Ensaios Sobre A D PDFLeonardo RangelAinda não há avaliações
- Gilberto Freyre Março 2020Documento36 páginasGilberto Freyre Março 2020Sonia LourençoAinda não há avaliações
- o Espirito Da IntimidadeDocumento19 páginaso Espirito Da IntimidadeFernanda CarvalhoAinda não há avaliações
- 3-Klaus Garber&Jeanne-Marie Gagnebin - Por Que Um Mundo Todo Nos Detalhes Do Cotidiano (Revista USP)Documento6 páginas3-Klaus Garber&Jeanne-Marie Gagnebin - Por Que Um Mundo Todo Nos Detalhes Do Cotidiano (Revista USP)Cilene Paredes de SouzaAinda não há avaliações
- Anarquismo Anticolonial PDFDocumento111 páginasAnarquismo Anticolonial PDFPós Direito Público100% (1)
- Afrocentrismo - Casa Das AfricasDocumento27 páginasAfrocentrismo - Casa Das Africasaldeiagriot67% (3)
- Kornis - Mônica Almeida - História e Cinema Um Debate MetodológicoDocumento14 páginasKornis - Mônica Almeida - História e Cinema Um Debate Metodológicopolinha_182Ainda não há avaliações
- Cultura. Substantivo Plural PDFDocumento208 páginasCultura. Substantivo Plural PDFApolo MartinsAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos Simpósio de História Das Américas - Resistência, Cultura e Práticas PolíticasDocumento144 páginasCaderno de Resumos Simpósio de História Das Américas - Resistência, Cultura e Práticas PolíticasKlenio DanielAinda não há avaliações
- CIDADE Monumento. Mariana, Minas Gerais. Guia TurísticoDocumento23 páginasCIDADE Monumento. Mariana, Minas Gerais. Guia TurísticoGABRIEL LUZ DE OLIVEIRA100% (1)
- Krenak Artigo Ecologia PolíticaDocumento2 páginasKrenak Artigo Ecologia PolíticaPaloma BianchiAinda não há avaliações
- Pensamento MestiçoDocumento5 páginasPensamento MestiçoJuliana SouzaAinda não há avaliações
- A Escola NINA RODRIGUES Na AntropologiaDocumento13 páginasA Escola NINA RODRIGUES Na AntropologiaRenata CarvalhoAinda não há avaliações
- 7 Queiroz.M.cultura - sociedRural.sociedUrbanaBra 001Documento26 páginas7 Queiroz.M.cultura - sociedRural.sociedUrbanaBra 001Gustavo Benedito Medeiros AlvesAinda não há avaliações
- Biografia e História - o Que Mestre Tito - REgina CeliaDocumento24 páginasBiografia e História - o Que Mestre Tito - REgina CeliaGabriela R AmenzoniAinda não há avaliações
- Ordem e Progresso em Gilberto FreyreDocumento16 páginasOrdem e Progresso em Gilberto FreyreAlex FonteAinda não há avaliações
- Cuiaba Espera PDFDocumento188 páginasCuiaba Espera PDFJoaoAinda não há avaliações
- MALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A SubalternidadeDocumento26 páginasMALDONADO-ToRRES, Nelson - Pensamento Crítico Desde A Subalternidadejuliana.fmeloAinda não há avaliações
- Jitrik Noe. La Estetica Del Romanticismo. in Hispamerica 76.77 Ano Xxvi 1997Documento7 páginasJitrik Noe. La Estetica Del Romanticismo. in Hispamerica 76.77 Ano Xxvi 1997oneiverarellanoAinda não há avaliações
- 45011-Texto Do Artigo-128696-1-10-20190913Documento9 páginas45011-Texto Do Artigo-128696-1-10-20190913oneiverarellanoAinda não há avaliações
- Interculturalidad y Variación LinguisticaDocumento17 páginasInterculturalidad y Variación LinguisticaoneiverarellanoAinda não há avaliações
- Contrastes y METODOSDocumento277 páginasContrastes y METODOSoneiverarellanoAinda não há avaliações
- A Virada Vegetal IntroduçãoDocumento48 páginasA Virada Vegetal IntroduçãooneiverarellanoAinda não há avaliações
- Los Géneros Textuales y Su Importancia para La Adquisición Del EspañolDocumento17 páginasLos Géneros Textuales y Su Importancia para La Adquisición Del EspañoloneiverarellanoAinda não há avaliações
- Antologia-Pessoal. Carolina Maria de JesusDocumento119 páginasAntologia-Pessoal. Carolina Maria de JesusoneiverarellanoAinda não há avaliações
- Arquivo e Repertório - Diana Taylor - Capítulos 1 e 3 PDFDocumento57 páginasArquivo e Repertório - Diana Taylor - Capítulos 1 e 3 PDFoneiverarellano83% (6)
- AGAMBEN Giorgio. O Que e o ContemporaneoDocumento43 páginasAGAMBEN Giorgio. O Que e o Contemporaneooneiverarellano100% (10)