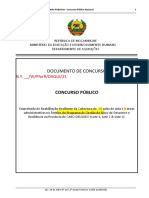Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 - Economia Brasileira Primeiro Bimestre 2008
1 - Economia Brasileira Primeiro Bimestre 2008
Enviado por
TiagoBorges910 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações30 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PPT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PPT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações30 páginas1 - Economia Brasileira Primeiro Bimestre 2008
1 - Economia Brasileira Primeiro Bimestre 2008
Enviado por
TiagoBorges91Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PPT, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 30
ECONOMIA BRASILEIRA
Prof. Rafael Vicente Martins dos Reis
2
CRISE DA ECONOMIA CAFEEIRA
Caracterizao:
final sc. XIX
principal atividade econmica brasileira era caf
Brasil era o principal produtor mundial (70% das
exportaes mundiais)
ltimo decnio do sc. XIX favorvel ao caf:
avano da produo em So Paulo (terras frteis, clima
favorvel, rede ferroviria)
Oferta no brasileira prejudicada por enfermidades
Imigrao nas mos dos estados
Inflao de crdito (Reforma Bancria,1888, facilitava a
emisso e aumentava a facilidade de crdito)
Novos investimentos iam para o setor mais atrativo, o caf.
At que o preo no baixassem e a vantagem
desaparecesse, aumentava a produo.
Oferta > Demanda (ineslstica)
Tendncia de queda no preo
3
CRISE DA ECONOMIA CAFEEIRA
Convnio de Taubat (1 Plano de Valorizao do Caf):
Contexto: 1906-1907: superproduo e queda no preo
Principais Medidas:
Governo (MG, SP, RJ) garante preo mnimo para o caf
estocado, comprando os excedentes de produo
Recursos so obtidos por emprstimos externos.
Emprstimos pagos com novo imposto sobre o caf
Governos dos estados deveriam desencorajar novas
produes e cafeicultores se comprometiam a diversificar
2 Plano de Valorizao do Caf (ps I Guerra Mundial) e
3 Plano de Valorizao do Caf (1920-21)
Conseqncias:
Dc. de vinte: produo quase dobrou, mas a exportao
ficou estvel (27-29: prod. (21 milhes) e exp. (14 milhes
de sacas))
Paradoxo:
Mantendo lucratividade novos investimentos eram feitos
Soluo: que a produo parasse e se oferecessem outras
oportunidades.
4
CRISE DA ECONOMIA CAFEEIRA
Crise de 29:
Antecedentes:
EUA crise em 1921-22. Medidas que geraram grande
prosperidade na dcada de vinte, com aumento da
produo e produtividade. Mas os salrios continuavam
estveis, o que representava lucros ainda maiores.
Existncia de monoplios e oligoplios, que aumentavam o
preo de seus produtos, atravs da diminuio artificial da
oferta (aumento dos estoques).
Meio bancrio: flexibilidade expanso dos meios de
pagamento acima do produto real (dinheiro fcil).
1929 processo de especulao resultando no craque da
Bolsa de New York, marco inicial da Grande Depresso.
queda violenta na cotao das aes; quebra de muitos
bancos
declnio das atividades comerciais; paralisao das fbricas
e servios; desemprego em massa
Roosevelt (1933-45) New Deal interveno do Estado
Efeitos mundiais: queda no comrcio mundial em 60% (29-
32)
5
CRISE DA ECONOMIA CAFEEIRA
Conseqncias da crise de 29 no Brasil:
Ausncia de novos crditos para o financiamento dos
estoques
Reduo da demanda: Queda no preo do caf e no volume
exportado (queda nas exportaes)
crise poltica: Getlio Vargas que passou a defender uma
poltica de maior interveno do estado voltada para o
mercado interno (transio de um sistema poltico, de
domnio paulista para algo mais difuso em termos de
distribuio regional e social)
Incio da transio de uma economia primrio exportadora,
para uma economia voltada para o mercado interno
Soluo: Colher o caf ou deix-lo apodrecer?
Abandonar cafezais: queda da principal atividade
econmica
Colher:
forar o mercado (nova queda no preo)
Estoc-lo
Destru-lo: a produo excedente no poderia ser vendida
nos prximos 10 anos. Obtinha-se equilbrio entre oferta e
demanda a um nvel de preos maior.
6
CRISE DA ECONOMIA CAFEEIRA
Soluo brasileira para a crise:
Manter a compra do caf ao preo mnimo
Poltica anticclica: mantm a remunerao da maioria dos
produtores, mantendo o nvel de emprego na economia
exportadora
diminuio da renda monetria durante a dcada de 30 no
Brasil foi de 25 a 30%; nos EUA esse nvel foi superior a
50%.
Desvalorizao:
incentivo exportao
aumento do preo dos importados
Conseqncia:
Parte do que antes era importado, deixou de ser
importado: satisfaz-se com oferta interna o que antes era
importado.
o setor produtor para o mercado interno passa a oferecer
melhores oportunidades do que o setor exportador.
Mantendo-se a procura e eliminando a concorrncia das
importaes aumenta a rentabilidade.
... INDUSTRIALIZAO
7
PROCESSO DE SUBSTITUIO DE IMPORTAES
PROCESSO DE SUBSTITUIO DE IMPORTAES
Substituio do modelo econmico
Modelo agrrio exportador:
baseado no caf, dependente do mercado externo
Modelo de substituio de importaes
baseado na instalao de indstrias no pas
voltado para o mercado interno
Mudana Poltica
Como agravante a essa situao, o presidente Washington
Lus indica Lus Prestes (tambm de So Paulo)
presidncia, rompendo com a poltica de caf com leite.
insatisfao ainda maior, culminando com a Revoluo de
30
processo de desenvolvimento interno que tem lugar e se
orienta sob o impulso de restries externas e se
manifesta, atravs de uma ampliao e diversificao da
capacidade produtiva industrial (Tavares, 1975).
8
PROCESSO DE SUBSTITUIO DE IMPORTAES
O modelo do PSI visualizado pela seguinte seqncia:
Estrangulamento externo: h uma queda no valor das
exportaes (queda no preo do caf e no volume
exportado), mas a demanda por importaes no cai (o
nvel de renda interna foi mantida - compra de estoques).
Resulta da uma escassez de divisas (um desequilbrio na
B. de Pagamentos).
Para ajustar o desequilbrio (melhorar exportaes e inibir
importaes), recorre-se a desvalorizaes cambiais.
Aumenta-se, a competitividade domstica, j que os
importados ficaram mais caros.
O encarecimento dos importados leva a uma onda de
investimentos nos setores substituidores de importao,
produzindo-se internamente parte do que antes era
importado. Isso faz com que aumente a renda interna e a
demanda interna.
Entretanto, o aumento de renda, e a necessidade de
equipamentos para os investimentos, matria-prima para a
produo leva a um aumento de importaes, e a um novo
estrangulamento...
9
10
PROCESSO DE SUBSTITUIO DE IMPORTAES
o estrangulamento externo era o motor dinmico do PSI:
era um impulso industrializao, porm era tambm uma
restrio. Para que o modelo no parasse, era necessrio
que a estagnao da capacidade de importar fosse relativa,
seno no haveria meios de importar os equipamentos
necessrios.
Conforme o investimento e a produo avanavam em
determinado setor, eram gerados pontos de
estrangulamento em outros
Com o tempo novas ondas de investimentos foram sendo
feitas, de modo que a seguinte pauta foi objeto de
investimentos industriais:
bens de consumo leve,
bens de consumo durvel,
bens intermedirios e
bens de capital.
11
PROCESSO DE SUBSTITUIO DE IMPORTAES
Limites ao PSI
A demanda atendida pelos produtos da nascente indstria
era uma demanda preexistente, caracterstica, das classes
mais altas. Esse fato faz com que essa demanda seja
reduzida.
A produo que se instala ento, utiliza tecnologia
importada, diferente da nossa, e intensiva em capital,
debilitada em sua capacidade de gerar empregos, e,
portanto, tem dificuldades em expandir o mercado taxa
necessria a sua perpetuao.
Quando se entra na substituio de bens de capital,
aumenta a complexidade tecnolgica exigida, e, portanto,
aumenta o montante de capital requerido e o kown how
requerido.
Os estrangulamentos externos deixam de ser um fator
dinmico, pois no levam mais produo.
Era necessria uma demanda autnoma de bens de capital.
Soluo: interveno do Estado.
12
PLANO DE METAS
PLANO DE METAS Juscelino Kubitschek
Auge do modelo de desenvolvimento no PSI
Meta: estabelecer as bases de uma economia industrial
madura no pas
Diagnstico:
Eliminar pontos de estrangulamento:
reas de demanda insatisfeita em funo das
caractersticas desequilibradas do desenvolvimento
econmico, desenvolvimento feito por partes
BENS INTERMEDIRIOS E INFRAESTRUTURA (transporte e
energia)
Atuao do Estado
Estmulos aos pontos de germinao
reas que geram demanda derivada
BENS DURVEIS (automobilstica)
Bens leves aquecimento do mercado
Bens intermedirios
Bens de capital
Setores relacionados autopeas
Atuao do capital privado
13
PLANO DE METAS
Ano PIB Indstria Agricultura Servios
1955 8,8 11,1 7,7 9,2
1956 2,9 5,5 -2,4 0
1957 7,7 5,4 9,3 10,5
1958 10,8 16,8 2 10,6
1959 9,8 12,9 5,3 10,7
1960 9,4 10,6 4,9 9,1
1961 8,6 11,1 7,6 8,1
Fonte: IBGE
Taxas de crescimento do Produto e setores 1955-1961
Anos Inflao* (%)
Variao da
Base Monetria
(%)
Variao do
Salrio Mnimo
Real (%)
Saldo em Transaes
Correntes US$
milhes
Dvida Externa
Total
US$ milhes
1955 23 15,8 -9,5 2 1.445
1956 21 19,3 -1,3 57 1.580
1957 16,1 35,1 -9,6 -264 1.517
1958 14,8 18 14,5 -248 2.044
1959 39,2 38,7 -12,7 -311 2.234
1960 29,5 40,2 19,4 -478 2.372
1961 33,2 60,4 -14,7 -222 2.835
Fonte: ABREU (1990).
* Inflao corresponde ao ndice de Preos ao Consumidor- RJ
Alguns Indicadores Econmicos - Plano de Metas 1955 - 1961
14
CRISE DOS ANOS 60
1 crise da era industrial
queda na taxa de crescimento
Esgotamento do PSI estrangulamentos deixam de atuar
como estmulo
Para continuar o desenvolvimento: desenvolver o setor de
bens de capital e ampliar o de bens intermedirios;
ausncia de financiamentos privados pela alta taxa de
investimento
Ausncia de escala bem de demanda derivada (depende
de outros bens, cuja demanda era limitada)
Ausncia de financiamento pblico dficit pblico Plano
de Metas
Acelerao da inflao (demanda)
Tendncia ao dficit pblico.
Elevada propenso a consumir (poltica salarial frouxa dos
governos anteriores)
Falta de controle sobre a expanso do crdito.
Crise poltica
15
PAEG
PLANO DE AO ECONMICA DO GOVERNO PAEG (1964-
1967)
Objetivos:
acelerar o ritmo de desenvolvimento econmico
conter o processo inflacionrio
atenuar os desequilbrios setoriais e regionais
aumentar o investimento e o emprego
corrigir a tendncia de desequilbrio externo
Metas do PAEG (relativas inflao):
Reduo do dficit pblico:
reduo dos gastos,
aumento das receitas atravs de reforma tributria e
aumento das tarifas pblicas (inflao corretiva)
restrio do crdito: aumento das taxas de juros - falncias
- capacidade ociosa
Poltica salarial - Governo - reajustes salariais, o que gerou
grande queda no salrio real.
16
Ano
Crescimento do
PIB (%)
Crescimento
da Produo
Industrial (%)
Taxa de Inflao
(IGP-DI) (%)
1964 3,4 5,0 91,8
1965 2,4 -4,7 65,7
1966 6,7 11,7 41,3
1967 4,2 2,2 30,4
1968 9,8 14,2 22,0
Fonte: Abreu (1990)
* IPC-RJ
PRODUTO E INFLAO: 1964-1968.
A inflao reduziu-se
Este resultado se deve em grande parte
prpria retrao nas taxas de crescimento
econmico
17
PAEG
Reforma Tributria
Introduo da correo monetria no sistema tributrio.
Transformao dos impostos em cascata em impostos
sobre valor adicionado (IPI e ICM)
Redefinio do espao tributrio entre as diversas esferas
do governo.
Foram criados os fundos de transferncia
intergovernamentais: os Fundo de Participao dos Estados
e o dos Municpios
Ainda, deve-se destacar:
o surgimento de vrios fundos parafiscais, como o FGTS e
o PIS (importantes fontes de poupana compulsria).
a chamada inflao corretiva, uma poltica de realismo
tarifrio.
Principais conseqncias da reforma tributria:
Aumento da arrecadao;
Centralizao da arrecadao e das decises de poltica
tributria
Crtica: sistema injusto
18
PAEG
Reforma Monetria
criar condies de conduo independente da poltica
monetria e direcionar os recursos s atividades
econmicas
Instituio da correo monetria (taxas de juros positivas)
e da ORTN
busca-se desenvolver o mercado de ttulos pblicos e
novos instrumento de financiamento no inflacionrios do
dficit pblico
criao do CMN e do Bacen
CMN: rgo normativo da poltica monetria
Bacen: rgo executor da poltica monetria, fiscalizador
do sistema financeiro
Criao do SFH (Sistema Financeiro da Habitao) e do
BNH (Banco Nacional da Habitao).
eliminar dficit habitacional atribudo falta de
financiamento
Reforma do sistema financeiro e do mercado de capitais
19
PAEG
Reforma do Setor Externo
Objetivos:
estimular o desenvolvimento evitando as presses sobre o
Balano de Pagamentos.
Melhorar o comrcio externo e atrair o capital estrangeiro.
Comrcio externo.
Exportaes: incentivos fiscais e modernizao dos rgos
ligados ao comrcio internacional (CACEX e CPA).
Importaes: eliminar os limites quantitativos
Unificao do sistema cambial e adoo do sistema de
minidesvalorizaes (1968)
Atrao do capital estrangeiro:
Renegociao da dvida externa e Acordo de Garantias para
o capital estrangeiro.
20
MILAGRE ECONMICO
Crescimento acelerado, decorrente em grande parte das
reformas ocorridas no perodo anterior e das condies
internacionais favorveis
Afrouxaram as polticas de conteno de demanda
Crescimento da economia mundial (crdito)
Maiores taxas de crescimento na histria recente (10%),
com relativa estabilidade de preos (15%)
O crescimento deveria ser diversificado e do setor privado
(legitimar o governo militar)
Fontes de crescimento:
Investimentos pblicos em infra-estrutura
Aumento do investimento das empresas estatais
(intermedirios)
Demanda por bens durveis (crdito ao consumidor)
Construo civil
Crescimento das exportaes
Bens de capital
at 1970 menor crescimento capacidade ociosa.
19711973 setor de maior crescimento (18,51%)
21
MILAGRE ECONMICO
TRIP PROMOTOR DO DESENVOLVIMENTO
GOVERNO
Investimento em infra-estrutura e das estatais
Polticas econmicas cambial, fiscal, crdito
Atuao em setores considerados estratgicos
Manuteno do controle social
CAPITAL INTERNACIONAL
Investimentos em bens de consumo durveis
Indstria automobilstica, material eltrico, produtos
farmacuticos, borracha, qumica e mecnica
CAPITAL NACIONAL
Associao a empresas multinacionais de modo a ter
acesso a capital e tecnologia
ENDIVIDAMENTO EXTERNO
Necessidade de recursos para viabilizar crescimento
Transformaes no sistema financeiro internacional e ampla
liquidez existente
Ausncia de mecanismos internos de financiamento de
longo prazo
22
MILAGRE ECONMICO
ASPECTO POLTICO
Costa e Silva (67-69): endurecimento do governo militar
Aliados civis rompem com o governo
Estudantes e camadas mdias demonstram seu
descontentamento (passeata dos cem mil e congresso da
une em 1968) e sofrem punies
Operrios reivindicam reajustes salariais (greves) e so
coibidos
Congresso teve recesso de 10 meses e 93 polticos foram
cassados
AI-5 - controle absoluto do governo sobre a sociedade
brasileira
Tecnoburocracia: substituio dos polticos por tecnocratas
nos cargos tcnicos.
Mdici (69-74):
Censura imprensa
Prtica de torturas
Marketing: Ningum segura esse pas; Brasil: ame-o ou
deixe-o
23
MILAGRE ECONMICO
Contradies do Milagre Econmico
nfase no transportes rodovirio (importao de 80% de
petrleo e derivados)
Crescimento interno atrelado a alto crescimento das
importaes - PIB cresceu mdia de 10% ao ano e as
importaes cresceram 24% ao ano
Baseado na vinda de empresas multinacionais que visavam
potencializao do lucro (acelerao da globalizao) -
acaba ocorrendo a transferncia de tecnologia obsoleta e
pouco reinvestimento de lucro no processo produtivo
Distores do Milagre Econmico
concentrao de renda - participao do trabalho na
composio da renda em 1960, 60%, em 1980, 37,9%.
Crescimento setorial da produo industrial - nfase no
transporte automotivo, setor de bens de consumo durveis
(demanda limitada), baixa participao das exportaes
Estado no motor do desenvolvimento - grande nfase na
rea produtiva e negligncia de projetos de cunho social
24
MILAGRE ECONMICO
I CRISE DO PETRLEO
Guerra do Yom Kippur rabe X israelense 1973
Opep (Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo)
Arbia Saudita, Ir, Kuwait, Lbia, Emirados rabes,
Venezuela, Iraque, Arglia, Nigria, Equador, Gabo,
Indonsia, Qatar
Em 1970 detinham 60% da produo mundial de petrleo
e 90% das exportaes.
Guerra: boicote ao fornecimento de petrleo para os EUA e
outros pases que auxiliaram Israel na guerra.
Fim da conversibilidade dlar
Conseqncias no Brasil
Em 1973, a produo interna de petrleo representava
23,5% do que era consumido.
Aumento da inflao de 15% (73) para 34,4% (74)
Balana de pagamentos
Dficit no saldo de transaes correntes (aumento das
importaes de petrleo e de bens de capital e insumos,
sem contrapartida de exportaes
Queima das reservas e vulnerabilidade brasileira
25
II PND
II PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
O que fazer?
ajustamento corte da demanda interna e evitar que o
choque externo se tornasse inflao permanente; correo
do desequilbrio externo
financiamento do crescimento manter o crescimento
elevado, fazendo um ajuste gradual dos preos relativos
(alterados pela crise do petrleo), enquanto houvesse
emprstimos externos abundantes
II PND: alterao nas prioridades da industrializao
brasileira de um padro baseado no crescimento do setor
de bens de consumo durveis para um crescimento com
base no setor produtor de meios de produo - bens de
capital e insumos bsicos
governo se isola, centrando o plano em si, tendo como
agente central de transformao as empresas estatais
26
II PND
Medidas tomadas:
Insumos: ao, alumnio, zinco, minrio de ferro (projeto
Carajs). O governo desenvolve planos setoriais para
desenvolver alguns setores: papel e celulose, metais no-
ferrosos, fertilizantes, petroqumica.
Energia: diminuir a dependncia e, com isso, as
importaes.
Aumento da produo hidreltrica (Itaipu). A partir do II
PND houve um aumento de 59% da potncia instalada de
energia eltrica no pas;
Programa Nuclear Brasileiro;
Aumentar a produo de petrleo. Em 1975, o governo
aumentou em 115% os investimentos de explorao,
produo e refino de petrleo;
Prolcool;
Procarvo (colocando o carvo energtico como o principal
substituto do leo combustvel);
Incentivos ao setor privado impostos de importao,
compra de equipamentos, reservas de mercado.
27
CRISE DA DCADA DE 80
Cenrio:
II Choque do Petrleo
Rev. Islmica no Ir, que era o segundo maior exportador
de petrleo do mundo - substituio do X Reza Palev pelo
Aiatol Komeini
retrao na oferta
novas condies no comrcio de petrleo
Guerra Ir X Iraque
Preo do petrleo no mercado mundial atinge nveis
superiores a US$ 30,00 o barril
Choque na Taxa de Juros Internacionais
reverso nas condies de financiamento externo - fim da
liquidez
EUA adotam polticas de combate inflao, dentre elas,
aumento na taxa de juros, que se reflete em aumento nos
juros internacionais
Pases importadores de petrleo passam a enfrentar
inflao e desequilbrio em suas Balanas Comerciais
28
CRISE DA DCADA DE 80
Conseqncias no Brasil:
Acelerao inflacionria (inflao de custos)
De um patamar inferior a 50% para um patamar superior a
100%
Desequilbrio da Balana Comercial
Aumento das Importaes (petrleo)
Reduo das Exportaes (retrao do comrcio mundial
Fim das condies de financiamento favorveis que
patrocinavam o crescimento econmico
Aumento do juros da dvida externa a serem pagas
endividamento, ao final da dcada de 70, havia sido feito
em condies de juros flutuantes (ps-fixados)
Brasil passava por transio poltica - Figueiredo foi o
ltimo presidente militar
29
CRISE DA DCADA DE 80
O QUE FAZER?
Ajustamento drstico, comandado pelo FMI e teve
conseqncias profundas em nossa economia:
Conteno da demanda agregada:
reduo do dficit pblico, com reduo dos gastos
pblicos (investimentos das estatais)
Aumento dos juros internos e restrio de crdito
Reduo do salrio real.
Favorecer o setor externo:
Maxidesvalorizao do Cruzeiro (Cr$)
Elevao do preo dos derivados de petrleo
Estmulo competitividade da indstria (subsdios e
incentivos exportao)
Conseqncias:
a partir de 1984, resultados positivos em termos de
Balana de Pagamentos
retrao do PIB (em 1981, houve retrao de 4,3% no PIB)
nova acelerao inflacionria (inflao passa do patamar de
100% para um patamar de aproximadamente 200%)
30
CRISE DA DCADA DE 80
Ajustamento externo gera problema interno:
No Brasil, 80% da dvida era do setor pblico (estatizao
da dvida), e a gerao do supervit era do setor privado.
Desvalorizao da moeda gerava supervites externos
mas, o nus da dvida recaa de forma mais violenta sobre
o governo, que precisavam realizar um esforo de
poupana para adquirir divisas e remet-las ao exterior.
Para o governo adquirir as divisas ele deveria:
gerar supervit fiscal compatvel com a transferncia
externa - situao fiscal do governo vinha se deteriorando
desde o II PND
recesso diminua a base tributvel
incentivos fiscais dos setores exportadores
taxa de juros interna elevada encarecia o servio da dvida
interna
emitir moeda (inflao estava elevada e havia preocupao
com seu controle).
endividar-se internamente (colocao de ttulos pblicos:
maiores juros e menores prazos)
Você também pode gostar
- ACQA - Métodos Quantitativos - EAD - 2023Documento14 páginasACQA - Métodos Quantitativos - EAD - 2023igoremannuel569100% (1)
- Banrisul FaturaCartaoCredito 1683469528052Documento3 páginasBanrisul FaturaCartaoCredito 1683469528052ThommAinda não há avaliações
- Treinamento Sap Fi - Financial Accounting - Felipe Almeida PDFDocumento74 páginasTreinamento Sap Fi - Financial Accounting - Felipe Almeida PDFAdauto PolizeliAinda não há avaliações
- 2 Sessao - 18 - 10 - 2022Documento25 páginas2 Sessao - 18 - 10 - 2022AnaBarrosAinda não há avaliações
- Abergo 13 1 97Documento17 páginasAbergo 13 1 97Tatiana SilvaAinda não há avaliações
- FAME #146-Sikagrout 212 AODocumento2 páginasFAME #146-Sikagrout 212 AOjohn-ed-mir3557Ainda não há avaliações
- Invoice PDFDocumento3 páginasInvoice PDFGabriel CamposAinda não há avaliações
- Fatura 20-02-2023Documento2 páginasFatura 20-02-2023Daviane MaríaAinda não há avaliações
- Aula 3 - EMF - Teoria Monetária - Parte 2ºDocumento27 páginasAula 3 - EMF - Teoria Monetária - Parte 2ºcomprascomjulioAinda não há avaliações
- 8 - Lanchonete Santana & Stanciola Ltda MeDocumento1 página8 - Lanchonete Santana & Stanciola Ltda Mealisonantonio12Ainda não há avaliações
- Tecnicas Basicas Venda Ap008g 4eDocumento72 páginasTecnicas Basicas Venda Ap008g 4eRosana PlateroAinda não há avaliações
- Onde Investir em 2023Documento29 páginasOnde Investir em 2023Sebastião Alves da CostaAinda não há avaliações
- Relatorio Cesim IcellDocumento10 páginasRelatorio Cesim IcellEduardo BaungratesAinda não há avaliações
- O Uso Estratégico Da Informação Na Atividade deDocumento59 páginasO Uso Estratégico Da Informação Na Atividade deKaio SouzaAinda não há avaliações
- Economia IneternacionalDocumento4 páginasEconomia IneternacionalViviane HenriquesAinda não há avaliações
- Cópia de TWD - Financeiro - Planilha Fluxo de Caixa - 01Documento32 páginasCópia de TWD - Financeiro - Planilha Fluxo de Caixa - 01Junior LanAinda não há avaliações
- Check List Conformidade NR 25Documento5 páginasCheck List Conformidade NR 25Reginaldo SilvaAinda não há avaliações
- Catalogo Pradolux 2023 WebDocumento105 páginasCatalogo Pradolux 2023 WebCleber Impacto UnifAinda não há avaliações
- Doc. ConcursoDocumento235 páginasDoc. ConcursoGércia LeonorAinda não há avaliações
- Análise Das Atividades Logísticas No AlmoxarifadoDocumento15 páginasAnálise Das Atividades Logísticas No AlmoxarifadoPedro Henrique Palma RamosAinda não há avaliações
- Client EsDocumento340 páginasClient EsLindemberg Alberto barcelos de meloAinda não há avaliações
- RA3 Aplicar Os Princípios Da Ética e de Deontologia ProfissionalDocumento18 páginasRA3 Aplicar Os Princípios Da Ética e de Deontologia ProfissionalPedro MuendaneAinda não há avaliações
- 1 EngenhariadaQualidade ProducaoDocumento110 páginas1 EngenhariadaQualidade ProducaoRicardo VitorianoAinda não há avaliações
- Comércio InternacionalDocumento17 páginasComércio InternacionalManuel Zita100% (2)
- Informederendimentosfinanceiro 2023 PDFDocumento2 páginasInformederendimentosfinanceiro 2023 PDFWendel RochaAinda não há avaliações
- Trabalho de Economia 2022Documento19 páginasTrabalho de Economia 2022Rafique Tomas TrindadeAinda não há avaliações
- Método GPSDocumento5 páginasMétodo GPSanalidia.nfAinda não há avaliações
- Folha de PG CarlaDocumento4 páginasFolha de PG CarlaEduardaAinda não há avaliações
- XENA - Projeto Topicos em Big Data Python-Rev1lucasDocumento6 páginasXENA - Projeto Topicos em Big Data Python-Rev1lucasPRIMO lukasAinda não há avaliações
- Brochura_de_Preços_2024-VF 2Documento16 páginasBrochura_de_Preços_2024-VF 2lousa campoAinda não há avaliações