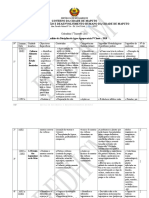Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Bocage
Bocage
Enviado por
Vera PinhoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Bocage
Bocage
Enviado por
Vera PinhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
http://pt.scribd.
com/doc/11432608/Bocage-Obra-Literaria
1. Neoclassicismo Movimento literrio resultante do esprito do iluminismo, traduz o desejo de reabilitao das formas, dos gneros, das tcnicas e da expresso clssicas, em vigor em Portugal no sculoXVI. Os primeiros indcios surgem no limiar do sculo XVII e ganham enorme fora no sculo XVIII, na luta contra os excessos do barroco. O neoclassicismo vai actuar em dois planos principais: o da doutrinao esttica e o da criao literria. O primeiro fortemente orientado pelo racionalismo do Verdadeiro Mtodo de Estudar. Insiste-se no valor que tem para a arte o princpio da verosimilhana e chegase ao ponto de defender o cientitcismo naturalista em poesia. Tinha-se em conta Horcio, Aristteles, os nossos quinhentistas, Boileau,
Voltaire,Rousseau, Montesquieu, entre outros. Dentro destas directrizes, traduzem-se os greco-latinos e reeditam-se os quinhentistas portugueses. No sculo XVIII, cruzam-se estticas literrias diversas: a barroca, a iluminstica, a neoclssica e a pr-romntica, que no deixam de relacionar-se com os acontecimentos vividos nesta poca, como vimos no captulo anterior. A poesia deste perodo comeava a ser posta em causa, adivinhando-se nalgumas composies poticas o desejo de mudana. As dezasseis cartas, de inspirao iluminstica, que formam o Verdadeiro Mtodo de Estudar, da autoria de Lus Antnio Verney, sob o pseudnimo de Frade Barbadinho da Congregao de Itlia, so publicadas em 1746. Revelando um esprito crtico superior, mostrou a ineficincia e caducidade da estrutura pedaggica e literria utilizada at a. Em 1748, o teorizador oratoriano Francisco Jos Freire (ou Cndido Lusitano, como era mais conhecido) d continuidade oposio ao barroco em Portugal, com a sua Arte Potica Ou Regras da Verdadeira Poesia.
2. Arcdia Lusitana
Esta luta contra a tradio barroca teve continuidade na Arcdia Lusitana (ou Olisiponense),agremiao concebida em 1756 e fundada no ano seguinte por Antnio Dinis da Cruz e Silva (que redigiu os estatutos), Manuel Esteves Negro e Teotnio Gomes de Carvalho. Semelhante s academias de literatos existentes em Portugal no sculo anterior, incluindo a apresentao e crtica das produes dos seus literatos, tinha, contudo, uma orientao literria diferente. Enquanto as primeiras favoreciam o desenvolvimento do
barroquismo seiscentista, esta combatia-o, em consonncia com as directrizes dos iluministas portugueses da primeira metade do sculo XVIII. O seu lema era hiutilia truncat, corta as coisas inteis, isto , tudo aquilo que fosse contrrio ao conceito de bom-gosto preconizado pelo programa neoclassicista. Para alm da avaliao das composies apresentadas pelos seus scios, na Arcdia havia tambm a discusso de teses de teoria literria. Os rcades atriburam grande utilidade avaliao da obra literria, adoptaram uma maior liberdade na criao potica, atravs da abolio da rima, e limitaram a imitao dos clssicos, denominando de servil aquela que padecia de falta de gosto, de exagero. Estavam, porm, demasiado limitados pela questo dos gneros no que diz respeito ao estilo utilizado ou a pormenores de construo teatral. Entre 1757 e 1760, verificou-se o perodo de actividade mais intensa desta agremiao. Depois debateu-se frequentemente com problemas vrios, como os ataques dos literatos dissidentes, acabando por desaparecer por volta de 1774.
3. Nova Arcdia Em 1790, surge em Lisboa a Nova Arcdia (Chamou-se primeiro Academia das Belas-Letras.), academia destinada ao cultivo da poesia e da oratria, fundada por Domingos Caldas Barbosa (de nome arcdico Lereno), coadjuvado por Belchior M. Curvo Semedo (BelmiroTranstaga-no), J. S. Ferraz de Campos e Francisco J. Bingre. Dela fizeram parte Bocage,Toms Antnio dos Santos e Silva, Jos Agostinho de Macedo, Lus Correia Frana e Amaral, entre outros. As sesses realizavam-se a princpio no palcio do conde de Pombeiro s quartas-feiras, da a designao quartas-feiras de Lereno. Algum tempo depois, os novos rcades, apoiados por Pina Manique,
comearam a reunir-se no castelo de S. Jorge. Pretendiam dar continuidade ao trabalho da Arcdia Lusitana. Em 1794, todavia, devido a conflitos acesos entre os seus membros, em que Bocage pontificou, esta academia desapareceu. A produo dos seus membros est reunida no Almanaque das Musas, dividido em quatro partes, publicado em1793. A encontramos poesias de Caldas Barbosa, Curvo Semedo, Bingre, entre outros. A segunda parte composta pela traduo da Arte Potica, de Boileau, realizada por D. Francisco Xavier de Meneses, conde da Ericeira, que promoveu as conferncias eruditas.
Normas estticas: a) Negao do barroco (cultismo e conceptismo). b) Seguindo a teoria aristotlica, a arte deve ser considerada como imitao da natureza. Mas imitao no significa aqui simples cpia. Deve recorrer-se aos clssicos antigos, considerados os melhores imitadores da natureza. c) Toda a literatura obedece a um fim tico e moral. d) A rima deve ser abolida. e) Culto da razo. f) Utilizao da rima de forma inteligvel, alegrica, para ornamentar a poesia. g) No teatro, os gneros esto claramente separados: a tragdia e a comdia. Existncia da lei das trs unidades (aco, tempo e lugar); o contedo literrio e moralizante deve sobrepor-se ao espectacular; emprego da verosimilhana; equilbrio ao nvel dos efeitos espectaculares e das cenas violentas. A imitao dos modelos clssicos preconizada pelos rcades comeou a ser posta em causa por determinados escritores, sobretudo poetas, sob a influncia de outras literaturas europeias, especialmente as literaturas anglo-germnicas. Comeou a reagir-se contra o racionalismo iluminstico, dando-se especial relevo interioridade do poeta. 4. Pr-Romantismo
Em Portugal, o pr-romantismo revela-se atravs de Jos Anastcio da Cunha, de Bocage, da marquesa de Alorna, de Filinto Elsio, de Xavier de Matos, de Toms Antnio Gonzaga. Este movimento alimentado pela importao de ideias estrangeiras e pelas tradues de obras francesas, inglesas e alems. O conceito de pr-romantismo, datado dos primeiros decnios do nosso sculo, compreende as manifestaes estticas e de sensibilidade que no sculo XVIII, principalmente a partir da segunda metade, afastando-se dos modelos neoclssicos, anunciavam j o Romantismo. Em Portugal, vai at 1825, data apontada convencionalmente para assinalar o incio do Romantismo, com a publicao do poema Cames, de Almeida Garrett. O conceito de pr-romantismo foi precisado e desenvolvido, j no sculo XX, por Paul Van Tighem na obra Le Pr-romantisme. Henri Peyer observa a inexactido do vocbulo pr-romantismo e refere que no raro secai no erro de considerar que esse perodo vale apenas como preparao do Romantismo. Ora, segundo o mesmo autor, cuja posio partilhada por Vtor Manuel de Aguiar e Silva, o pr-romantismo no pode ser simplesmente encarado como perodo de transio, como um movimento literrio sem caractersticas prprias. Se certo que o pr-romantismo no apresenta a homogeneidade de uma escola literria, nem um corpus de doutrinas, tal no significa, porm, que essa designao surja privada de contedo. Para prov-lo, basta lembrar que desde meados do sculo XVIII, nas vigorosas literaturas europeias, como a francesa e a inglesa, pulsam novas temticas e novas sensibilidades, consideravelmente ligadas entre si, apesar das dissemelhanas. O mais correcto ser procurar compreender esse perodo em si mesmo. Foi decisiva a relevncia da Inglaterra para o surgimento do prromantismo. A explicao reside no tradicionalismo que sempre caracterizou esta nao e que a tornava menos acessvel s escolas clssicas. Walter Scott. Byron, Young, autor dos Night Thoughts (1742) e Mac-pherson, autor dos famosos poemas atribudos a Ossian, so alguns dos escritores que preparavam terreno para a descrio de uma natureza solitria, saudosista, onde abundam as runas e os cemitrios, para uma ambincia sentimental e aventureira. Na Alemanha, o pr-romantismo irrompeu com a publicao da pea dramtica Sturni undDrang (Tempestade e mpeto) de Klingh, em 1776. O
movimento, que comeara a tomar forma por volta de 1775, recebeu o nome dessa pea. Tratou-se cio grito de insatisfao de um povo revoltado face tutela francesa decorrente do imperialismo napolenico. A reaco contra acultura e a literatura clssicas, estreitamente ligadas Frana, era, por assim dizer, uma forma de combater esse pas e de reivindicar um nacionalismo que recusava o comportamento hegemnico dessa nao. Certos escritores do Sturm und Drang, como Goethe e Schiller, passam para o Romantismo e fornecem-lhe modelos. Os escritores atacam no apenas Napoleo, mas tambm todo o sistema por ele representado. revoluo, identificada com o crescimento da burguesia francesa, ope-se a valorizao das tradies alems. Reconstri-se uma Idade Media claramente idealizada e no raro fictcia. O elogio do esprito nacional, que servira para projectar a libertao da nao, depois negada por uma revoluo burguesa estrangeira, constitua um argumento para embotar o racionalismo revolucionrio. Muitos so aqueles que aderem ao catolicismo, ao passo que outros abraam uma mstica ocultista. Efectivamente, as invases de Napoleo voltam os povos contra os Franceses. Reagir contra a Frana equivalia a desferir golpes contra a literatura francesa. Ora, isto ir estimular o surgimento dos nacionalistas e dos romnticos. O passado nacionalista reabilitado. Volta-se Idade Mdia, escrevendo-se romances histricos. Os stumiers combatiam em todas as esferas da prtica literria. Ao nvel dos contedos, penderam para uma temtica marcada pelo individualismo, confessionalismo e sentimento da natureza, aspectos que se estendiam at aos elementos poticos populares e lendrios autctones e ao culto das antiguidades e da natureza viva. No plano da expresso, para perturbarem as formas clssicas e as suas divises por gneros, rejeitavam todas as regras e leis convencionais. Negavam os princpios clssicos de moderao, de imitao e de equilbrio, atravs da explorao das noes de originalidade e de gnio. O gnio, base da criao potica no pr-romantismo e diferente da razo, com a qual no se coaduna, no pode ser submetido a quaisquer regras e preceitos. Na Frana, pas onde o classicismo e as tradies literrias se instalaram fortemente, s fora de vrios fluxos romnticos que finalmente se operou a revoluo literria em 1830 e nos anos seguintes. Pela sua originalidade, o de 1760-1775, segundo Henri Peyer,
o mais importante. Antes de mais, os franceses comearam a sentir-se atrados por outros pases: Alemanha, Sua, Rssia e, sobretudo, GrBretanha, seguido da Amrica de Franklin. Os franceses, depois de Montesqieu, realizam a sua emancipao em relao a Paris e empenham-se na compreenso de outras civilizaes, s quais muitas vezes fornecem projectos que visam a sua modernizao. Rousseau efectuou para a Polnia um projecto de Constituio, ainda hoje clebre pela sua sabedoria. Diderot criou um plano que visava instituir na Rssia um sistema moderno de educao. Vrios franceses souberam interpretar culturas muito distintas, como o Iro e a ndia, e alguns viajantes chegaram mesmo a embrenhar-se na Grcia, numa atitude dinmica, no se cingindo sua idealizao com base nos autores antigos. Para favorecer a procura de identidade de certas naes europeias, diversos franceses frequentemente as estimularam a desvincular-se da contnua torrente que provinha de Paris e de Versalhes. Os progressos da anglomania, como Peyer lhe chama, so em Frana seguidos com ateno. A influncia inglesa comea a fazer-se sentir e particularmente notada por comparatistas como Joseph Text, no que concerne a Rousseau, e Robert L. Cru, que via em Diderot um seguidor dos ingleses. Os pr-romnticos foram sensveis a influncias antigas, principalmente latinas. Esta nova viso da Antiguidade recuperou nomes como Homero e Horcio. Os homens desta poca estavam preparados para beber nas fontes antigas com lucidez e novos olhos. Diderot, por exemplo, soube entusiasmar-se com Homero, Tcito e Sneca. Se, na poca clssica, a natureza (artificial) descrita
estaticamente, no pr-romantismo comeam, pelo contrrio, a esboar-se novos processos de a trabalhar. Jean-Jacques Rousseau, o grande prromntico francs, foi quem primeiro falou da natureza sentimentalmen-te. Rousseau esquiva-se companhia dos outros homens e dedica-se fervorosamente s suas plantas, que guardava com amor no seu herbrio. Chateaubriand e o prprio Goethe (no Werther e nas poesias de amor da sua mocidade) tero, decerto, ido mais longe, aliando aviso da natureza s paixes humanas, com rasgos imensos de felicidade. Na generalidade, verificase neste perodo uma nova viso da paisagem e no somente uma mais consistente capacidade descritiva do mundo circundante. A natureza e o eu
ligam-se afectivamente, as rvores, as montanhas, os lagos, as florestas sombrias, os jardins, o Outono, a noite luarenta, os castelos abandonados esto estreitamente associados aos estados de alma do escritor. Explora-se sem parcimnia a paisagem montanhosa, selvagem. Recordemos as descries deste tipo contidas em La Nouvelle Hlose de Rousseau. Nesta poca, comeam a surgir gneros novos. A carta em verso um deles. Superiormente trabalhada por alguns poetas, ter sido at, a avaliar pelo que nos dizem certos autores, mais pura e bem conseguida do que o fora por Horcio e outros autores latinos. Voltaire foi o grande mestre desta carta. Os pr-romnticos pretendem ser extremamente sinceros. A carta constitua o meio mais sensato para manifestar a sua mundividncia. O dilogo filosfico e a carta tornaram-se grandemente originais. Estas formas de arte literria, pouco susceptveis de serem' reduzidas a um modelo nico, permitiam que os pr-romnticos espraiassem toda a sua urgncia de incoerncia e de desordem. Rousseau preconizou uma esttica que negava a ordem, a lgica, a clareza de ideias. Diderot considerava que o homem de gnio no pisa um caminho predeterminado. Em vez disso, segue ao acaso. Georges May classifica-o com exactido de artista e filsofo desconexo. E, com efeito, Diderot repudia o mtodo, a sobriedade e a sujeio a regras, factores que minam a fora e a liberdade criadoras. Estas cartas revelam um slido gosto pelo incompleto, pelo esboo, superiores em poder sugestivo obra meticulosamente erigida. A flexibilidade destas epstolas desconexas, frementes e apaixonadas abrir caminho proliferao do romance-confisso no sculo seguinte, em pases como a Alemanha, a Frana e a Rssia. O romance do sculo XIX ser imensamente revigorado com a auto-anlise, a confisso e o ritmo impulsivo nestas epstolas. O pr-romantismo incidiu sobretudo em gneros mais abertos inovao; o romance por carta; o romance pessoal, cujo pleno desenvolvimento ocorrer no sculo seguinte, na altura em que a sinceridade e o contessionalismo de homens que se procuram a si mesmos ocupar o lugar de honra; e a comdia e o drama burgueses. Na literatura pr-romntica, assiste-se valorizao do sentimento. O racionalismo neoclssico derrotado pelo corao e o sentimento, que passa a reger a vida moral, valorizado como fonte de inspirao. Ocorre o culto do eu, com o
devassamento da interioridade mais ntima do indivduo, que se revela egotista e confessionalista. Esta literatura atingia por vezes nveis to profundos que provocava respostas afectivas extremas em inmeros leitores de ento (o Werther. de Goethe, originou imensos suicdios entre os jovens europeus). Tudo isto remete para uma sensibilidade exagerada, caracterstica dos prromnticos. Os romnticos colocar-se-o no meio-termo. Os pr-romnticos manifestaram estados de alma doentios, abundantemente repassados de angstia e languidez, nascidos da incapacidade em alcanar o infinito. O taedium vitae da existncia fazia ruir toda uma existncia, cobrindo-a de uma angstia lancinante, invadia as almas exaustas e vazias, destrua toda a satisfao. Os mais activos e inquietos, como Voltaire, Diderot e Goethe, no escaparam fadiga geral e recorriam a um certo grau de loucura fingida, como meio de fugir ao tdio que resultaria de uma literatura sbria. Verifica-se uma certa satisfao ntima na dor moral, apangio de mentes superiores, para quem a saciedade no se alcana com facilidade. J as almas limitadas no padecem com essa sensao de vazio interior, porque no buscam o absoluto. Daqui nascer o mal du sicle. A doena moral era uma constante. O gosto pelo mrbido, a paixo pela morte e angstia, o culto do lamento, a entrega total melancolia so coordenadas deste perodo. A Natureza invejada, porque os seus elementos no sofrem. O locus horrendus ocupa uma posio de destaque: paisagens nocturnas e solitrias, a noite e os cemitrios, os maus pressgios e a morte prematura na juventude (relacionada com a tuberculose, a doena do sculo).D-se a transformao do maravilhoso pago em maravilhoso cristo. Chateaubriand, em O Gnio do Cristianismo rejeita a mitologia, pois considera que ela diminui a Natureza e afasta dela a verdade; ao povoar o universo de elegantes fantasmas, destrua a grandeza da criao. O cristianismo colocou tudo no seu lugar. Deus entrou de novo nas suas obras, conferindo assim valor Natureza. O catolicismo apresenta particularidades esticas e adequa-se perfeitamente s necessidades do indivduo.
5. Sistematizao
5. l . Neoclassicismo
Caractersticas gerais: Temticas: Condenao dos aspectos cullistas e conceptistas do barroco. Imitao, sem servilismo, dos clssicos greco-latinos. Imitao, sem ser simples cpia, da Natureza (locus amoenus). Bucolismo. Respeito das regras. Predomnio da razo sobre o sentimento. Funo tica e social da literatura.
Estticas e formais: Equilbrio verbal. Sobriedade de estilo: clareza, conciso. Uso da mitologia com valor alegrico.
5.2. Pr- romantismo Caractersticas gerais:
Temticas: Valorizao do sentimento: predomnio da sensibilidade sobre a razo. Busca dos sentimentos profundos do EU e confessionalismo (cf. les Confessions d'unEnfant du Sicle, de Rousseau e Werther, de Goethe. Egotismo: expresso livre dos sentimentos. Pessimismo, insatisfao espiritual. nsia de infinito. O poeta comea a surgir como um ser votado infelicidade e melancolia, a um destino fatdico. Relaes profundamente afectivas entre a Natureza (locus horrendus:
a noite, os tmulos, os cemitrios, os ciprestes, os animais nocturnos) e o eu. Associao da Natureza com os estados de alma melanclicos. Aspirao liberdade e igualdade. Declnio das influncias clssicas. O amor tratado como uma religio purificadora que a sociedade no deve impedir.
Estticas e formais: A arte uma fora que provm das profundidades do gnio. Procura de uma linguagem nova que melhor traduza a fora dos sentimentos: exclamaes, vocativos, monlogo, linguagem oralizante,
suspenses frsicas. A nova sensibilidade ainda vazada em formas clssicas, como o soneto. Comea, contudo, a verificar-se a recusa das regras, dos preceitos.
Pr-Romantismo de Bocage
No aspecto semntico muito mais do que na forma, deixa Bocage entrever na sua obra um substrato romntico que aflora de vez em quando, com sensvel nitidez, superfcie de numerosas composies. Isto d-se sempre que o Poeta manifesta:
1. um sentido agudo da sua personalidade, que o leva a retratar-se, a ver-se nascido sob o signo da infelicidade, a ter remorsos e horror ao aniquilamento, a querer redimir a vida com a morte, a comprazer-se em tumultos interiores;
2. uma melancolia enfermia, um pessimismo e um desespero vizinhos do desejo do suicdio;
3. o amor liberdade, a inadaptao ao ambiente qu o cerca, a ponto de querer um mundo imaginado a seu bel-prazer;
4. a crena em pressentimentos e agouros, a fidelidade aos impulsos dos sentidos e afectos;
5. a fascinao da penumbra tumular, do crepsculo, da treva, do macabro, da paisagem tipo belo horrvel;
6. um erotismo ora histrico at ao desespero, como quando grita:
Eu louco, eu cego, eu msero, eu perdido, de ti s trago cheia, Jnia, a mente, do mais e de mim mesmo ando esquecido;
ora doce e lnguido, como quando geme: Urselina gentil, benigna e pura, eis nas asas subtis de um ai cansado a ti meu corao voa, alagado em torrentes de sangue e de ternura...
Estilo e Linguagem
A poesia de Bocage possui, segundo Vitorino Nemsio:
1. a seiva e a truculncia de Camilo, nas stiras e outras obras; 2. energia vocabular, como a de Junqueira e Gomes Leal; 3. plasticidade como a de Castilho; 4. sugesto rtmica Eugnio de Castro (como quando diz punceo manto, rsea nuvem...); 5. frieza como a dos parnasianos.
Mas no pensemos que o ilustre crtico s viu qualidades; aponta igualmente alguns defeitos, como:
1. linguagem declamada, construda muitas vezes com repeties duras, no gnero de: seja, seja, abafa, abafa, etc., e 2. certa dureza prosaica num ou noutro verso.
De facto, quatro notas pouco lisonjeiras caracterizam o estilo de Bocage:
1. O abuso de terminologia erudita alatinada; 2. O verbalismo retrico, com suspenses e reticncias, exclamaes, interrogaes, anforas, antteses, quiasmos, etc.; 3. o excesso de alegarismo arcdico; 4. o abuso da personificao de abstraces, em substituio das perfrases mitolgicas tradicionalmente clssicas como: Fado, Desventura, Virtude, Inveja, Razo, Traio, Liberdade, Formosura, Cime, Discrdia, Desengano, Sofrimento, Morte, Amor.
Afora isto, o poeta um enamorado da beleza formal, da musicalidade da expresso. Apesar de recorrer a perfrases arrastadas (sobretudo nos encarecimentos) e, de vez em quando, a vocbulos estarrecedores, a melodia dos seus versos, recamados de antteses, hiprboles, onomatopeias, encanta e fascina. No foi sem razo que Olavo Bilac se entusiasmou at ao delrio com poesias como esta:
Se doce, no recente, ameno estio, ver toucar-se a manh de etreas flores e, lambendo as areias e os verdores, mole e queixoso deslizar-se o rio;
se doce em inocente desafio ouvirem-se os volteis amadores seus versos modulando e seus ardores de entre os aromas do pomar sombrio;
se doce mares, cus ver anilados pela quadra gentil de Amor querida, que desperta os coraes, floreia os prados;
mais doce ver-te de meus ais vencida, dar-me em teus brandos olhos desmaiados morte, morte de amor's, melhor que a vida.
nesta doura de expresso, repassada de harmonia, que Bocage contrasta com Filinto Elsio. Este prefere a linguagem robusta, linguagem com hiprbatos e com palavras e frases fora da ordem comum, linguagem tumultuosa e revoltada como o contedo que nela exprime.
Os Temas da Poesia de Bocage
Em poucos autores a poesia reflecte com tanta justeza o modo de viver de quem a fez como em Bocage.
Bocage foi um egotista; como todo o egotista, um inadaptado ao ambiente em que viveu. Tal inadaptao palpita em toda a sua obra, cujos temas reflectem em sntese:
1. uma certa desorientao ideolgica e esttica. 2. um amor frentico e desesperado; 3. a obsesso da morte e do lugar horrendo.
1. Desorientao ideolgica e esttica Bocage pagou oneroso tributo circunstncia de ter vivido numa poca de transio: transio do absolutismo para o liberalismo, transio do tradicionalismo catlico para o racionalismo e de novo para o religiosismo romntico, transio da escola clssica para a romntica. Foi por ser um homem de transio, por ter vivido nesse cotovelo da histria, que sentiu dentro do peito tendncias ideolgicas e estticas diferentes, as quais entraram em conflito umas com as outras, fazendo-o saltar constantemente, em ritmo de lanadeira, entre o absolutismo e o liberalismo, entre as normas dum Classicismo gasto e a frescura do Romantismo nascente.
a) Conflito entre o racionalismo e a crena e entre o liberalismo e o tradicionalismo.
Bem mais do que os coevos, sofreu Bocage o embate das ideias racionalistas semeadas pela Enciclopdia. Assimilou-as e elas entraram ento a esgrimir violentamente com a crena nas verdades eternas que jamais conseguiu esquecer de vez. Alm disto, afastou-se pouco a pouco do tradicionalismo do Antigo Regime. Cantou a Liberdade, me dos prazeres e, como o seu contemporneo Bingre notou, tornou-se verdadeiramente liberal, fidagal inimigo da escravido (H. Cidade, Bocage, Arcdia, Pg. 124).
Por isso, invoca a liberdade, insurge-se contra o despotismo, inimigo de frades e beatas, chama ao inferno pavorosa iluso da Eternidade, suspira por um Deus imanente, um Deus do pam-psiquismo. Ao mesmo tempo, porm, canta a Virgem Santssima, elogia D. Joo VI, chora a morte de Maria Antonieta, arrepende-se de ter escrito contra a Eternidade, pede perdo por ter sido outro Aretino.
b) Conflito entre a esttica do arcadismo e o seu temperamento romntico.
No pde isentar-se Bocage da presso que em todos os escritores do seu tempo exercia a esttica neoclssica. E ei-lo a compor odes, idlios, cantatas, epigramas, sobretudo sonetos. Todas estas composies so modelares em ordem, nitidez, rigor expressivo, fluidez meldica. Traduz Ovdio, Racine, La Fontaine. Cita Virglio, Horcio, Terncio, Ccero.
O seu temperamento egotista, porm, gritava-lhe independncia, que fosse ele, que rasgasse a camisa de foras das regras do arcadismo. Ento, nas endechas, nas canonetas, nos sonetos, fazendo pouco caso da esttica clssica, sincero, espontneo, s vezes romntico, refugiando-se no nocturno, no sentimentalismo exacerbado, delirante.
2. Amor frentico e desesperado a) Egotismo exacerbado.
O peito de Bocage andou sempre a transbordar de paixes vulcnicas e ele manifestou-as tumultuosamente, quase histericamente, hiperbolicamente sem dvida.
A primeira destas paixes que nos apraz salientar o acendrado amor ao prprio eu. Colocava-se normalmente no centro das coisas e das pessoas. E ento, ou as coisas e as pessoas se lhe opunham sobranceiras e ele descompunha-as com a violncia da stira, no se lhes sujeitando, ou elas se lhe prendiam como satlites e ele as amimava com comoventes meiguices.
Foi este egocentrismo que o levou ao desprezo da moral que, na sociedade, costuma orientar as relaes entre os indivduos. Criou-se muito cedo como est mais que vulgarizado uma lenda roda da vida licenciosa de Bocage. Com certo fundamento, porm. Enquanto frequentava a Academia Real da Marinha, dissipou muitas horas na bomia. Depois, mal chegou ndia, teve aventuras amorosas em Surrate, que no lhe acarretariam pequenos
desgostos e o levaram a escrever uma atrevida stira repleta de sensualismo; desertou, pouco depois de terra em terra e em Macau teve at de pedir dinheiro com que pagasse a passagem de regresso a Portugal. De novo em Lisboa, escreve poemas descaradamente pornogrficos, onde expe com sinceridade mas com Liberdade excessiva as manifestaes sensuais do amor.
E no eram s as regras morais que o seu eu insubmisso desrespeitava: critica os colegas da Arcdia, revolta-se contra os rivais e zurze-os desalmadamente. Tenhamos em vista o que disse do P." Jos Agostinho de Macedo em Pena de Talio.
Por outro lado, o seu egocentrismo leva-o com frequncia a mostrar-se altivo, orgulhoso mesmo. Faz girar volta da sua personalidade os temas de inmeras composies. Nelas inventaria uma significativa gama de
sentimentos, que explora at ao mago; amor, saudade, cime, inveja, sofrimento, desespero. Pinta o seu prprio retrato, compara-se a Cames, todo se envaidece ao contar como Filinto aprecia os seus versos.
E comove-nos com reais amostras de sincero carinho para com os membros da sua famlia e os amigos, como se fossem prolongamentos do seu eu: chora a morte do pai e de uma irm, dedica dezenas de sonetos a conhecidos que estimava, agradece ao pintor que o retratou e a colegas que lhe enviavam poemas, geme no exlio, torturado pelas saudades dos que deixou na Ptria.
Este contnuo curvar-se sobre o eu e este assoalhar sincero e sem rebuo dos movimentos da alma vo encaminhando o poeta, com suavidade mas tambm com deciso, para o campo do Romantismo.
b) O amor ciumento.
Vitorino Nemsio (ob. cit., pg. 26) enumera assim as mulheres cantadas por Bocage:
Tirseia, Tirslia cuja morte o fez pedir um pouco de paz s margens do Regaa, em bidos; Anarda, Armnia, Filena, Armia, mortas em flor; Anlia turberculosa; Marfida no caixo, e ele escondendo o rosto na praia da moda, em Pedrouos; Alcina, Corina, Arselina e Urselina, Ulfina e Elfina; Belisa, roubada por um Lus, l para Santarm; a Isabela de uma ode anacrentica; Crinaura, testa de ouro; Ritlia bela; Nise ingrata; Ldia cruel; Ulnia desdenhosa; Flrida, de verdes olhos e trana cor de sol.
Seria uma loucura pensarmos que amou a srio todas estas mulheres, que so mais de vinte. No amou tal. Muitos destes criptnimos encobrem a mesma pessoa; e outros personificam mulheres fingidas.
O seu primeiro amor real foi Gertrudes de Noronha (Gertrria), moa de Setbal. Inspirou-lhe as primcias poticas e f-lo chorar amargamente sob o peso de tormentosas saudades l na ndia. Ao regressar, o pobre guardamarinha sofreu uma decepo com que no contava: viu-a casada com seu irmo Gil. No encontrou outro remdio seno afogar no lcool dos botequins o compreensvel desgosto que sentiu.
Amou em seguida Maria Margarida Constncio, filha de um cirurgio do Pao. a Marlia das poesias.
Depois de um ou dois devaneios passageiros ou mal sucedidos, voltou os olhos para a filha de um seu amigo e antigo companheiro da Arcdia, Maria Vicncia Bersane (Mrcia). Foi esta, segundo se cr, quem
desinteressadamente o consolou nos ltimos anos da vida, quando o poeta pouco mais era do que um farrapo.
Em geral, Bocage cantou a paixo ertica sem se afastar muito de alegorias clssicas e outros moldes convencionais. Para ele, o Amor o rechonchudo Cupido, o deus alado da mitologia, sempre pronto a varar os coraes e a deix-los depois submersos na amargura, na tristeza da separao ou no
inferno do cime. Faltou-lhe a expresso directa de que Garrett iria lanar mo nas Folhas Cadas, e que, antes de ambos, utilizara Jos Anastcio da Cunha. Mas esta paixo , no peito do poeta, como dinamite aterradoramente explosiva. A cada passo se deixa possuir de um cime infernal, que desenha tambm em alegorias simblicas. Neste campo, mostra-se discpulo do classicismo arcdico, seno no contedo, pelo menos no aspecto formal.
s vezes, a paixo amorosa tortura-o at ao desespero, agitando-o freneticamente, qual bola de tnis, entre o prazer carnal e o sentimento da culpa.
3. Obsesso da morte e do locus horrendus
Grande parte da poesia de Bocage surge arrepiada de medo ou de olhos ansiosos ante a viso espantosa da morte. D a impresso de no poder escapar obsesso da morte, tal qual os maneiristas do sculo XVI no podiam, por mais voltas que dessem, fugir angstia da mudana.
Mas, ao fim e ao cabo, no sabemos se Bocage tem horror da morte, ou se, pelo contrrio, encara a morte na noite como um amor. Este pensamento da morte assediaria mais tarde Antero. So muito parecidos, neste ponto, os dois poetas. Talvez que s na morte encontre Bocage a verdadeira paz:
E, enquanto insana multido procura essas quimeras, esses bens do mundo, suspiro pela paz da sepultura.
Muitos dos seus poemetos so um amontoado de emblemas fnebres, tipicamente romnticos: luar, florestas sombrias, mochos que piam, frias, feiticeiras, grgonas, larvas, ciprestres, monumentos, tochas, tmulos. E depois
a noite, noite, medida da morte, a noite, cmara de meditao da Universo, a noite... como ele a cantou:
retrato da Morte! Noite amiga, por cuja escurido suspiro h tanto! Calada testemunha do meu pranto, de meus desgostos secretria antiga!
Pois manda Amor que a ti somente os diga, d-lhes pio agasalho no teu manto; ouve-os como costumas, ouve, enquanto dorme a cruel, que a delirar me obriga.
E vs, cortesos da escuridade, fantasmas vagos, mochos piadores, inimigos como eu da claridade,
em bandos acudi aos meus clamores! Quero a vossa medonha sociedade, quero fartar meu corao de horrores!
Ser para Bocage a morte uma evaso, um nivelamento, uma vingana sobre o outro, pedida pelo seu pessimismo e, em certa medida, pelo seu orgulho? Talvez.
Outra obsesso de Bocage o locus horrendus, o nocturno, o macabro. O crcere, o tartreo lume, o Inferno, as horrssonas procelas, os antros, os abismos parecem atra-lo como se lhe causassem vertigens. Para o verificar, basta ler, por exemplo, Cantata de Leandro e Hero, e os sonetos Insnia e Durante uma tempestade.
Se, por um lado, o poeta testemunha experincias vividas, por outro, parece que sente prazer sdico em ambientar com exteriores horrendos os horrendos conflitos que lhe estavam na alma.
Olha, Marlia, as flautas dos pastores
Olha, Marlia, as flautas dos pastores Que bem que soam, como esto cadentes! Olha o Tejo a sorrir-se! Olha, no sentes Os Zfiros brincar por entre as flores?
V como ali beijando-se os Amores Incitam nossos sculos ardentes! Ei-las de planta em planta as inocentes, As vagas borboletas de mil cores.
Naquele arbusto o rouxinol suspira, Ora nas folhas a abelhinha pra, Ora nos ares sussurrando gira.
Que alegre campo! Que manh to clara! Mas ah! Tudo o que vs, se eu no te vira, Mais tristeza que a noite me causara.
Descrio de um locus amoenus ao longo de quase todo o soneto (at ao final do 1 terceto), muito ao gosto clssico. No entanto, o sujeito potico esclarece que toda aquela paisagem paradisaca s possvel na presena da amada (v 13/14).
Esta atitude de apresentar a natureza como reflexo do estado da alma do poeta, em funo da presena ou ausncia da amada, uma caracterstica romntica.
Elementos neoclssicos: - a forma (soneto) - o vocabulrio alatinado ( cadente, Zfiros, sculos) - a presena da mitologia (Amores (Cupidos, filhos de Marte e de Vnus))
Elementos romnticos: - a natureza como reflexo do estado da alma do poeta (em funo da presena ou ausncia da amada); - a pontuao subjetiva (abundncia de exclamaes); - a presena do rouxinol e da noite; - o amor sensual
Alguns recursos estilsticos: - apstrofe (v 1, 3, 5); - adjectivao (cadentes, ardentes, alegre, clara); - aliterao (sobretudo de sons fricativos, sibilantes e chiantes, e de vibrantes); - personificao (v 3/4, 7/8, 9/11);
- anfora (v 1, 3, 10/11); - anstrofe (v 7/9...); - hiprbole (v 13/14); - metfora (v 4, 9, 11); - sinestesia (presena de vrias sensaes: auditivas, visuais, tcteis, gustativas, olfactivas).
Bocage
Considerado por muitos autores como o mais completo poeta do nosso sculo XVIII , Manuel Maria Barbosadu Bocage, filho de um advogado e de uma senhora frances a de quem herdou o ltimo apelido, nasceu a 15de setembro de 1765, em Setbal, e morreu a 21 de dezembro de 1805, em Lisboa. Aos 16 anos assentou praa na Infantaria de Setbal, mas em 1783 alistouse na Academia Real da Marinha. Em Lisboa, participou na vida bomia e literria e comeou a ganhar fama devido sua veia de poeta satrico. Em 1786embarcou para a ndia, chegando a ser promovido a tenent e; em 1789 aventurouse a ir a Macau e logo noano seguinte regressou a Portugal. Em Lisboa encontrou a amada Gestrudes (em poesia Gestria) casada com o seu irmo. Infeliz no amor, sem carreira e com dificuldades financeiras, dedi cou-se vida bomia e poesia, tendo publicado, em 1791, o primeiro volume de Rimas . Aderiu ento No va Arcdia (ou Academiade Belas Letras) onde recebeu o nome de Elmano Sadino. No entanto, Bocage, pela sua instabilidade irreverncia, no se adaptou ao convenc ionalismo arcdico e abriu conflitos com os seus confrades, sendo expulso em 1794. Trs anos depois foi acusado de "hertico perigoso e dissoluto de costumes" e, como era conhecida a sua simpatia pela Revoluo Francesa, foi preso e condenado pela Inqu isio. Quando saiu da recluso, conformista e gasto, viuse obrigado a viver da escrita (sobretudo de tradues). Apesar de terrecebido o au xlio de alguns amigos, acabaria por morrer doente e na misria. Se formalmente a poesia bocagiana ainda neoclssica, se nalgum vocabulrio e n os processos de natureza alegrica ainda se sente a herana clssica, concretamente a camoniana, pelo temperamento, por grande parte dos temas (como o cime, a noite, a morte, o egotismo, a liberda de, o amor - muitas vezes manifestado por uma expresso erotizante) e pela insistncia nalgumas imag
ens e verbos que denunciam uma vivncia limite, pode bem dizerse que uma parte significativa da produo potica deBocage j marcadamente pr romntica, anunciando assim a nova poca que se aproxima. Apesar de asua poesia ser contraditria, irregular, e de os seus versos revelarem concesses artisticamen te duvidosas, Bocage considerado, com justeza, um dos maiores sonetistas portugueses. As obras de Bocage encontramse editadas atualmente nas antologias: Opera Omnia, Poesias (antologiaque inclui a lrica, a stira e a ertica) e Poesias de Bocage.
(AUTORRETRATO) Magro, de olhos azuis, caro moreno, Bem servido de ps, meo na altura, Triste de facha, o mesmo de figura, Nariz alto no meio, e no pequeno: Incapaz de assistir num s terreno, Mais propenso ao furor do que ternura; Bebendo em nveas mos por taa escura De zelos infernais letal veneno: Devoto incensador de mil deidades (Digo, de moas mil) num s momento, E somente no altar amando os frades: Eis Bocage, em quem luz algum talento; Saram dele mesmo estas verdades Num dia em que se achou mais pachorrento. Bocage Este soneto de Bocage apresenta uma estrutura interna claramente bipartida. Na primeira parte, constituda pelas quadras e pelo 1. terceto, o sujeito potico es boa o seuautorretrato, em dois momentos distintos: - a primeira quadra, que respeita ao retrato fsico rosto magro, olhos azuis, pele morena, ps grandes("bem servido de ps"), estatu ra mdia ("meo na altura") e nariz grande ("alto no meio e no pequeno"). - a segunda quadra e o primeiro terceto, que evidenciam o retrato psicolgico triste de aspeto e defigura, volvel e inconstante ("Incapaz de assistir num s terr eno"), irascvel ("Mais propenso ao furor doque ternura"), enamorado por muitas mulheres ("Devoto incensador de mil deidades"). Na segunda parte, constituda pelo ltimo terceto, o sujeito potico revela a sua ide ntidade e ascircunstncias que proporcionaram a criao do soneto. De destacar ainda que este soneto, como muitos outros da lrica de Bocage, aprese nta elementosneoclssicos: a forma (soneto) e o vocabulrio alatinado (nveas, leta l, deidades). No entanto, predominamos elementos romnticos: o carcter autobiog
rfico, o individualismo, o tom confessional, o amor sensual. O universo potico bocagiano gira volta de trs grandes temticas: o eu, o amor, a morte. Da, oaparecimento de temas autobiogrficos (o eterno apaixonado, volv el e inconstante; o destino cruel; osofrimento na vida e o desejo de morte; as dificu ldades econmicas), as referncias ao amor (guiado pelocorao, no pela razo; a mor imenso que conduz ao sofrimento, insnia, ao desejo de morrer) e morte(c omo soluo para ultrapassar esse sofrimento).
Você também pode gostar
- Resoluções de Exercícios - Teoria Elementar Dos Números - Edgard Alencar - Capítulo 1Documento86 páginasResoluções de Exercícios - Teoria Elementar Dos Números - Edgard Alencar - Capítulo 1Deígerson Costa100% (3)
- Estudo para Lideres de CelulasDocumento43 páginasEstudo para Lideres de CelulasDanielAbreuAinda não há avaliações
- Lirica TrovadorescaDocumento15 páginasLirica TrovadorescaVera PinhoAinda não há avaliações
- Calcular Classificacao - Linguas e HumanidadesDocumento2 páginasCalcular Classificacao - Linguas e HumanidadesVera PinhoAinda não há avaliações
- A Gramática Nos Exames Nacionais 2011-2015 (Blog9 15-16) PDFDocumento12 páginasA Gramática Nos Exames Nacionais 2011-2015 (Blog9 15-16) PDFVera PinhoAinda não há avaliações
- Apresentação1 MoodleDocumento19 páginasApresentação1 MoodleVera PinhoAinda não há avaliações
- A Gramática Nos Exames Nacionais 2011-2015 (Blog9 15-16) PDFDocumento12 páginasA Gramática Nos Exames Nacionais 2011-2015 (Blog9 15-16) PDFVera PinhoAinda não há avaliações
- A Quebra Demográfica Do Século XIVDocumento10 páginasA Quebra Demográfica Do Século XIVVera PinhoAinda não há avaliações
- ReformaDocumento3 páginasReformaVera PinhoAinda não há avaliações
- Teste Intermédio 2011Documento10 páginasTeste Intermédio 2011Vera PinhoAinda não há avaliações
- A Cognição É Muito Importante Nos Comportamentos Relativamente Ao Corpo e Às DoençasDocumento2 páginasA Cognição É Muito Importante Nos Comportamentos Relativamente Ao Corpo e Às DoençasVera Pinho100% (1)
- Despedidas em BelemDocumento8 páginasDespedidas em BelemVera PinhoAinda não há avaliações
- Folhas Caídas RascunhoDocumento8 páginasFolhas Caídas RascunhoVera PinhoAinda não há avaliações
- Folhas Caídas BomDocumento10 páginasFolhas Caídas BomVera PinhoAinda não há avaliações
- Direito Penal Aula 04 PDFDocumento76 páginasDireito Penal Aula 04 PDFAndré NunesAinda não há avaliações
- DM JulianaPinheiro 2016 MEC-dimensionamento de Nave IndustrialDocumento201 páginasDM JulianaPinheiro 2016 MEC-dimensionamento de Nave IndustrialTomás de AlmeidaAinda não há avaliações
- MEST ProvaMetCient2017-ProvaADocumento8 páginasMEST ProvaMetCient2017-ProvaAMary PaixãoAinda não há avaliações
- Aula 03 - Cinemtica Dos Corpos RígidosDocumento56 páginasAula 03 - Cinemtica Dos Corpos RígidosSergioAinda não há avaliações
- Resenha O ContratoDocumento8 páginasResenha O ContratoClarice ZaidanAinda não há avaliações
- Psicogêneses Da EscritaDocumento42 páginasPsicogêneses Da Escritaclaidemir10Ainda não há avaliações
- O Ensino Da Filosofia Na Colônia - Ratio StudiorumDocumento13 páginasO Ensino Da Filosofia Na Colônia - Ratio StudiorumJocilaine MoreiraAinda não há avaliações
- Dosificações 9 Classe 2018 Agropec.Documento5 páginasDosificações 9 Classe 2018 Agropec.rafael chechu100% (1)
- Avaliação de HumanidadesDocumento1 páginaAvaliação de HumanidadesMarcio GuerraAinda não há avaliações
- MMPI-A Trabalho Final CarlaDocumento13 páginasMMPI-A Trabalho Final CarlaMarta PamolAinda não há avaliações
- PrionsDocumento18 páginasPrionsGabriela Almeida100% (1)
- Os Dez Mandamentos Do Bom Marceneiro.Documento1 páginaOs Dez Mandamentos Do Bom Marceneiro.Claudio Jose Marceneiro RjAinda não há avaliações
- Como Escrever Artigos Científicos PDFDocumento19 páginasComo Escrever Artigos Científicos PDFCarineAinda não há avaliações
- ApresentaçãoDocumento30 páginasApresentaçãoBERNARDO CORTYAinda não há avaliações
- Acoes para Jovens de 15 A 17 Anos No Ensino Fundamental Caderno 03 Trajetorias Criativas INICIACAO CIENTIFICA PDFDocumento24 páginasAcoes para Jovens de 15 A 17 Anos No Ensino Fundamental Caderno 03 Trajetorias Criativas INICIACAO CIENTIFICA PDFHyrley FernandesAinda não há avaliações
- Filtros WabcoDocumento2 páginasFiltros WabcoJohn Davis Mantovani SandovalAinda não há avaliações
- Alarmes Sinumerik 840DDocumento1.486 páginasAlarmes Sinumerik 840Dgiulianorc100% (1)
- Checklist ErgoListDocumento9 páginasChecklist ErgoListCharlesEvertonGomesAinda não há avaliações
- TCC o Crime de Lavagem de Dinheiro e o Instituto Da Delação Premiada - Lucio Melo BarretoDocumento24 páginasTCC o Crime de Lavagem de Dinheiro e o Instituto Da Delação Premiada - Lucio Melo BarretoRodrigo VidalAinda não há avaliações
- Apostila EvoluçãoDocumento129 páginasApostila EvoluçãoEduardoAlvesFerreiraAinda não há avaliações
- Teoria Da Firma PDFDocumento9 páginasTeoria Da Firma PDFedycarsoAinda não há avaliações
- Manual Chave de Nivel Tipo Boia Pendular PeraDocumento5 páginasManual Chave de Nivel Tipo Boia Pendular PeraAngelo MachadoAinda não há avaliações
- Apost OSM Capitulo I UniforDocumento27 páginasApost OSM Capitulo I UniforkkiccoAinda não há avaliações
- Conheça A Teoria Bizarra Que Revela A "Verdade" Sobre As Meninas Super Poderosas - AssustadorDocumento4 páginasConheça A Teoria Bizarra Que Revela A "Verdade" Sobre As Meninas Super Poderosas - AssustadorElizeu Nunes Jr.Ainda não há avaliações
- Guia Técnico Das Instalações Elétricas para A Alimentação de Veículos ElétricosDocumento60 páginasGuia Técnico Das Instalações Elétricas para A Alimentação de Veículos ElétricosnpfhAinda não há avaliações
- E-Book Glops LetteringDocumento67 páginasE-Book Glops LetteringMARCIA RAMOS100% (1)
- Teste 10D 07 20140522Documento7 páginasTeste 10D 07 20140522OCosta Dacostt0% (1)
- Crónica 9 - Clara Carlota&Silvia CháDocumento1 páginaCrónica 9 - Clara Carlota&Silvia CháEva FranciscoAinda não há avaliações