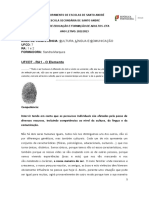Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Bian Chett I
Bian Chett I
Enviado por
Robson OliveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Bian Chett I
Bian Chett I
Enviado por
Robson OliveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AS NOVAS TECNOLOGIAS E O DEVASSAMENTO DO ESPAOTEMPO DO SABER TCITO DOS TRABALHADORES Lucdio Bianchetti1
Temas Casamento da informtica com as telecomunicaes Conhecimento (tele)tcito e resistncia dos trabalhadores Qualificao profissional x modelo de competncias Novas tecnologias da informao e comunicao e objetivao dos conhecimentos dos trabalhadores nos softwares
UM FLASH SOBRE A PROBLEMTICA PROPOSTA E SEU LOCUS
A importncia e necessidade de avanar na compreenso dos desafios em termos das novas qualificaes envolvendo aspectos cognitivos e atitudinais relaciona-se ao fato de que a preocupao em se familiarizar com a apreenso e uso do ferramental teleinformtico vem extrapolando velozmente os limites do cho de fbrica. O dia-adia da maioria das pessoas, seja no trabalho, seja no lazer, um constante defrontar-se com uma realidade que no permite mais passar ao largo do necessrio enfrentamento com equipamentos e processos que demandam conhecimentos relacionados tecnologia digital. H um consenso sobre o fato de que a preocupao com a qualificao no pode mais se restringir apenas queles que tm a incumbncia de produzir: o consumidor tambm passa a ser alvo de desafios e programas para elevar seu nvel de qualificao2. A discusso sobre a educao permanente volta ordem do dia. A nossa preocupao neste trabalho, contudo, focalizar prioritariamente como, nesse novo contexto produtivo caracterizado pelo casamento da informtica com as telecomunicaes, se d o processo de construo e manifestao das qualificaes
Doutor em Histria e Filosofia da Educao PUC/SP e Professor no Centro de Cincias da Educao da Universidade Federal de Santa Catarina. Este texto foi apresentado no decorrer da 21 Reunio anual da Associao Nacional de Ps-Graduao e Pesquisa em Educao, realizada em Caxambu, MG, entre os dias 20 e 24 de setembro de 1998. 2 A lgica subjacente ao desencadeamento de estratgias de elevao da qualificao dos consumidores est relacionada com a busca de compatibilizao entre a produo de bens sofisticados e o seu consumo por parte de clientes que saibam escolh-los e apreci-los.
tcitas3 dos trabalhadores e o posicionamento dos donos dos meios de produo frente a esses saberes. Destaque ser dado tambm aos recursos e estratgias que so utilizados seja para resguardar seja para se apropriar dos conhecimentos tcitos dos trabalhadores. A pesquisa por ns efetuada no Centro de Gerncia Integrada de Redes (CGIR) na Telecomunicaes de Santa Catarina (TELESC4) possibilita-nos a aproximao e a interveno no debate sobre a teoria e a prtica da construo e manifestao das qualificaes tcitas dos trabalhadores no campo da telemtica. Se para Marx5, na metade do sculo passado, a Inglaterra proporciona o posto favorvel observao da sociedade burguesa, disponibilizando-lhe condies de apreender o processo da sua organizao, bem como de fazer prospeces, podemos afirmar que a criao e implementao das novas tecnologias da informao e da comunicao (TICs) se apresenta como fator revelador e como tal espao-tempo privilegiado de observao dos atuais desafios para os trabalhadores no que se refere aos atributos qualificacionais indispensveis para atuar na interface informtica-telecomunicaes. Embora tendo claro que no podemos falar da superao do paradigma taylorista-fordista, por outro lado no se pode desconhecermos que o mesmo est em crise. Frente a isto questionamos: se o conceito de saber tcito conheceu um significado prprio, caracterstico no predomnio do paradigma taylorista-fordista, podemos mantlo e aplic-lo inalteradamente no predomnio do chamado paradigma da integrao e flexibilidade? Nesse campo especfico ser que no est havendo uma focalizao privilegiada no velho, embora ainda no extinto, ao invs de enfrentar o novo, se bem que ainda no o conheamos nos seus contornos claros e na tessitura que o constitui? O trabalho de Jones & Wood6 sobre as qualificaes tcitas contribui para lanar luzes e tornar explcito um campo que nos estudos de Braverman7 e seguidores fica secundado. Porm com as novas TICs novos problemas emergem e exigem mais
. Uma vez que o saber tcito dos trabalhadores o foco central deste artigo no nos preocuparemos em adiantar uma definio. Basta ter presente que aquele saber informal, no prescrito, que resulta das estratgias individuais ou coletivas dos trabalhadores de resolverem a sua maneira prpria, idiossincrtica, as imponderabilidades no decorrer do processo de trabalho. 4 . A partir de 29/07/98, com a privatizao da Telebrs, a empresa passou a fazer parte da Tele Centro Sul 5 . K. MARX. Prefcio. Contribuio crtica da economia poltica. So Paulo: Martins Fontes, 1977 6 . B. JONES & S. WOOD. Qualifications tacites, division du travail et nouvelles tecnologies. Rev. Sociologie du travail. Paris, n. 4, p. 407-21, 1984 7 . H. BRAVERMAN. Trabalho e capital monopolista. A degradao do trabalho no sculo XX. Rio de Janeiro : Zahar, 1977
pesquisas. Apontam nessa direo os trabalhos de Stroobants8 a respeito da visibilidade das competncias e de Arcangeli & Genthon9 sobre os conhecimentos teletcitos.
O LONGO PROCESSO DE BUSCA DO CONTROLE SOBRE O SABERFAZER DOS TRABALHADORES
Ao explicitar a sua mxima tornando equivalentes o saber e o poder, Francis Bacon (1561-1626), embora referindo-se ao domnio do homem sobre a natureza, est apontando para uma relao histrica atravessada pelo conflito que extrapola em muito o campo restrito ao qual ele dirigia sua ao de pesquisador. Assim, por exemplo, as corporaes de ofcio, desde as do tipo medieval dos maons/pedreiros, visavam garantir a proteo e manter segredo sobre conhecimentos que granjeavam poder aos seus possuidores. No entanto, com a produo manufatureira, gradativamente vo sendo cravadas cunhas, abertas fendas nas corporaes. Por sua vez os ofcios passam a ser decompostos em partes, de tal forma que os segredos em torno dos saberes no podem ser guardados. De acordo com Bryan10, o controle corporativo do tipo artesanal sobre a aprendizagem, que proibia a divulgao do conhecimento do ofcio, havia sido destrudo no final do sculo XVII (p. 34). Esse longo processo de fragmentao das tarefas e da gradativa perda do controle sobre o saber-fazer, por parte dos trabalhadores, ganha foros de cincia com F.W. Taylor (1856-1915). Ele estuda detalhadamente tempo e movimento para propor a sua Administrao Cientfica, inserindo, no processo produtivo, uma clara diviso entre planejadores e executantes. Com o fordismo, a diviso tcnica e social do trabalho elevada ao paroxismo e as propostas de Taylor11 experimentam sua plena objetivao. Embora a uns coubesse as funes de planejar a quem era atribuda a criao e a outros executar ordens/funes preestabelecidas a ponto de o pai da gerncia cientfica apresentar como prottipo destes o homem tipo bovino -, nem a Taylor escapa
8
. M. STROOBANTS. A visibilidade das competncias. In: ROP, F. & TANGUY, L. (orgs.). Saberes e competncias. O uso de tais noes na escola e na empresa. So Paulo : Papirus, 1997 9 . F. ARCANGELI, & C. GENTHON. The accumulation and management of tacit knowledge: a challenge for multimedia. Paper presented at Conference Economie de lInformation, Lyon, mai, 1995. Mimeo. 10 . A. P. BRYAN. Economia poltica do trabalho e formao do trabalhador: a contribuio terica e prtica de Hodgskin. Revista Pro-Posies. Campinas, Faculdade de Educao, v. 5, n. 3[15], p. 32-52, nov. 1994 11 . F. W. TAYLOR. Princpios de administrao cientfica. 7 ed. So Paulo : Atlas, 1979
o detalhe de que, no processo, o fazer se reveste da caracterstica de tantos fazeres quantos sejam os executantes. Do seu ponto de vista o problema no era tanto o fato de haver criao na execuo, mas sim o fato dessa criao ser aleatria, no sistematizada. Por isso que gerncia atribuda, por exemplo, a funo de reunir todos os conhecimentos tradicionais que no passado possuram os trabalhadores e ento classific-los, tabul-los, reduzi-los a normas, leis ou frmulas, grandemente teis ao operrio para execuo do seu trabalho dirio (p. 49). bem verdade que Taylor tenta reduzir ao mnimo possvel esse espao de ao dos operrios pede-lhes que no produzam mais por sua prpria iniciativa, mas sim que executem pontualmente ordens dadas nos mnimos detalhes-, tentando impedi-los de tomarem iniciativas por sua prpria conta. A reao dos trabalhadores, tanto individual quanto atravs da sua representao classista, uma histria de batalhas bem sucedidas e de inmeros reveses, conforme registram os anais que focalizam e analisam as relaes entre capital e trabalho. Com o passar do tempo e apesar de toda a rigorosidade formalizadora do taylorismo fica evidente que a iniciativa e criatividade dos trabalhadores mesmo tendo presente que esta iniciativa e criatividade so confinadas s exigncias e limites do capital - nem podia e nem devia ser cerceada. No limite a concretizao desse objetivo o estancamento do progresso, das transformaes e das inovaes, levando de um lado, exausto a dinmica que propicia a acumulao do capital e de outro, efetivao da manifesta aspirao de, na esfera do trabalho, contar apenas com monos executores de funes prvia e rigorosamente prescritas. Por mais que haja um empenho no sentido de que as propostas de racionalizao e melhorias no processo produtivo resultem apenas da ao dos planejadores, seu distanciamento do cho de fbrica um empecilho para alcanar tal intento. Por mais que se tente cercear a criao dos trabalhadores, eles no deixam de imprimir o seu trao pessoal, de inserir a sua fisionomia prpria, de manifestar suas idiossincrasias seja nos produtos seja nos processos. No entanto no h como deixar de reconhecer que, embora no seja possvel esposar integralmente as teses de Braverman especialmente a da desqualificao absoluta -, nesse confronto, no predomnio do taylorismo-fordismo, os trabalhadores
sofrem reveses no seu saber e no seu poder. Nas palavras de Pierre Lvy12, o rudo dos aplausos ao progresso cobria as queixas dos perdedores e mascarava o silncio do pensar (p. 08). O trabalho de Jones & Wood pode ser considerado um clssico no estudo das qualificaes tcitas. Indo de encontro teorizao de Braverman e dos seus seguidores, os autores afirmam a existncia de qualificaes que, por mais que o capital as queira expropriar para transform-las em trabalho morto atravs da objetivao delas nos equipamentos ou impedir que os trabalhadores as manifestem, no podem ser
inteiramente conformadas ou racionalizadas, independentemente do grau de informatizao dos equipamentos e processos. uma misso fadada ao fracasso, pois esse um espao prprio, exclusivo dos trabalhadores. Assim sendo, a tese
bravermaniana da desqualificao precisa ser relativizada e o campo das qualificaes forado a abrir-se para incorporar aportes da dimenso subjetiva dos trabalhadores. Com isto, de um lado, esse campo se torna mais conflitivo, pois preciso abandonar a postura acomodada de pensar nos estreitos limites da polarizao (re)qualificaodesqualificao e, por outro, o enriquece ao incorporar elementos que o ampliam, contribuindo para uma compreenso mais abrangente do contencioso em torno das qualificaes. Ao ser desencadeado o processo de transformaes tecnolgicas e
organizacionais, dotando de materialidade o chamado paradigma da integrao e flexibilidade, h por parte do capital uma radicalizao na direo do enfraquecimento da esfera do trabalho no que concerne sua organizao enquanto classe13, isto , tomam-se iniciativas visando minar o poder dos trabalhadores. No campo do saber so desencadeadas estratgias em duas direes: a) no sentido de reconhecer explicitamente a importncia dos conhecimentos produzidos pelos trabalhadores e de potencializar a sua participao na inovao seja de produtos ou de processos e b) no desenvolvimento de tecnologias capazes de registrar, formalizar e tornar mais visveis e, consequentemente, passveis de objetivao as manhas, os macetes, os jeitinhos, as
. P. Lvy. As tecnologias da inteligncia. O futuro do pensamento na era da informtica. Rio de janeiro : Editora 34, 1995 13 . Para se proteger de um movimento sindical que dava mostras de fora crescente a empresa recorreu no apenas ao enxugamento de seus quadros, mas buscou apropriar-se do conhecimento acumulado por operadores casados com as suas plantas (p. 57). Cf. N. A.CASTRO. & A. S. GUIMARES, Competitividade, tecnologia e gesto do trabalho: a petroqumica brasileira nos anos 90. In: LEITE, M.P. & SILVA, R. Aparecido da. Modernizao tecnolgica, relaes de trabalho e prticas de resistncia. So Paulo : Iglu, Ildes e Labor, 1991
12
formas idiossincrticas dos trabalhadores solucionarem as imponderabilidades no processo do trabalho.
O RECONHECIMENTO E A BUSCA DO SABER TCITO SE TORNA MAIS EXPLCITA
Percebe-se assim uma trajetria que vai das tentativas tayloristas da negao do espao para as iniciativas dos trabalhadores para uma situao no s de reconhecimento, como do estmulo aos trabalhadores para desenvolverem e apresentarem sadas originais seja para a produo ou comercializao de produtos, seja para a prestao de servios. Uma primeira e significativa mudana refere-se prpria maneira de os empresrios se posicionarem frente aos saberes tcitos dos trabalhadores. Se durante muito tempo sucumbiram v busca de concretizar o one best way taylorista busca esta que, embora com estratgias mais sofisticadas, continua na ordem do dia! -, determinando como, quando e em quanto tempo executar operaes, agora, alm de reconhecerem a importncia dos saberes tcitos, vem neles a principal possibilidade de continuar dinamizando o processo produtivo. No dizer de Chanaron & Perrin14, a prpria criao e implementao por parte das empresas de estratgias organizacionais e gerenciais prevendo a participao indica o reconhecimento de que os trabalhadores so os nicos capazes de resolver problemas que so desconhecidos (p. 25). A implementao de estratgias de participao dos trabalhadores embora dentro de certos limites! - est na base da busca de cooperao deles na identificao e transferncia dos saberes para as mquinas. A necessidade de cooperao dos trabalhadores vista como imprescindvel, pois o problema do capital no se esgota na referida transferncia dos saberes s mquinas uma vez que, feita esta operao, tornase necessrio criar novos espaos, suscitar a emergncia de novos savoir-faire dos trabalhadores pois, caso contrrio, a prpria manuteno do modo capitalista de produo corre riscos. Pesquisas mais recentes mostram que o reconhecimento da existncia desses saberes e a busca por parte do capital de se apropriar deles vem se tornando cada vez
. J.J. CHANARON & J. PERRIN. Science, tecnologie et modes dorganisation du travail. Sociologie du travail. Paris, n. 1, p. 33, 1986
14
mais explcita. Em depoimento Luclia Machado15, em sua pesquisa junto a uma empresa do ramo eletrnico de Minas Gerais, um engenheiro explicita que as operadoras tm um saber adquirido na experincia intraduzvel por palavras. Essas operadoras, continua o depoente, so espertas, so inteligentes. Por que no capturar realmente esse conhecimento e traz-lo para nossas operaes?(p. 81). Sem dvida, a tentativa de responder afirmativamente a essa questo tem se constitudo num dos motores dos esforos dos empregadores ao desencadearem transformaes no processo produtivo. As transformaes, por sua vez, dependem da adeso incondicional dos trabalhadores. No leque dessas estratgias, cooperao induzida e/ou espontnea, cooptao e ameaa de perda do emprego entremesclam-se, tornando mais conflitivo o campo das qualificaes, pois o reconhecimento e a explicitao de que estas qualificaes existem e de que o capital depende delas para manter-se/expandir-se no transforma, num passe de mgica, a resistncia dos trabalhadores em consentimento e colaborao. O declnio da produo em srie na sua forma clssica e a gradativa predominncia do paradigma da integrao e flexibilidade visando garantir a customizao de produtos e servios tendo nas ISO 9000 um dos principais instrumentos dessa garantia - est obrigando o capital a intensificar a busca da colaborao dos trabalhadores. Por outro lado, como afirma Zarifian16, a tendncia singularizao da oferta de bens e servios traz como decorrncia a necessidade de saber quem o cliente, quais suas necessidades, qual sua opinio sobre produtos e servios, quais as estratgias de convencimento para faz-lo consumir. Os empresrios sabem que esses objetivos tm mais possibilidades de ser alcanados quando os trabalhadores, alm de executar as prescries a respeito de tarefas a ser cumpridas, lanam mo de solues heterodoxas17 para resolver situaes imprevistas.
NOVOS APORTES NO ESTUDO DAS QUALIFICAES TCITAS
15
. Luclia R. S. MACHADO. Pedagogia fabril e qualificao do trabalho: mediaes educativas do realinhamento produtivo. Belo Horizonte : Faculdade de Educao, UFMG, 1995. Tese. Mimeo 16 . Philippe ZARIFIAN. Organizao e produo industrial de servios. Boletim Tcnico da Escola Politcnica da USP. So Paulo, n. 41, 1997 17 . Um exemplo de soluo heterodoxa a utilizao de papis de carteira de cigarros para calar partes gastas dos equipamentos de modo a no interromper o seu uso ou a prestao do servio. Um engenheiro da Telesc relatou o exemplo de um operador que, com a insero de um palito de fsforo entre dois componentes de um equipamento, foi capaz de recolocar uma central analgica em funcionamento. uma personalizao do trabalho, afirmou outro engenheiro ao explicar que no decorrer do predomnio do
paradigma analgico um operador era capaz de manter o equipamento em uso com um palito, papelzinho, uma lixinha no contato, um ajuste naquele contatozinho.
Tanto na literatura, quanto na nossa pesquisa junto a TELESC detectamos que, enquanto na base fsica predominou a aplicao da tecnologia analgica ou eletromecnica e as estratgias gerenciais e organizacionais se pautaram no taylorismofordismo, as manifestaes sobre os saberes tcitos dos trabalhadores se caracterizaram basicamente por conceb-los como: saberes implcitos; de difcil formalizao, codificao e, consequentemente, de difcil generalizao; saberes que se constituem a partir da longa permanncia do trabalhador num mesmo posto ou setor de trabalho; conhecimentos menos passveis de controle por parte da gerncia e como tal se constituindo num forte elemento que amplia o poder de barganha dos trabalhadores e, principalmente, as qualificaes tcitas so concebidas como um recurso inalienvel dos trabalhadores. Alm disso, por serem informais, so saberes que no se constituem enquanto objeto de estudo das instituies formais de ensino. Porm, na medida que as transformaes tecnolgicas supremacia da tecnologia digital em relao analgica , organizacionais e gerenciais passam a caracterizar-se mais pela integrao e flexibilidade, a constituio desse campo conhece outra configurao e as manifestaes dos saberes tcitos por parte dos trabalhadores, individual e coletivamente, traz a estes novas conseqncias. As novas tecnologias da informao e da comunicao esto na base desse redimensionamento do espao-tempo e do novo significado do saber tcito para os trabalhadores. Para que serve a experincia em informtica (p. 85), pergunta-se Marcelo Franco18, quando a performance da informao sobrepe o valor da experincia e da memria humana? E conclui: Quando ocorrem constantes transformaes muito mais til descobrir o que est surgindo do que conhecer o obsoleto. Moura19, na sua pesquisa junto a TELEMIG, detecta que, atravs da
estratgia do mapeamento dos conhecimentos a empresa, na verdade, est empenhada em controlar o savoir-faire dos trabalhadores. Segundo a autora, agora isto parece estar mais vulnervel ao controle, pois as informaes manejadas pelos trabalhadores so incorporadas s redes de informao, permitindo uma integrao virtual dos conhecimentos aplicados no desenvolvimento de tarefas (p. 48).
18
. Marcelo A. FRANCO. Ensaio sobre as tecnologias digitais da inteligncia. So Paulo : Papirus, 1997
19
. M. A. MOURA. Tecnologias da informao e capacitao de trabalhadores no setor de telecomunicaes. Belo Horizonte : UFMG/FAE, 1996. Dissertao. Mimeo
Por sua vez Fazzi20, em pesquisa desenvolvida junto TELERJ, detecta que h uma tendncia de os processos informatizados se tornarem auto-explicativos levando padronizao do seu funcionamento. Na verdade, afirma, esta uniformizao da lgica dos sistemas informatizados que possibilita a flexibilidade dos vrios processos produtivos e o remanejamento de trabalhadores de um setor para outro, com a maior facilidade (p. 157), impedindo-os de fixar-se num posto e ali construir sua qualificao. Arcangeli & Genthon21 manifestam-se sobre o desafio multimdia relacionado ao acmulo e gerenciamento do conhecimento tcito. Os autores analisam a literatura mais recente a respeito de como as empresas no predomnio do paradigma fordista agiam e no toyotista agem com relao formalizao e comunicao/troca dos
conhecimentos economicamente teis. Afirmam terem percebido mudanas na cultura organizacional no sentido de uma busca contnua de formalizao do conhecimento tcito. Diferentemente da firma fordista, a toyotista tem estado tentando racionalizar os fluxos de aprendizado e o uso do estoque de conhecimento, aumentando a taxa de codificao, transferncia e uso repetitivo do mesmo conhecimento por todo o mundo (grifo nosso). Na nova forma de organizao das empresas, caracterizadas pela flexibilizao da sua estrutura, tendendo a uma maior horizontalizao, as informaes e o conhecimento passam a receber um novo tipo de tratamento, tanto no interior dessas empresas como entre elas. Neste ltimo aspecto, uma decorrncia significativa ser o conhecimento teletcito, que a criao, partilha, recombinao e troca do conhecimento tcito entre stios distantes (p. 7). Assim, as novas TICs passariam a ter tambm a incumbncia de dinamizar os fluxos desses conhecimentos entre empresas, independentemente da sua localizao. Afirmam os autores que o fato dos conhecimentos cooperativo e tcito tambm poderem ser produzidos e partilhados distncia o novo efeito potencial da multimdia comparada com as ferramentas de comunicao anteriores (p. 10). Uma conseqncia imediatamente perceptvel deste potencial refere-se ao fato de que a formalizao e troca dos saberes tcitos, neste novo contexto, acontecer de uma forma mais rpida e intensa, levando a que sejam questionadas as decorrncias para
20
. J. L. FAZZI A teia da formao humana: a experincia de trabalho nas telecomunicaes. Belo Horizonte : UFMG/FAE, 1996 21 . Opus cit., p. 6
10
os trabalhadores dessa ampliao dos fluxos de conhecimento partilhado. Pode-se supor que, ao ser invadido no seu espao particular e ao ter formalizado e tornado universal o seu saber tcito, o trabalhador tender a ver reduzido o seu poder de barganha. No decorrer da nossa pesquisa junto TELESC buscamos traar um paralelo entre a qualificao necessria para os operadores atuarem com equipamentos analgicos e digitais. Um engenheiro que chefia um setor totalmente digitalizado, assim se manifestou: Antigamente nas analgicas voc no poderia colocar uma pessoa com pouca qualificao tcnica para trabalhar. Ele teria que soldar, puxar fio, saber cor de fio, saber o equipamento, saber se est limpo, se est sujo. Hoje em dia a qualificao tcnica do operador de central digital no precisa ser to rgida assim. A personalizao do trabalho dele existe pouco. Pouca personalizao porque voc pode olhar: ele organiza os arquivos assim, ele organiza os comandos assim. Essa a personalizao dele. Agora o desenvolvedor, o cara que fez o desenvolvimento do software, com certeza ele sempre preparou a mquina, para a mquina conduzir o operador da frente. Ento ele no tem muita criatividade (destaque nosso). Os operadores que supervisionam os mecanismos22 de telessuperviso23 atuam sobre eles a partir das qualificaes tcitas do coletivo de trabalhadores que vieram sendo transferidas para os softwares no decorrer do tempo. Isto , h a construo de um caminho ascendente, uma codificao que d origem a um conhecimento que se manifesta, para eles, no telo. No s os conhecimentos esto objetivados, mas os prprios comandos que devem ser dados ou as decises a serem tomadas, os tcnicos a serem acionados para consertos e o prprio meio de localiz-los compem o software que eles devem gerenciar para que este gerencie o sistema. Frente a isso buscamos saber qual o tipo de decodificao que eles fazem quando aparece no telo um aviso de anormalidade no funcionamento do sistema. Nos surpreendeu a surpresa que esta questo suscitou nos operadores. Os instantes de silncio que se seguiram questo so indicativos de que provavelmente esses operadores abriram mo de cultivar a curiosidade manifestada pelos trabalhadores entrevistados por Castillo24 ao afirmarem:
22
. Dentre estes destaca-se as CPAs (Central de) Controle por Programa Armazenado, um equipamento que sintetiza a juno da informtica com o telefone.
23
. A telessuperviso uma das funes-chave do Centro de Gerncia Integrada de Redes. Atravs de uma srie de equipamentos os operadores, reunidos no CGIR fazem superviso distncia. Todo o processo visualizado em quatro grandes teles, a partir de cujos indicadores as decises so tomadas.
. J. J. CASTILLO (compilador). La automacin y el futuro del trabajo. 2 ed. Madrid: Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1991
24
11
A m lo que me gustara saber es lo que hay detrs de los botones, del teclado del sistema informtico (p. 294) - uma questo tpica de trabalhadores que atuaram por muito tempo com tecnologia analgica. Para o engenheiro que gerencia o CGIR, para desconstruir a codificao que foi feita e manter o sistema funcionando o operador coloca em ao o abstrato. Porque se a mquina pediu um comando, algum codificou alguma coisa, essa codificao vai ser mostrada para o operador atravs de alguma coisa que a mquina quer: olha, para voc imprimir voc tem que apertar aqui, certo? Ento quando ele l: para imprimir aperte enter. Ento l na cabea dele ele sabe que tem que apertar o enter. Agora o que a mquina fez [Pausa. Pensa] essa decodificao aqui a nica coisa que ele sabe. aquele comando que a mquina pediu. Na manifestao de um dos operadores que atua no sistema de telessuperviso a respeito dos conhecimentos codificados ou formalizados que foram sendo inseridos no software foi ficando evidente o quo pouco se pensa sobre isso. Inicia falando que realmente foram tomados conhecimentos de vrias pessoas nem todas daqui n?! - e foram codificados. [Interrompe o seu depoimento e fica pensando por segundos.] Pergunta-se ento: E foram codificados para qu? Para que a mquina pudesse fazer esse trabalho e mostrar uma situao para ns e a partir da na hora da anlise desses dados gerados por essa codificao feita uma decodificao. Instado a explicitar como se d esse processo, acaba por naturalizar uma construo datada e localizada, parecendo no ter se dado conta de todos os aspectos envolvidos: Esse processo a, seria um processo natural de qualquer automatizao, de qualquer mecanizao de uma atividade. Creio que no teria muito a dizer sobre isso, especificamente no caso desse software, porque um processo natural. De nossa parte, um dos aspectos que mais chama a ateno, do ponto de vista das opes polticas e do potencial tecnolgico e dramtico da perspectiva do emprego, que, ao olhar para os teles, embora nem sempre eles se dem conta, os operadores esto olhando para qualificaes tcitas de vrios outros trabalhadores que os precederam. Ali objetivados, esto saberes que vieram sendo construdos para solucionar imponderabilidades, as quais continuam se manifestando. No entanto, agora, com a intermediao da tecnologia, os operadores utilizam um atalho que vai direto da manifestao de excees recolocao em funcionamento timo do sistema, sem que
12
eles, porque outros j o fizeram, necessitem percorrer o caminho da construo da soluo. Segundo Del Nero25 caracterstica dos seres humanos, antes de agirem, desencadearem complexas operaes de decodificao. Ao perceber que a maior parte das aes dos operadores so lineares ou no mximo circulares difcil pensar em complexidade. Diante disso fica mais fcil compreender a insistncia dos engenheiros a respeito da necessidade de acreditar, de ter f, em vez de insistir em querer entender o que acontece no interior da caixa-preta. Se a um comando dado sucede-se o resultado esperado - e caso isso no ocorra o prprio programa avisa e indica qual o comando certo -, os desafios sobre o que e por que pensar diminuem. A preocupao em progressivamente formalizar os conhecimentos tcitos dos trabalhadores nos equipamentos de tal monta que um dos operadores chega a manifestar o paradoxo segundo o qual o ideal aspirado pela empresa chegar a uma situao de pagar os operadores para eles no fazerem nada a no ser assistir o mecanismo de telessuperviso fazer o autogerenciamento. Este trabalhador parece no se dar conta de que nos setores onde isto j uma realidade todas as empresas e a sua prpria - devido supremacia da lgica emanada da economia de mercado - perderam o interesse na presena do trabalhador como mero assistente. Afirmaes como a desse operador nos reportam a um quadro que poderamos chamar de tipicamente neobravermaniano, em que operadores cumprem
predominantemente funes prescritas, que so saberes tcitos objetivados em softwares. Taylorismo, fordismo, integrao e flexibilidade se entremesclam num todo de continuidade e descontinuidade. Atividades e gestos repetitivos se misturam, embora em tempos e espaos cada vez mais reduzidos, a respostas singulares frente a eventos imprevistos. Perguntados sobre em que seria diferente o relatrio das situaes e episdios ocorridos numa noite em relao anterior, os operadores que fazem planto respondem que, na prtica, bastaria fazer apenas um relatrio, pois as variaes nas intervenes, nos procedimentos, so pequenas. O que muda de uma noite para a outra so os eventos, os fenmenos - queda de energia, vendaval, trovoada etc. -, mas os comandos, as decises a serem tomadas so muito parecidas. A prpria observao dos movimentos dos operadores frente e entre os equipamentos mostra seqncias
. H. S. DEL NERO. O stio da mente. Pensamento, emoo e vontade no crebro humano. So Paulo : Collegium Cognitio, 1997
25
13
predominantemente repetitivas: observa os avisos nos teles; interroga o software a respeito do problema indicado; verifica as opes apresentadas pelos softwares; executa o (tele)comando que pode ser a soluo do problema por comando remoto ou o envio do tcnico para solucionar o problema detectado. Falando das atuais facilidades proporcionadas pela existncia da telessuperviso, um engenheiro que ocupa posio de chefia no CGIR comenta a vantagem de visualizar nos teles a indicao do problema e no apenas luzes piscando, como ocorria no predomnio da tecnologia analgica. Conforme suas palavras: Quando dava um alarme eu enviava um tcnico de transmisso e um tcnico de energia e mais um carro e no sabia qual era o problema. Era um tiro no escuro. Agora tudo muito preciso: isso! O contedo desta manifestao faz lembrar o depoimento de outro engenheiro quando afirma: A tcnica que eles esto utilizando j no de localizao e remoo de defeitos, mas de substituio de unidades, geralmente a partir de comandos remotos. O que veio se tornando evidente no decorrer das nossas observaes e investigaes junto aos trabalhadores da TELESC um gradativo e constante estreitamento desse espao-tempo e a criao de estratgias para invadir esse reduto e aproveitar-se das construes feitas pelos trabalhadores visando potencializar os processos racionalizadores. No predomnio especialmente do taylorismo e do fordismo, as maneiras prprias, idiossincrticas dos trabalhadores resolverem os problemas que ocorriam no processo produtivo e as sugestes e sadas singulares para inserir melhorias nesse mesmo processo, de um lado se apresentavam como decisivas para os empresrios melhorarem a produo e a produtividade e, de outro, eram um espao-tempo de resistncia, de ampliao do poder de barganha dos trabalhadores. No so poucos os operadores da TELESC que nos afirmam o seu sentimento de perda, o vazio ou a imensa saudade de uma poca em que um saber particular lhes trazia retornos em termos de um poder coletivo. Com segurana podemos afirmar que alguns aspectos desse espao-tempo de construo e manifestao dos saberes tcitos se mantm da mesma forma que se manifestam no predomnio do paradigma taylorista-fordista, ao passo que outros apresentam nuanas peculiares de um perodo de transio. Permanece a importncia atribuda pelo capital a esses saberes como forma de garantir as constantes e necessrias melhorias que precisam ser inseridas na produo de bens e, no caso enfocado pela nossa pesquisa, na prestao de servios, a fim de garantir que a queda da taxa de lucros seja mais lenta; apesar de todos os avanos e conquistas asseguradas com a passagem da
14
tecnologia analgica digital, permanece o espao-tempo para a ocorrncia de imponderabilidades no processo de produo de bens e na prestao de servios; enquanto meio de criao, este espao-tempo continua sendo um reduto exclusivo dos trabalhadores. No entanto, com os recursos propiciados pelas novas TICs e com a progressiva objetivao dos conhecimentos dos trabalhadores nos equipamentos inseriuse uma metamorfose ainda pouco estudada e compreendida no tocante a esse espaotempo de saber que dava poder aos trabalhadores. Na medida em que com esses novos recursos fica disponvel na memria dos softwares, para anlise e avaliao por parte das gerncias, uma srie de registros sobre quem faz, o que faz ou deixa de fazer, quando, em que tempo e como feito caracterizando o fenmeno da visibilidade das competncias apontado por Stroobants26 - somos forados a reconhecer que esse reduto que era exclusivo dos trabalhadores est passando por um processo de devassagem com conseqncias ainda de difcil avaliao demandando mais investigaes. O que se pode deduzir com relativa certeza que os constructos e as categorias de anlise que se mostraram adequadas para apreender o espao-tempo de construo e manifestao dos saberes tcitos dos trabalhadores caractersticas do industrialismo hoje j no o so. Mesmo que no decorrer do nosso trabalho tenhamos feito constantemente cotejos entre os paradigmas taylorista-fordista e da integrao e flexibilidade encontrando justificao na constatada transformao e permanncia, superao e manuteno de paradigmas -, na especificidade das qualificaes tcitas se materializa o preceito evanglico segundo o qual no se pode colocar vinho novo em odres velhos ou aplicar um remendo novo em tecidos velhos. O contato, atravs da literatura, com estudos a respeito da estratgia tele ( distncia) de lidar com os saberes tcitos teletcitos - evidencia uma nova faceta no processo de construo, manifestao e apreenso desses saberes. A possibilidade de trocas on line, independente do espao e do tempo, de sadas singulares para problemas no previstos, em funo do potencial dos registros disponibilizadores dos saberes e fazeres dos trabalhadores, deixa entreaberta uma porta para a invaso desse reduto e sugere mais um fator de fragilizao da posio de quem contava tambm com esse poder e esse saber para progredir e, no limite, se manter naquele posto ou setor de trabalho. O acompanhamento sistemtico e a investigao do trabalho dos operadores do CGIR/TELESC evidenciou essa realidade de gradativa diminuio do espao-tempo de
15
construo e manifestao dos saberes tcitos dos trabalhadores. A diferena j se torna manifesta no processo de qualificao para assumir postos ou a responsabilidade por setores. O espao-tempo de formao para atuar em telessuperviso, por exemplo, no est atrelado formalizao de conhecimentos atravs de instituies formais de ensino - embora se pressuponham conhecimentos bsicos e nem tem a ver com uma longa permanncia num mesmo posto de trabalho. Com noes elementares e em um curto espao de tempo - no mximo quatro meses - acompanhando o trabalho de colegas que atuam no setor - tendo o cuidado de no assimilar os seus vcios, as suas manhas - possvel assumir as funes de telessuperviso. Reconhecidamente, seja da parte dos operadores seja dos gerentes, o trabalho se caracteriza pela rotina, pela automatizao de comandos. A insistncia com que os gerentes afirmam a necessidade de prevenir problemas e solucion-los antes de o cliente se dar conta que houve um problema bem como a perseguio do ndice zero de defeitos so a prova, de um lado, de que se reconhece a ocorrncia de imponderabilidades e, portanto, da imprescindibilidade do trabalhador no processo produtivo, e de outro, a caa s formas prprias, os jeitinhos, as manhas dos operadores fazerem suas intervenes e solucionarem os problemas latentes ou manifestos, tornando-os visveis de forma a poder incorpor-los, quando possvel, nos novos softwares. No entanto, muito diferente de antes, quando enfatizavam a faanha de terem sido capazes de manter ou recolocar o sistema em funcionamento, fato que os tornava respeitados por serem considerados ses, experts, agora os operadores manifestam um dilema que acrescenta um ingrediente explosivo ao enigma da esfinge a que estavam sujeitos os transeuntes que pretendiam atravessar o prtico de Tebas: se no me decifrares sers devorado; se me decifrares te devorarei. Ou em outras palavras: se no decifrarem e solucionarem os problemas que causam a interrupo da prestao dos servios so devorados do posto ou setor de trabalho; decifrando e resolvendo as imponderabilidades, o seu saber, com o tempo, devorado e transforma-se em trabalho morto, restringindo o espao de presena dos trabalhadores. Portanto, muito alm de sermos obrigados a tentar entender o espao para criao e manifestao dos saberes tcitos dos trabalhadores, temos de enfrentar a evidncia manifesta neste setor especfico por ns pesquisado - de que a prpria presena do trabalhador no processo de trabalho que est em risco.
26
. Opus cit.
16
CONCLUINDO-PARTINDO
Parece haver evidncias suficientes para afirmar que, apesar de todos os avanos cientficos e tecnolgicos alcanados pela humanidade e apesar de todos os esforos despendidos pelo capital na tentativa de reduzir a sua dependncia diante do trabalho vivo, a automatizao absoluta um projeto fadado a no se concretizar. Por mais que seja possvel replicar conhecimentos e habilidades humanas em mquinas, h limites que so insuperveis. Contudo, a natureza da tecnologia digital e os pressupostos e o processo das transformaes organizacionais e gerenciais que consubstanciam o paradigma da integrao e flexibilidade esto colocando problemas prticos para os quais a reflexo e as explicaes tericas produzidas at o momento ainda no foram suficientemente esclarecedoras. Esta busca uma obra de muitos e demandar tempo. Pensamos que uma contribuio para esse debate poder ser dada ao levantarmos questionamentos visando explicitar alguns elementos daquilo que caracteriza a natureza da digitalizao dos equipamentos e processos e as novas formas de controle do trabalho predominante e, frente a isso, quais so e como se caracterizam os conhecimentos e os contedos das novas qualificaes exigidas dos trabalhadores para atuar nesse contexto, bem como o papel dos usurios/clientes nesse processo. Assim procedendo ser possvel lanar algumas luzes sobre o espao e as caractersticas das qualificaes tcitas dos trabalhadores na especificidade do setor de telecomunicaes. Compreender a questo das qualificaes tcitas no predomnio da digitalizao de equipamentos se torna mais urgente quando se tem evidncias de que diferentemente do que muitos pensam afirma um engenheiro da TELESC - o tempo de predomnio do paradigma digital ser muito breve, pois ele constitui mera passagem para um espao-tempo que est muito prximo, no qual passaro a predominar as redes neurais27, com uma lgica que supe o conhecimento do digital, mas que no se reduzir a este.
27
. Atravs das redes neurais os pesquisadores esto tentando reproduzir, em mquinas, a forma de organizao das atividades mentais humanas.
17
Resumo
A apropriao do saber-fazer dos trabalhadores sempre se constituiu em um dos desafios dos donos dos meios de produo. O intento de apropriar-se desse conhecimento, no entanto, vem esbarrando na resistncia do trabalhador individual e/ou da sua categoria. Ser possuidor desse saber-fazer franqueava um poder de barganha classe trabalhadora criando um certo equilbrio numa relao atravessada pela desigualdade. Com as novas tecnologias da informao e da comunicao, contudo, so inseridos elementos novos nesse processo. A visibilidade das competncias, atravs da progressiva objetivao dos conhecimentos dos trabalhadores seu saber-fazer - nos softwares e o potencial de trocas instantneas dos chamados conhecimentos teletcitos, exige que sejam rediscutidos os conceitos de
qualificao, qualificao tcita, apropriao e expropriao, bem como seja retomado o entendimento sobre o controle do saber-fazer dos trabalhadores.
Questes para discusso 1. At pouco tempo havia consenso em torno do fato de que o saber tcito dos trabalhadores era um espao-tempo exclusivamente seu enquanto indivduo e categoria - que lhe proporcionava poder de barganha para se impor e fazer exigncias. Por serem saberes que resultavam de um longo processo de permanncia num mesmo posto de trabalho e das formas prprias, idiossincrticas de cada trabalhador solucionar os imprevistos no processo de trabalho, esses saberes eram de difcil formalizao e, consequentemente de difcil transmisso. Na medida em que as novas tecnologias da informao e da comunicao, com sua capacidade de registrar quando, como e por quem um trabalho executado, esses saberes tornamse passveis de padronizao e de transmisso instantnea para outros lugares. Quais as repercusses sobre o trabalhador e seu coletivo desse chamado fenmeno da visibilidade das competncias e do potencial dos saberes tcitos serem formalizados e transmitidos distncia na condio de conhecimentos teletcitos? 2. A customizao (do ingls customer fregus/consumidor) de produtos e servios implicaria em afirmar que a medida da criatividade do trabalhador passa a ser o gosto e a exigncia de sua excelncia o consumidor? 3. No extremo, com o potencial disponibilizado pelas novas tecnologias da informao e da comunicao, poderamos pensar na possibilidade de descarte do trabalhador do processo de trabalho? Em caso afirmativo: estaramos prximos ao fim das solues originais no processo do trabalho, dando assim materialidade pretendida one best way taylorista? Em caso negativo: Que espao de manobra resta para os trabalhadores individual e coletivamente desenvolverem e desencadearem estratgias de resistncia e de defesa dos seus interesses frente ao capital?
18
Para Ler Mais
BACON, Francis. Novum organum. So Paulo : Abril Cultural, 1979. Col. Os Pensadores BIANCHETTI, Lucdio. Da chave de fenda ao laptop: Um estudo sobre as qualificaes dos trabalhadores na Telecomunicaes de Santa Catarina (TELESC). So Paulo, PUC, 1998. Tese. Mimeo CEPAL. Informacin y telecomunicaciones: vector de la transformacin productiva com equidad (Un libro verde de la CEPAL). Santiago de Chile, 1990 DANTAS, Marcos. A lgica do capital-informao. Rio de Janeiro : Contraponto, 1996 LVY, Pierre. O que virtual? Rio de Janeiro : Editora 34, 1996 MATTELART, Armand. Comunicao-mundo. Histria das idias e das estratgias. Petrpolis : Vozes, 1994 PAIVA, Vanilda. Produo e qualificao para o trabalho. In: FRANCO, M.L. & ZIBAS, D. Final do sculo. Desafios da educao na Amrica Latina : Cortez, 1990 PARADEISE, Catherine. Des savoirs aux comptences: qualification et rgulation des marchs du travail. Sociologie du travail. Paris, n. 1. P. 35-46, 1987 REBOUAS, Andrea M. O indivduo na sociedade da informao globalizada: Estudo sobre a transio do emprego empregabilidade com foco na privatizao da TELEBRS. Braslia, UnB, 1998. Dissertao. Mimeo
Você também pode gostar
- Ebook Jogo de Memória de TrabalhoDocumento37 páginasEbook Jogo de Memória de TrabalhoLuisa Novak100% (12)
- Planejamento de MídiaDocumento215 páginasPlanejamento de MídiaThiago Laurindo 2100% (1)
- Lab6 Guia Do ProfessorDocumento50 páginasLab6 Guia Do ProfessorJoana Silva86% (29)
- HabilidadesDocumento212 páginasHabilidadesEmillieSantos50% (2)
- NG7, dr1 dr2Documento6 páginasNG7, dr1 dr2sandra m-Ainda não há avaliações
- Catalogo de Dados Inteligentes PDFDocumento12 páginasCatalogo de Dados Inteligentes PDFJose CarlosAinda não há avaliações
- NBR 14253Documento33 páginasNBR 14253Zidson Arduim FerreiraAinda não há avaliações
- Revista Pet Food Brasil Out 2010Documento35 páginasRevista Pet Food Brasil Out 2010Ricardo Borba0% (1)
- Código de Conduta DirecionalDocumento23 páginasCódigo de Conduta Direcionalfrancesco besanaAinda não há avaliações
- ABB ACS800 Crane 7.2 Firmware PTDocumento280 páginasABB ACS800 Crane 7.2 Firmware PTJonatasPrustAinda não há avaliações
- Serviços Técnicos de Edição, Revisão, E Atualização Do Cadastro Técnico DigitalDocumento20 páginasServiços Técnicos de Edição, Revisão, E Atualização Do Cadastro Técnico DigitalNicolli ZuchettiAinda não há avaliações
- Atividade 1 AdmDocumento9 páginasAtividade 1 AdmGabi motaAinda não há avaliações
- Musealização e ArqueologiaDocumento63 páginasMusealização e ArqueologiamartchelamottaAinda não há avaliações
- Aplicando RADDocumento56 páginasAplicando RADwesleyAinda não há avaliações
- Resumos Da Cadeira de Mestrado de Exame e Consulta Do AdultoDocumento57 páginasResumos Da Cadeira de Mestrado de Exame e Consulta Do Adultomariana parrinhaAinda não há avaliações
- PARTE17 - Anexo LISTAGEM DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIDADE ADUANEIRA 10-'13Documento20 páginasPARTE17 - Anexo LISTAGEM DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIDADE ADUANEIRA 10-'13André Pereira da SilvaAinda não há avaliações
- Fichas Da Texto 5ºDocumento54 páginasFichas Da Texto 5ºjgorito100% (1)
- 4º Ano Plano Anual 2019Documento25 páginas4º Ano Plano Anual 2019Fernanda Batista RibeiroAinda não há avaliações
- Mage The Awakening Grimoire of Grimoires (001 021) .En - PTDocumento21 páginasMage The Awakening Grimoire of Grimoires (001 021) .En - PTSQ graficaAinda não há avaliações
- Prova Sistemas de Informação GerencialDocumento3 páginasProva Sistemas de Informação GerencialAlexandre Carlos Buchmann JuniorAinda não há avaliações
- A Importancia Da Prática Da Psicologia Baseada em EvidênciasDocumento14 páginasA Importancia Da Prática Da Psicologia Baseada em EvidênciasRafaela GrossAinda não há avaliações
- APOSTILA Estatística COMPLETADocumento114 páginasAPOSTILA Estatística COMPLETAKATIA RIBEIRO DE SOUSA NORONHAAinda não há avaliações
- Equilíbrio InternoDocumento4 páginasEquilíbrio InternoGrazielle SantanaAinda não há avaliações
- Ditado de Imagens - BAO - Biblioteca de Atividades OnlineDocumento9 páginasDitado de Imagens - BAO - Biblioteca de Atividades OnlineSusana JuzarteAinda não há avaliações
- II. Externo Falha Custos - Custos Gerado Depois A Produtos É Enviado Como ADocumento158 páginasII. Externo Falha Custos - Custos Gerado Depois A Produtos É Enviado Como AHeber MarceloAinda não há avaliações
- Topologia de Rede GSMDocumento32 páginasTopologia de Rede GSMWerberth MoreiraAinda não há avaliações
- ISA 315 - Identificar e Avaliar Os Riscos de Distorção Material Através Do Conhecimento Da EntidadeDocumento50 páginasISA 315 - Identificar e Avaliar Os Riscos de Distorção Material Através Do Conhecimento Da EntidadeAurelStoiceaAinda não há avaliações
- Estudo Contemporaneo e TransversalDocumento24 páginasEstudo Contemporaneo e Transversaladl metalúrgicaAinda não há avaliações
- Anexo A Da ISO 45001Documento21 páginasAnexo A Da ISO 45001Danilo CardosoAinda não há avaliações