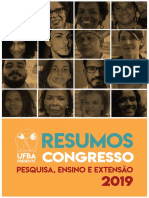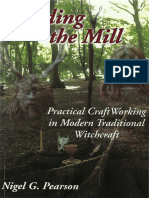Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Modernidade
Modernidade
Enviado por
Jane Teixeira AlvinoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Modernidade
Modernidade
Enviado por
Jane Teixeira AlvinoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Modernidade/ps-modernidade: tenses e repercusses na produo de conhecimento em educao
A constelao de questes das quais parto para a confeco deste ensaio poderia ser resumida nas duas interrogaes seguintes: y y Vivemos a crise da modernidade? Vivemos um 'momento ps-moderno' como muitos discursos propagam?
Seu pano de fundo o debate sobre o ps -moderno, suas implicaes na filosofia contempornea, suas decorrncias para o campo da Educao, em especial no que respeita produo do conhecimento nesse campo. No so poucos os que fazem a apologtica da chegada dos 'tempos ps-modernos' e da revoluo que eles causariam no pensamento, na pesquisa educacional, nos modos de educar; do outro lado, tambm no pequeno o contingente daqueles que criticam a 'farsa psmoderna', esse canto de sereia que uma vez mais encobre o sol e obscurece nossa viso. Muito menor, porm, o grupo daqueles que se dispem a pensar, com a coragem e a seriedade necessrias, as transformaes pelas quais passa o mundo e os desafios que se colocam a cada dia, para alm da preocupao de classificar ou nomear esse momento, como se isso resolvesse os impasses. No campo do pensamento social (penso aqui na Filosofia e nas cincias sociais de modo geral), fomos contaminados, desde meados da dcada de 1970, por essa expresso psmoderno; ps-modernidade; ps-modernismo que advm dos meios artsticos, em especial da arquitetura, que faz todo o sentido nesse contexto, mas que, de fato, no tem a fora e a potncia de um conceito. Alguns autores, em filosofia e em reas afins das cincias humanas, tomaram e tm tomado expresses como 'ps-moderno', 'ps-modernidade' como se fossem conceitos; no entanto, tais expresses so filosoficamente vazias. Essa uma das teses que procurarei explicitar aqui. Para alm disso, tentarei evidenciar as reais contribuies que tal debate traz, mesmo que um pouco 'nublado' pela falta de intensidade conceitual, discutindo como essa tenso entre modernidade e ps-modernidade pode influir positi vamente na produo de pensamento no campo da Educao. Enveredarei por uma discusso de natureza epistemolgica para defender que no podemos permitir que essa tenso nos leve a uma paralisao do pensamento. Em Ps-estruturalismo e filosofia da diferena (uma introduo), Michael Peters (2000) procura diferenciar conceitualmente psmodernismo de ps-estruturalismo e, para isso, retoma a discusso entre modernismo e ps-modernismo. Argumenta que h dois sentidos para o modernismo, que pode ser abordado
como movimento artstico, situado no final do sculo XIX e incio do sculo XX, ou como movimento histrico -filosfico, sentido no qual seria uma espcie de sinnimo para 'modernidade'. Nesse segundo sentido, pode-se afirmar que: "filosoficamente falando, o modernismo comea com o pensamento de Francis Bacon na Inglaterra e o de Ren Descartes na Frana" (Peters, 2000, p. 12). Assim, como termo derivado, o ps-modernismo tambm apresentaria dois sentidos: um como movimento artstico e outro como movimento histrico-filosfico. O autor recorre ento ao Oxford English Dictionary , buscando o sentido e a etimologia da palavra, encontrando um sentido originrio como movimento artstico do campo da arquitetura (com dataes de uso do termo entre 1959 e 1980), s sendo estendido ao campo das cincias humanas a partir de meados dos anos 1970, com mais nfase na dcada de 1980. Se fizermos o mesmo movimento com um Dicionrio da Lngua Portuguesa, encontraremos a seguinte definio: Ps-modernismo : denominao genrica dos movimentos artsticos surgidos no ltimo quartel do sculo XX, caracterizados pela ruptura com o rigor da filosofia e das prticas do Modernismo, sem abandonar totalmente seus princpios, mas fazendo referncias a elementos e tcnicas de estilos do passado, tomados com liberdade formal, ecletismo e imaginao. (Dicionrio Eletrnico Houaiss da Lngua Portuguesa) Fica clara, portanto, a origem do termo no campo da arte, como movimento artstico; apenas depois de se ter consolidado nesse campo que deriva para as cincias humanas, fazendo ento um trajeto inverso ao do termo modernismo. Na literatura filosfica, o termo foi utilizado, no como substantivo, mas como adjetivo, por Jean-Franois Lyotard em obra publicada em 1979, cujo ttulo original A condio psmoderna. A traduo brasileira, publicada em 1986 e j no contexto de um razovel debate, optou pelo ttulo O psmoderno , o que faz toda a diferena. J na introduo obra, o filsofo delimita o campo de suas intervenes: o problema do conhecimento; e explica que a origem do termo que optou usar norte-americana: Este estudo tem por objeto a posio do saber nas sociedades mais desenvolvidas. Decidiu-se cham-la de 'ps-moderna'. A palavra usada, no continente americano, por socilogos e crticos. Designa o estado da cultura aps as transformaes que afetaram as regras dos jogos da cincia, da literatura e das artes a partir do final do sculo XIX . (1986, p. xv, grifos meus)
Ainda nessa introduo, o autor desculpa-se pelas lacunas na anlise: Resta dizer que o expositor um filsofo, e no um expert. Este sabe o que sabe e o que no sabe, aquele no. Um conclui, o outro interroga; so dois jogos de linguagem. Aqui eles se encontram misturados, de modo que nenhum dos dois prevalece. O filsofo ao menos pode se consolar dizendo que a anlise formal e pragmtica de certos discursos de legitimao, filosficos e tico-polticos, que sustenta nossa Exposio, ver a luz depois desta. Ela a ter introduzido, por um atalho um pouco socializante, que, embora a reduzindo, a situa. (1986, p. xviii) Nessa obra de Lyotard, duas so as teses fundamentais: a alterao no estatuto do saber e a falncia dos 'metarrelatos', evidentemente inter-relacionadas. A primeira tese ele evidencia da seguinte maneira: "Nossa hiptese de trabalho a de que o saber muda de estatuto ao mesmo tempo em que as sociedades entram na idade dita ps-industrial e as culturas na idade dita ps-moderna" (1986, p. 3). E ela leva segunda tese, como decorrncia: nesta "sociedade ps-industrial" e nesta "cultura ps-moderna", os metarrelatos (discursos filosficos pretensamente universais) j no do conta do real. Em suas prprias palavras: Na sociedade e na cultura contempornea, sociedade ps-industrial, cultura ps-moderna, a questo da legitimao do saber coloca-se em outros termos. O grande relato perdeu sua credibilidade, seja qual for o modo de unificao que lhe conferido: relato especulativo, relato da emancipao. (1986, p. 69) No meu objetivo discutir uma vez mais as teses de Lyotard, posto que isso j foi feito quase exausto. Se as trouxe tona, foi apenas como registro daquela que muito provavelmente foi a primeira utilizao filosfica da expresso 'ps-moderno'. No entanto, saliento que seu uso mais adjetivo que substantivo, fato que a traduo brasileira esconde. Coisa anloga aconteceu com outra obra posterior. Em 1983, o crtico norte-americano Hal Foster, redator associado da revista Art in Amrica, publicou um importante livro, com o ttulo The anti-aesthetic: essays on postmodern culture 1, reunindo textos de vrios crticos e historiadores da arte, mas tambm de tericos como Habermas, Jameson, Said, Baudrillard. Percebese que aparece, como subttulo da obra, a expresso 'cultura ps-moderna', no mesmo uso adjetivo feito por Lyotard. J na traduo espanhola (no h verso para o portugus), o livro ganhou um ttulo mais conciso: La posmodernidad. Uma vez mais, efetua-se a operao, aparentemente inofensiva, de transformar o adjetivo em substantivo.
Por que insisto em demarcar essa operao? Porque, pareceme, quando se usa o adjetivo (como so os casos de Lyotard e de Foster), o ps-moderno aparece numa funo auxiliar, que ajuda a definir um contexto e suas caractersticas; por outro lado, quando se usa o substantivo , a ps-modernidade ganha os ares de um conceito e, portanto, deveria apresentar densidade e intensidade. Penso no ser por acaso que os autores optaram pelo adjetivo; nas tradues, ao se optar pelo substantivo, subverte-se o sentido original dos textos, prometendo ao leitor algo que no a proposta de origem. Entretanto, o que dizem, efetivamente, as expresses como ps-moderno ou ps-modernidade? Elas designam, simplesmente, uma temporalidade: viveramos hoje um tempo posterior modernidade, um tempo que j no o moderno. No entanto, o que seria esse tempo? Isso tais expresses no so capazes de dizer por si mesmas e, por isso, afirmo que elas no tm a potncia do conceito, sendo filosoficamente 'vazias'. Corroboro minha afirmao com um texto recente de Gilles Lipovetsky: O neologismo ps-moderno tinha um mrito: salientar uma mudana de direo, uma reorganizao em profundidade do modo de funcionamento social e cultural das sociedades democrticas avanadas. Rpida expanso do consumo e da comunicao de massa; enfraquecimento das normas autoritrias e disciplinares; surto de individualizao; consagrao do hedonismo e do psicologismo; perda da f no futuro revolucionrio; descontentamento com as paixes polticas e as militncias era mesmo preciso dar um nome enorme transformao que se desenrolava no palco das sociedades abastadas, livres do peso das grandes utopias futuristas da primeira modernidade. Ao mesmo tempo, porm, a expresso psmoderno era ambgua, desajeitada, para no dizer vaga. Isso porque era evidentemente uma modernidade de novo gnero a que tomava corpo, e no uma simples superao daquela anterior. Donde as reticncias legtimas que se manifestaram a respeito do prefixo ps. E acrescente-se isto: h vinte anos, o conceito de ps-moderno dava oxignio, sugeria o novo, uma bifurcao maior; hoje, entretanto, est um tanto desusado. O ciclo ps-moderno se deu sob o signo da descompresso cool do social; agora, porm, temos a sensao de que os tempos voltam a endurecer-se, cobertos que esto de nuvens escuras. Tendo-se vivido um breve momento de reduo das presses e imposies sociais, eis que elas reaparecem em primeiro plano, nem que seja com novos traos. No momento em que triunfam a tecnologia e a gentica, a globalizao liberal e os direitos
humanos, o rtulo ps-moderno j ganhou rugas, tendo esgotado sua capacidade de exprimir o mundo que anuncia. (Lipovetsky, 2004, p. 52) Peo desculpas ao leitor pela longa citao; no entanto, ela pareceu-me necessria, na medida em que faz o inventrio do problema, afirmando que a expresso ps-modernidade teria atendido a certos objetivos, porm, encontrando-se j esgotada. Contra a noo de ps-modernidade, ou para alm dela, na medida em que nunca teve condies de expressar um campo, Lipovetsky prope as expresses hipermoderno, hipermodernidade. Vejamos seu argumento: O ps de ps-moderno ainda dirigia o olhar para um passado que se decretara morto; fazia pensar numa extino sem determinar o que nos tornvamos, como se se tratasse de preservar uma liberdade nova, conquistada no rastro da dissoluo dos enquadramentos sociais, polticos e ideolgicos. Donde seu sucesso. Essa poca terminou. Hipercapitalismo, hiperclasse, hiperpotncia, hiperterrorismo, hiperindividualismo, hipermercado, hipertexto o que mais no hiper? O que mais no expe uma modernidade elevada potncia superlativa? Ao clima de eplogo segue-se uma sensao de fuga para adiante, de modernizao desenfreada, feita de mercantilizao proliferativa, de desregulamentao econmica, de mpeto tcnico-cientfico, cujos efeitos so to carregados de perigos quanto de promessas. Tudo foi muito rpido: a coruja de Minerva anunciava o nascimento do ps-moderno no momento mesmo em que se esboava a hipermodernizao do mundo. Longe de decretar-se o bito da modernidade, assiste-se a seu remate, concretizando-se no liberalismo globalizado, na mercantilizao quase generalizada dos modos de vida, na explorao da razo instrumental at a 'morte' desta, numa individualizao galopante. (Lipovetsky, 2004, p. 53) Assim, Lipovetsky, que outrora foi um dos defensores da fora explicativa do ps-moderno, afirmando a superao da modernidade, rev suas teses, encontrando, de certa forma, a posio defendida por Jrgen Habermas em O discurso filosfico da modernidade, de que essa um projeto inacabado e que, no tendo sido completado, ainda no pode ser superado. Um ponto a ser assinalado, posto que mais adiante enfrentarei a abordagem poltica da questo: Lipovetsky passa de uma postura politicamente otimista, de ver no ps-modernismo uma fora de renovao, de transformao, para uma posio pessimista, que v no hipermodernismo o remate da modernidade naquilo que ela tem de mais reacionrio e conservador: a mercantilizao da vida, a globalizao do
liberalismo, a explorao da instrumentalizao da razo at as ltimas conseqncias. Todavia, penso que tampouco as sadas propostas por Lipovetsky ou por Habermas resolvem o problema; no entanto, a noo de hipermodernidade acrescenta uma perspectiva importante: a da 'elasticidade' do projeto moderno. Retomo essa idia que Deleuze e Guattari desenvolveram em O antidipo (1976), quando mostram que o capitalismo capaz de se metamorfosear. Quanto mais nos aproximamos de seus limites histricos, o que poderia significar uma crise e sua superao, mais os limites so alargados, elasticamente sendo colocados mais alm. O capitalismo escapa e nos escapa; e assim permanece, embora no seja sempre o mesmo. No ser algo anlogo o que temos assistido nos debates em relao modernidade e sua superao? As novas feies, talvez apressadamente demais denominadas de ps-modernidade, no sero nada mais do que as metamorfoses do projeto moderno, que assume novas feies, na medida em que suas realizaes no nos satisfazem? Colocando de uma outra maneira: no estaramos condenados a viver uma 'eterna modernidade', como que presos a um infinito crepsculo, que nunca v a noite cair, mas que tambm no recupera o brilho do meio-dia? Abandonando essa discusso, que me parece no termos condies de esgotar ou de resolver, penso que para buscarmos as repercusses dessa tenso modernidade/ps-modernidade para o campo educacional, em especial para a pesquisa e a interveno nesse campo, precisamos recuperar um dos aspectos centrais do projeto moderno: o epistemolgico. Sabemos que o projeto moderno constituiu -se em torno da construo de um mtodo 'universal' para a produo do conhecimento. Em termos filosficos, essa busca se inicia com Descartes e com a defesa da universalizao do mtodo matemtico e termina (se que terminou...) com Husserl e a proposta do mtodo fenomenolgico, manifestamente querendo superar os problemas do cartesianismo, que o impediram de lograr xito em seu intento, buscando fazer da filosofia uma cincia de rigor. Nesse contexto, assistimos emergncia e consolidao da lgica disciplinar, implicando num determinado modelo de produo dos saberes e numa certa lgica da pesquisa. Pareceme que um dos pontos centrais de tal lgica disciplinar a busca, a um s tempo, de uma objetividade e de uma universalidade do conhecimento, para que o mesmo possa ser reconhecido como vlido e verdadeiro. A produo do conhecimento na modernidade foi marcada por esses princpios e a pesquisa em educao no pde ficar alheia a eles. Michel Foucault (1999) localiza no sculo XVIII o processo poltico realizado pelo Estado de disciplinamento dos saberes. A partir de dois exemplos, o do saber tcnico/tecnolgico e o do
saber mdico, evidencia a espcie de 'luta entre saberes' que ocorreu no 'submundo das Luzes'. Por trs do processo histrico que nos apresentado como tendo sido a luta entre o conhecimento e a ignorncia, o filsofo faz emergir um conflito entre uma multiplicidade de saberes que se oponham entre si. E para organizar esse campo, o Estado exerceu seu 'poder disciplinador', que operou por meio de quatro procedimentos bsicos: desqualificao/seleo; normalizao; hierarquizao; centralizao piramidal. Num primeiro movimento, esses saberes foram selecionados mediante um processo de desqualificao e eliminao de "pequenos saberes inteis e irredutveis, economicamente dispendiosos" (1999, p. 215). Em seguida, passou -se sua normalizao, isto , fazendo-os comunicar entre si, tornandoos intercambiveis. O terceiro movimento o da classificao hierrquica desses saberes, dos mais especficos e materiais, que so subordinados aos mais formais e mais gerais. Por fim, a centralizao piramidal do conjunto dos saberes, que permitiu seu controle, sua seleo, sua transmisso, sua organizao geral. E conclui Foucault: So essas quatro operaes que podemos ver em andamento num estudo um pouco detalhado daquilo que denominado o poder disciplinar. O sculo XVIII foi o sculo do disciplinamento dos saberes, ou seja, da organizao interna de cada saber como uma disciplina tendo, em seu campo prprio, a um s tempo critrios de seleo que permitem descartar o falso saber, o no-saber, formas de normalizao e de homogeneizao dos contedos, formas de hierarquizao e, enfim, uma organizao interna de centralizao desses saberes em torno de um tipo de axiomatizao de fato. Logo, organizao de cada saber como disciplina e, de outro lado, escalonamento desses saberes assim disciplinados do interior, sua intercomunicao, sua distribuio, sua hierarquizao recproca numa espcie de campo global ou de disciplina global a que chamam precisamente de a 'cincia'. A cincia no existia antes do sculo XVIII. Existiam cincias, existiam saberes, existia, se vocs quiserem, a filosofia. A filosofia era justamente o sistema de organizao, ou melhor, de comunicao, dos saberes uns em relao aos outros nesta medida que ela podia ter um papel efetivo, real, operacional, no interior do desenvolvimento dos saberes [...]. A cincia, como domnio geral, como policiamento disciplinar dos saberes, tomou o lugar tanto da filosofia quanto da mathesis. E doravante ela vai formular problemas especficos ao policiamento disciplinar dos saberes: problemas de classificao, problemas de hierarquizao, problemas de vizinhana, etc. (1999, p. 217-218)
Todo esse amplo processo de disciplinarizao dos saberes ter, segundo Foucault, uma srie de conseqncias. Dentre elas, destaco a conformao do perfil moderno da universidade como instituio classificadora e legitimadora dos saberes; a constituio da assim chamada 'comunidade cientfica', operadora e gerenciadora do consenso acadmico; por fim, uma mudana na forma do dogmatismo, que se desloca da ortodoxia (isto , a 'censura dos enunciados') para uma espcie de 'ortologia' (que seria a 'disciplina da enunciao', a forma de controle que se exerce por meio da disciplina, tendo a cincia como poder regulador e no mais a filosofia). Ainda est por ser feito um estudo especfico sobre como os saberes educacionais e pedaggicos participaram desses jogos de conformao e disciplinamento dos saberes modernos. inegvel, porm, que sofreram diretamente esses efeitos. No entanto, do interior da prpria lgica disciplinar, comeamos, no final do sculo XIX, a perceber sintomas de seu esgotamento. Para citar apenas um caso, na Fsica, a cincia exata por natureza, por exemplo, comea-se a falar em indeterminao , incerteza, relatividade... A produo sobre isso j imensa e no retornarei a essas discusses. Nesse movimento, no campo da filosofia, destacou-se a voz de Nietzsche, que fez a crtica ao uso da razo tomada como absoluta, procurando mostrar que o conhecimento sobretudo vida, encarnado, ligado ao mundo, por mais que tentemos transform-lo em formas puras e abstratas. O movimento de Nietzsche justamente o de colocar em xeque os procedimentos de universalizao e objetividade do conhecimento moderno, defendendo aquilo que depois seria chamado de 'perspectivismo' 2. Gianni Vattimo identifica a crtica de Nietzsche como uma crtica noo de fundamento. Embora o filsofo italiano aponte o alemo como um 'filsofo da ps-modernidade', afirmao que me parece um tanto ou quanto apressada, penso ser relevante sua argumentao: Do ponto de vista de Nietzsche e Heidegger, que podemos considerar comum, no obstante as diferenas nada ligeiras, a modernidade pode caracterizar-se, de fato, por ser dominada pela idia da histria do pensamento como uma 'iluminao' progressiva, que se desenvolve com base na apropriao e na reapropriao cada vez mais plena dos 'fundamentos', que frequentemente so pensados tambm como as 'origens', de modo que as revolues tericas e prticas da histria ocidental se apresentam e se legitimam na maioria das vezes como 'recuperaes', renascimentos, retornos. A noo de 'superao', que tanta importncia tem em toda a filosofia moderna, concebe o curso do pensamento como um desenvolvimento
progressivo, em que o novo se identifica com o valor atravs da recuperao e da apropriao do fundamento-origem. Mas precisamente a noo de fundamento, e de pensamento como fundao e acesso ao fundamento, radicalmente posta em discusso por Nietzsche e por Heidegger. Eles se acham assim, por um lado, na condio de terem de distanciar-se criticamente do pensamento ocidental enquanto pensamento do fundamento; de outro porm, no podem criticar esse pensamento em nome de uma outra fundao, mais verdadeira. nisso que, a justo ttulo, podem ser considerados os filsofos da psmodernidade. O ps de ps-moderno indica, com efeito, uma despedida da modernidade, que, na medida em que quer fugir das suas lgicas de desenvolvimento, ou seja, sobretudo da idia de 'superao' crtica em direo a uma nova fundamentao, busca precisamente o que Nietzsche e Heidegger procuraram em sua peculiar relao 'crtica' com o pensamento ocidental. (Vattimo, 1996, p. VI-VII) No caso de Nietzsche, posto que no entraremos aqui no pensamento de Heidegger, a noo moderna de fundamento para o conhecimento criticada e substituda no por um novo fundamento, mas justamente pela idia de perspectiva, como veremos adiante. J num texto de sua juventude, mais precisamente de 1873, intitulado Acerca da verdade e da mentira no sentido extramoral, o filsofo alemo coloca o conhecimento como uma inveno e a verdade como metfora, com isso questionando a prpria noo de fundamento e , portanto, a possibilidade de um conhecimento objetivo e universal. Comea demarcando a insignificncia do homem no universo, num movimento oposto ao do humanismo moderno: Num certo canto remoto do universo cintilante vertido em incontveis sistemas solares havia uma vez um astro onde animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e hipcrita da 'histria mundial', mas foi apenas um minuto. Depois de a natureza ter respirado umas poucas vezes, o astro enregelou e os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim, algum poderia inventar uma fbula como esta e, no entanto, no ficaria suficientemente esclarecido quo lastimvel, quo obscuro e fugidio, quo desprovido de finalidade e arbitrrio se apresenta o intelecto humano no interior da natureza. Eternidades houve em que ele no existia; quando ele tiver de novo desaparecido, nada se ter alterado. Pois para este intelecto no h outra misso que transcenda a vida humana. (Nietzsche, 1997, p. 215, grifos meus) E, mais adiante, apresenta a verdade como inveno, metfora, iluso:
Que ento a verdade? Um exrcito mvel de metforas, de metonmias, de antropomorfismos, numa palavra, uma soma de relaes humanas que foram potica e retoricamente intensificadas, transpostas e adornadas e que depois de um longo uso parecem a um povo fixas, cannicas e vinculativas: as verdades so iluses que foram esquecidas enquanto tais, metforas que foram gastas e que ficaram esvaziadas do seu sentido , moedas que perderam o seu cunho e que agora so consideradas, no j como moedas, mas como metal. (Nietzsche, 1997, p. 221, grifos meus) Como se pode ver, ento, j nesse texto de juventude, Nietzsche 'filosofa com o martelo', mostrando que as verdades so como 'dolos que possuem ps de barro' 3. Se a verdade uma metfora da qual se esqueceu o sentido, isso significa que no h fundamento para a verdade, por um lado e, por ou tro, que as verdades no podem ser tomadas como fundamentos para o conhecimento ou para quaisquer outras coisas. As verdades so histricas, transitrias, fugidias... Nas suas obras posteriores, a crtica modernidade e ao seu processo de construo de conhecimentos sempre baseados em fundamentos, com a pretenso de serem verdadeiros, objetivos, universais, continua ganhando novos contornos. Vejamos brevemente algumas provocaes de Nietzsche aos 'homens de conhecimento'. Em A gaia cincia, obra de 1882, podemos ler: Devido a trs erros. Durante os ltimos sculos promoveu-se o desenvolvimento da cincia, em parte porque era por meio da cincia que se esperava compreender melhor a bondade e sabedoria de Deus motivo principal na alma dos ingleses notveis, como Newton , em parte porque se acreditava na utilidade absoluta do conhecimento, designadamente, na mais estreita ligao entre a moral, a cincia e a felicidade motivo principal na alma dos franceses notveis, como Voltaire , em parte porque se pretendia possuir e amar na cincia algo de altrusta, inofensivo, auto-suficiente e verdadeiramente inocente, no qual os impulsos maus do homem no desempenhariam nenhum papel motivo principal na alma de Espinosa que se sentia divino enquanto sujeito cognoscente, portanto, devido a trs erros. (Nietzsche, 1998a, p. 51) 4 Em sua viso, foram trs os equvocos bsicos que levaram ao desenvolvimento da cincia moderna: o desejo de conhecer a 'mente' de Deus, por meio da natureza; um desejo de verdade aliado a uma crena moral, de que conhecer mais significa ser melhor e mais feliz; por fim, uma crena na bondade intrnseca do homem, como se todo o saber s pudesse ter bons efeitos, nunca redundando em explorao, domnio, morte. No entanto,
o que assistimos, ao longo desses ltimos sculos, foi justamente o contrrio disso tudo. E isso porque as pretenses originais da cincia no teriam como se realizar; primeiro, mesmo que possamos conhecer a natureza, a premissa de que ela exprima a 'mente de Deus' no comprovvel; em segundo lugar, mais conhecimento no significa mais felicidade, isto , no possvel estabelecer uma relao direta entre conhecimento e tica; por fim, a cincia no neutra nem neutros so os seres humanos de posse dos conhecimentos, tornando impossvel a afirmao de um uso 'moral' da tecnologia. Com isso, parece-me que Nietzsche antecipa bastante as crticas que no sculo XX seriam dirigidas ao positivismo, na medida em que o faz no momento mesmo de sua hegemonizao. Em outro aforismo desse livro enigmtico, Nietzsche afirma que o que importa ao conhecimento no exatamente o quo verdadeiro ele se apresenta, mas sua antiguidade, isso , o seu tempo de sedimentao, de 'incorporao' pelos homens, na medida em que vai se encarnando nas vidas dos indivduos. E, conforme esses conhecimentos se incorporam, passam a ser parte de uma verdadeira luta pelo poder, lembrando os processos de disciplinamento evidenciados por Foucault. Portanto, a fora dos conhecimentos no reside no seu grau de verdade, mas sim na sua idade, no seu grau de incorporao, no seu carcter como condio de vida [...]. Pouco a pouco foi -se enchendo o crebro humano destes juzos e dessas convices e, nesse novelo, produziu-se a fermentao, a luta e a nsia pelo poder. A utilidade e o prazer no foram os nicos a tomar partido na luta pelas 'verdades', mas igualmente todo o gnero de impulsos; a luta intelectual tornou-se ocupao, atrao, profisso, dever, dignidade; o ato de conhecer e a aspirao de atingir o verdadeiro passaram por fim a integrarse, como necessidades, nas outras necessidades. A partir da, no apenas a f e a convico, mas tambm o exame, a negao, a desconfiana, a contradio tornaram-se um poder . (Nietzsche, 1998a, p. 126-127)5 A esse respeito, seria relevante voltarmos tambm a Paul Feyerabend e seu 'anarquismo epistemolgico' de Contra o mtodo , obra esquecida fora dos crculos epistemolgicos. Encontramos um grande paralelismo entre as idias de Nietzsche e as deste que foi um dos grandes epistemlogos do sculo XX. Destaco um trecho da introduo dessa bela obra, em que isso fica claro: A educao cientfica, tal como hoje a conhecemos, tem precisamente esse objetivo. Simplifica a cincia, simplificando seus elementos: antes de tudo, define-se um campo de pesquisa; esse campo desligado do resto da Histria (a Fsica, por exemplo, separada da Metafsica e da
Teologia) e recebe uma 'lgica' prpria. Um treinamento completo, nesse tipo de 'lgica', leva ao condicionamento dos que trabalham no campo delimitado; isso torna mais uniformes as aes de tais pessoas, ao mesmo tempo em que congela grandes pores do processo histrico. 'Fatos' estveis surgem e se mantm, a despeito das vicissitudes da Histria. Parte essencial do treinamento, que faz com que fatos dessa espcie apaream, consiste na tentativa de inibir intuies que possam implicar a confuso de fronteiras. A religio da pessoa, por exemplo, ou sua metafsica ou seu senso de humor (seu senso de humor natural e no a jocosidade postia e sempre desagradvel que encontramos em profisses especializadas) devem manter-se inteiramente parte de sua atividade cientfica. Sua imaginao v-se restringida e at sua linguagem deixa de ser prpria. E isso penetra a natureza dos 'fatos' cientficos, que passam a ser vistos como independentes de opinio, de crena ou de formao cultural. possvel, assim, criar uma tradio que se mantm uma, ou intacta, graas observncia de regras estritas, e que, at certo ponto, alcana xito. Mas ser desejvel dar apoio a essa tradio, a despeito de tudo mais? Devemos conceder-lhe direitos exclusivos de manipular o conhecimento, de tal modo que quaisquer resultados obtidos por outros mtodos sejam, de imediato, ignorados? (Feyerabend, 1989, p. 21) Soa-me inequvoco o paralelismo da crtica de Feyerabend com a crtica de Nietzsche, embora separadas por praticamente um sculo. Desliga-se a cincia, o conhecimento da histria, fazendo-se com que se esqueam suas origens, dando-lhe ento uma completa autonomia, como se tivesse uma 'lgica' prpria. Outro destaque para o trecho citado sua proximidade com as teses apresentadas por Foucault, de que no sculo XVIII a cincia ganha o status de 'polcia disciplinar dos saberes', na medida em que normaliza a produo de conhecimento e gerencia esse processo, definindo o que pode e o que no pode ser pesquisado, o que pode e o que no pode ser dito ou ensinado 6. Entretanto, fechemos esse parntese e voltemos a Nietzsche. Ser em Genealogia da moral , livro de 1887, portanto j da fase final de sua produo, que encontraremos o lanamento do desafio de um 'conhecimento perspectivo'. Nessa obra, Nietzsche afirmou que os seres humanos, como produtores de saberes, devem agir considerando a diversidade de perspectivas, tomando-a como positiva e no como um problema para a objetividade que leva verdade universal. Sigamos seu raciocnio: Devemos afinal, como homens do conhecimento, ser gratos a tais resolutas inverses das
perspectivas e valoraes costumeiras, com que o esprito, de modo aparentemente sacrlego e intil, enfureceu-se consigo mesmo por tanto tempo: ver assim diferente, querer ver assim diferente, uma grande disciplina e preparao do intelecto para sua futura 'objetividade' a qual no entendida como 'observao desinteressada' (um absurdo sem sentido), mas como a faculdade de ter seu pr e seu contra sob controle e deles poder dispor: de modo a saber utilizar em prol do conhecimento a diversidade de perspectivas e interpretaes afetivas. (1998b, p. 108-109) 7 Fazendo a crtica do suposto desinteresse na observao, do mito da objetividade, Nietzsche chama a ateno dos filsofos, dos 'homens de conhecimento' para a fbula do 'sujeito universal e isento do conhecimento': De agora em diante, senhores filsofos, guardemo-nos bem contra a antiga, perigosa fbula conceitual que estabelece um 'puro sujeito do conhecimento, isento de vontade, alheio dor e ao tempo', guardemo-nos dos tentculos de conceitos contraditrios como 'razo pura', 'espiritualidade absoluta', 'conhecimento em si'; tudo isso pede que se imagine um olho que no pode absolutamente ser imaginado, um olho voltado para nenhuma direo, no qual as foras ativas e interpretativas, as que fazem com que ver seja ver-algo, devem estar imobilizadas, ausentes; exige-se do olho, portanto, algo absurdo e sem sentido. (1998b, p. 109) Com essa crtica dirigida a cnones do pensamento moderno, como Descartes, Kant (quando fala em 'razo pura') ou Hegel (quando fala em 'espiritualidade absoluta' e 'conhecimento em si'), denunciando que o fundamento, a objetividade, a universalidade no so mais do que fbulas, Nietzsche lana seu apelo pelo conhecimento perspectivo: Existe apenas uma viso perspectiva, apenas um 'conhecer' perspectivo; e quanto mais afetos permitirmos falar sobre uma coisa, quanto mais olhos, diferentes olhos, soubermos utilizar para essa coisa, tanto mais completo ser nosso 'conceito' dela, nossa 'objetividade'. Mas eliminar a vontade inteiramente, suspender os afetos, todos sem exceo, supondo que o consegussemos: como? no seria castrar o intelecto?... (1998b, p. 109) O desafio nietzschiano aos 'homens de conhecimento' o desafio da multiplicidade. Quando, em nome de uma suposta objetividade, abrimos mo dos afetos de cada um dos sujeitos humanos encarnados que conhecem, nada mais fazemos do que
'castrar' o intelecto. Para alm de qualquer objetividade, para alm de qualquer 'vontade de verdade', a multiplicidade de olhares, a multiplicidade de afetos sobre um mesmo objeto (isto , um perspectivismo) que pode possibilitar-nos um conhecimento mais completo desse objeto. Se tomarmos a srio o desafio de Nietzsche, assim como fizeram diversos filsofos contemporneos, dentre os quais destaco Foucault, Deleuze e Guattari, Derrida, por exemplo, impe-se uma outra atitude frente ao processo de produo de saberes e frente ao prprio processo de pesquisa (no nosso caso, em Educao). Uma atitude que implica num outro tipo de trnsito por entre os campos disciplinares, que j no do conta da multiplicidade do mundo, que insiste em escapar por entre os vos das grades disciplinares. Na mesma medida, aquela cincia como 'polcia disciplinar dos saberes', apontada por Foucault, tambm j no consegue controlar esses processos de escape, de fuga, de proliferao de saberes. Penso que essa atitude pode ser identificada com aquilo que, na companhia desses filsofos, chamo de transversalidade8, que implica numa postura no hierrquica (tanto vertical quanto horizontal); no predefinida; no universalizante. Nessa direo, Deleuze e Guattari desenvolveram, em Mil plats, uma discusso em torno daquilo que chamaram de uma 'cincia rgia' (ou, ainda, cincia maior) e de uma 'cincia nmade' (ou, ainda, cincia menor)9. Enquanto o primeiro tipo finan ciado e gerido pelo Estado, funcionando como aquela 'polcia disciplinar' da qual falava Foucault, o segundo tipo 'vaza' por entre as grades, escapa, resiste, subverte. bem verdade, porm, e Deleuze e Guattari o mostram, que no raro a cincia nmade ou menor ser capturada pela mquina de Estado, tornando-se ela prpria cincia rgia, trocando de papel; mas tambm certo que h aquelas que nunca se deixam capturar. Aps esse longo desfile de idias e de consideraes crticas em relao ao conhecimento e sua produo na modernidade, penso estar em condies de fazer algumas afirmaes mais conclusivas. Parece-me que vivemos hoje, na pesquisa em educao no Brasil, a tenso entre um estilo 'clssico' de pesquisa, articulado com uma perspectiva positiva, disciplinar, universalizante, e um estilo 'transversal' que investe na errncia da curiosidade, apostando na emergncia de possibilidades distintas, articulado com uma lgica da diferena, no universalizante. Para falarmos junto com Deleuze e Guattari, poderamos identificar o primeiro estilo como uma espcie de 'pesquisa rgia ou maior', feita de acordo com os cnones, respeitando os paradigmas definidos pela mquina estatal e pelas agncias de fomento, utilizando-se de mtodos bem definidos e chegando a concluses previsveis e no perturbadoras (embora muitas vezes de grande importncia e impacto). J o segundo estilo, poderamos identificar com uma 'pesquisa nmade ou menor', que escapa, vaza, passa pelas grades disciplinares, proliferando saberes menores, distintos, inusitados. Claro que esse segundo estilo pode ser capturado; algumas vezes ele j produzido, movido por um desejo de captura, querendo vir a fazer parte da mquina de Estado, a
definir polticas pblicas, a fazer jus a gordas fatias de financiamento. No entanto, em outras vezes, ele produzido mesmo como desejo de fuga, ciente do risco de perecer, de ser apagado, negado, vilipendiado. Trata-se da tenso entre um paradigma moderno e um suposto paradigma 'ps-moderno'? Parece-me difcil de dizer. Parece-me mais o conflito entre dois modelos de produo de conhecimento, entre duas imagens do pensamento 10, para usar o conceito de Deleuze, de resto j muito antigas ambas, posto que chegam a ns da antiguidade grega e das origens da filosofia (no por acaso que Nietzsche convida para uma volta aos gregos, para uma volta ao agonismo pr-platnico). Explico, ao menos em parte. Penso que essas duas imagens do pensamento uma cincia rgia (ou uma filosofia rgia, ou um saber rgio, ou ainda uma educao rgia), maior, e uma cincia nmade (ou uma filosofia nmade, ou um saber nmade, ou ainda uma educao nmade), menor esto em tenso desde a antiguidade. A cincia rgia tem sido, evidentemente, hegemnica e isso no se deu apenas na chamada modernidade; mas isso no faz da cincia nmade algo novo, ps-moderno. Penso que uma anlise histrica dos processos humanos de produo dos saberes mostra-nos que, nos interstcios dos saberes 'oficiais', so sempre produzidos saberes mltiplos, que escapam ao processo, que no se tornam hegemnicos. s vezes, esses saberes menores so deliberadamente perseguidos, apagados, quando no podem ser capturados pela teia 'oficial'. Noutras vezes, so deixados ao lu, para que peream por si mesmos. A histria da cincia, a histria da filosofia, a histria do pensamento, de forma geral, sempre a histria dos saberes hegemnicos; mas isso no significa, de forma alguma, que sejam nicos 11. Longe de ser uma espcie de 'sinal dos tempos', pois parece-me que a tenso que vivemos hoje, e que tem sido evidenciada como um embate entre uma concepo moderna e uma concepo ps-moderna de mundo, de conhecimento, deve-se apenas a uma potencializao de um antagonismo antigo e que esteve sempre a presente, mas sem o destaque que alcana em nossos dias. Encaminhando para a concluso deste artigo, retomo Hal Foster (2002), cujo texto j citei e que foi feito como introduo a uma coletnea de artigos (do incio da dcada de 1980) sobre a esttica na cultura ps-moderna, que apresenta uma tese importante pelo seu aspecto poltico: haveria duas espcies de ps-modernismos. Uma espcie que faz a crtica da modernidade desde uma perspectiva reacionria, na medida em que defende a manuteno do estado de coisas; e uma outra espcie, de resistncia, que toma a crtica da modernidade como uma forma de opor-se manuteno do estado de coisas. Duas posturas polticas antagnicas, duas maneiras distintas de vivenciar e analisar o mesmo fenmeno. Vejamos sua caracterizao:
Na poltica cultural existe hoje uma oposio bsica entre um ps-modernismo que se prope desconstruir o modernismo e opor-se ao status quo, e um ps-modernismo que repudia o primeiro e elogia o segundo: um ps-modernismo de resistncia e outro de reao. (Foster, 2002, p. 11) O ps-modernismo de reao est articulado com uma espcie de neoconservadorismo, na medida em que est mais preocupado em resgatar valores de origem, questionados pelo modernismo, que em super-los: O ps-modernismo de reao muito melhor conhecido: ainda que no seja monoltico, singularizado por seu repdio ao modernismo. Este repdio, cujos porta-vozes mais ruidosos sejam talvez os neoconservadores, mas que encontrou eco por todas as partes, estratgico: como argumenta Habermas de modo convincente, os neoconservadores rompem o vnculo do cultural e do social, e em seguida culpam as prticas culturais (modernismo) pelos males sociais (modernizao). Com esta confuso de causa e efeito, a cultura 'adversria' denunciada, inclusive enquanto se afirma o status quo econmico e poltico... prope -se, com efeito, uma nova cultura 'afirmativa'. (Foster, 2002, p. 11-12) Por outro lado, um ps-modernismo de resistncia critica o modernismo, mas tambm o status quo ; em lugar de uma volta s origens, faz a sua crtica: Vemos, pois, que surge um ps-modernismo de resistncia como uma contra-prtica, no apenas da cultura oficial do modernismo, mas tambm da 'falsa normatividade' de um ps-modernismo reacionrio. Em oposio (mas no somente em oposio), um ps-modernismo resistente se interessa por uma desconstruo crtica da tradio, no por um pastiche instrumental de formas pop ou pseudo-histricas, uma crtica das origens, no um retorno a elas. Em uma palavra, trata-se de questionar mais do que de explorar cdigos culturais, explor-los mais do que ocultar filiaes sociais e polticas. (Foster, 2002, p. 12) A tese de Foster parece avanar um pouco no debate (embora se circunscreva ainda disjuno modernidade/psmodernidade), por colocar nfase no aspecto poltico da questo. De fato, o que importa mais saber se as prticas culturais (educacionais, no nosso caso especfico) esto voltadas para a manuteno das coisas ou para sua transformao. O debate sobre a tenso modernidade/ps-modernidade no pode obscurecer nossa percepo para esse fato.
O problema que se abre para ns saber identificar cada uma dessas imagens do pensamento em seu aspecto poltico, clareando seus objetivos e suas filiaes, de modo a permitir uma opo clara, uma aposta na produo de uma investigao, de um conhecimento que esteja identificado com manuteno ou transformao, seja ele baseado numa poltica da transcendncia (seguindo a hegemonia moderna) ou numa poltica da imanncia (articulado com perspectivas mais recentes). Bem sei que este artigo mais abriu questes do que as resolveu; penso ser essa, porm, a nossa possibilidade nesse momento histrico. Procurei trazer elementos para o debate sobre a tenso modernidade/ps-modernidade de modo a desloc-lo dessa deciso que me parece to pouco operativa: optar por um lado ou por outro lado. Procurei desmontar a lgica dos argumentos em torno do assim chamado 'ps-modernismo', na medida em que ele parece no ter a fora e a intensidade do conceito, em sentido filosfico. No entanto, no podemos nos fazer cegos s questes que ele nos coloca. A meu ver, o desafio que se impe a ns consiste em viver essas tenses de forma criativa e produtiva. A tarefa imperativa a de investigar a fundo o projeto moderno, tanto em seus aspectos epistemolgicos quanto em seus aspectos polticos; investigar a fundo tambm as propostas contemporneas, identificadas ou no como ps-modernismo, tambm em seus aspectos polticos e epistemolgicos. E nessas investigaes apreender os caminhos e as possibilidades que se abrem para um saber compromissado, comprometido, articulado em torno de um projeto claramente exposto. Em suma, agir de modo que a tenso no nos impea de pensar; que a 'vitria' de uma das posies no nos impea de pensar; que o pensamento e a ao criativa e produtiva sigam possveis em educao; esses parecem ser o nico sentido desse debate.
Você também pode gostar
- Contos Dos Orixás' Transforma Divindades Afro em Super-Heróis de Gibi - Cultura - EL PAÍS Brasil PDFDocumento4 páginasContos Dos Orixás' Transforma Divindades Afro em Super-Heróis de Gibi - Cultura - EL PAÍS Brasil PDFEdu MaxAinda não há avaliações
- Juventude Via Campesina - Agitacao e Propaganda No Processo de Transformacao SocialDocumento60 páginasJuventude Via Campesina - Agitacao e Propaganda No Processo de Transformacao SocialCORAJE100% (1)
- Esqueleto Do Livro Da Gente - FinalizadoDocumento219 páginasEsqueleto Do Livro Da Gente - FinalizadolianatrapoAinda não há avaliações
- 10-09 ANDRADE, Sérgio - CHALUB, Silvia. Performar Debates - Prefácio - e Continuidades e DescontinuidadesDocumento88 páginas10-09 ANDRADE, Sérgio - CHALUB, Silvia. Performar Debates - Prefácio - e Continuidades e DescontinuidadesTatiana Avanço Ribeiro100% (1)
- Pe 420 - Arte e Educao PDFDocumento2 páginasPe 420 - Arte e Educao PDFVanessa AlmeidaAinda não há avaliações
- JHNBGVDocumento312 páginasJHNBGVRenata Camila DuarteAinda não há avaliações
- A Mulher e Seus Adornos em BaudelaireDocumento10 páginasA Mulher e Seus Adornos em BaudelaireDani LinardAinda não há avaliações
- Congresso Ufba 2019 - Caderno Resumos PDFDocumento1.470 páginasCongresso Ufba 2019 - Caderno Resumos PDFtutmoshAinda não há avaliações
- Aula 01 Análise de Políticas PúbicasDocumento29 páginasAula 01 Análise de Políticas PúbicasFabio Luiz PimentelAinda não há avaliações
- O Sistema Moderno Das Artes - Parte IIDocumento23 páginasO Sistema Moderno Das Artes - Parte IILaura Elizia HaubertAinda não há avaliações
- Bloquinho Nível II e III CompletoDocumento62 páginasBloquinho Nível II e III CompletoLilian Kelly EugenioAinda não há avaliações
- Arte Funerária No Brasil UmaDocumento21 páginasArte Funerária No Brasil Umaalynne cavalcanteAinda não há avaliações
- Dançar É Inscrever No TempoDocumento17 páginasDançar É Inscrever No TempoAna Lucia SerraAinda não há avaliações
- Tesauro para Estudos de Gênero e Sobre Mulheres PDFDocumento304 páginasTesauro para Estudos de Gênero e Sobre Mulheres PDFLuciana G100% (1)
- O Demônio Da Teoria - Antoine CompagnonDocumento5 páginasO Demônio Da Teoria - Antoine CompagnonRichard RochAinda não há avaliações
- Disserta o Homem Q Dorme PDFDocumento151 páginasDisserta o Homem Q Dorme PDFAna Magda Carvalho Auwe-XavanteAinda não há avaliações
- ProvaDocumento5 páginasProvaThanandraPSRochaFerreiraAinda não há avaliações
- PPC ArquiteturaDocumento46 páginasPPC ArquiteturaLuiz FernandoAinda não há avaliações
- Livro Cartografia de ImagensDocumento150 páginasLivro Cartografia de ImagensAlex HermesAinda não há avaliações
- CHAGAS Mario Diabruras Do Saci Museu Memoria Educacao e Patrimonio IPHAN Musas Revista Brasileira de Museus e Museologia Brasilia IPHAN N 1Documento11 páginasCHAGAS Mario Diabruras Do Saci Museu Memoria Educacao e Patrimonio IPHAN Musas Revista Brasileira de Museus e Museologia Brasilia IPHAN N 1Rosa KarinaAinda não há avaliações
- Filosofia-Estetica - PPTX 20230829 212423 0000Documento7 páginasFilosofia-Estetica - PPTX 20230829 212423 0000Glaucia MendesAinda não há avaliações
- Graça Aranha - ArtigoDocumento16 páginasGraça Aranha - ArtigoMatheus PimentaAinda não há avaliações
- N. G. Pearson - Treading The MillDocumento244 páginasN. G. Pearson - Treading The Millja4004972Ainda não há avaliações
- A Linguagem Da Arte (Luana)Documento11 páginasA Linguagem Da Arte (Luana)Luana AguiarAinda não há avaliações
- Síntese Aula 7º Ano - 03 de Maio de 2016Documento2 páginasSíntese Aula 7º Ano - 03 de Maio de 2016Antonio VieiraAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Psicossocial Erik Erikson PDFDocumento28 páginasDesenvolvimento Psicossocial Erik Erikson PDFCristiane E Alexsandro100% (3)
- Revista de Estudos Literários - Iracema Macedo - Drummond e NietzscheDocumento6 páginasRevista de Estudos Literários - Iracema Macedo - Drummond e Nietzscheapi-3855723100% (1)
- Resumo 466Documento4 páginasResumo 466Pepe MartinsAinda não há avaliações
- Chuva, Vapor e Velocidade UVA HIST DA ART 1PDocumento7 páginasChuva, Vapor e Velocidade UVA HIST DA ART 1PTatiana GomesAinda não há avaliações
- Introducao A Historia Aula 6Documento7 páginasIntroducao A Historia Aula 6José Reinaldo PereiraAinda não há avaliações