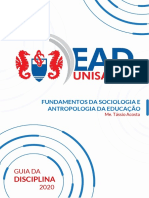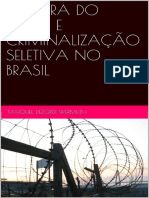Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
DUARTE, Luiz Fernando Dias. O Paradoxo de Bergson. Diferença e Holismo Na Antropologia Do Ocidente. Mana, 2012, Vol.18, n.3
DUARTE, Luiz Fernando Dias. O Paradoxo de Bergson. Diferença e Holismo Na Antropologia Do Ocidente. Mana, 2012, Vol.18, n.3
Enviado por
Abu JamraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DUARTE, Luiz Fernando Dias. O Paradoxo de Bergson. Diferença e Holismo Na Antropologia Do Ocidente. Mana, 2012, Vol.18, n.3
DUARTE, Luiz Fernando Dias. O Paradoxo de Bergson. Diferença e Holismo Na Antropologia Do Ocidente. Mana, 2012, Vol.18, n.3
Enviado por
Abu JamraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MANA 18(3): 417-448, 2012
*
O PARADOXO DE BERGSON.
DIFERENA E HOLISMO NA
ANTROPOLOGIA DO OCIDENTE
Luiz Fernando Dias Duarte
Quero dizer que, se para algumas pessoas, o po e o vinho so como uma met-
fora, [...] para outras [...] o po e o vinho so como um sacramento; assim como,
se para alguns o bal uma metfora, h outros para quem ele enfaticamente
mais do que uma metfora mais como um sacramento (Bateson 1972:36).
1
Cada compreenso de outra cultura um experimento com a nossa prpria
(Wagner 1981:12).
Introduo
Em uma passagem do Totemismo Hoje, como parte de sua reviso das teo-
rias anteriores relativas categoria de seu ttulo, C. Lvi-Strauss abordou a
paradoxal qualidade da leitura feita pelo filsofo Henri Bergson, ao mesmo
tempo distante da ortodoxia sociolgica ocidental e prximo de uma com-
preenso mais aguda do carter estrutural da correlao entre grupos sociais
e seres naturais emblemticos.
2
Nos seus termos, o filsofo, notoriamente atento afetividade e
experincia vivida, teria tido mais sucesso naquela percepo do que seu
contemporneo E. Durkheim, dada a excessiva racionalizao sociologizante
que movera este ltimo em direo aos fenmenos totmicos. Chega assim
Lvi-Strauss a propor que o pensamento de Bergson apresentaria uma ana-
logia com o dos povos ditos primitivos, em simpatia com o das populaes
totmicas (Lvi-Strauss 1969:141).
A expresso paradoxo de Bergson est presente tambm no glossrio
da filosofia contempornea para expressar a dificuldade, na linguagem mes-
ma do filsofo, de apresentar a lgica da durao, do fluxo temporal, numa
linguagem a nossa, oficial e hegemnica espacializante e, portanto,
violadora do sentido da fluida experincia vital (cf. Mullarkey 1999).
O PARADOXO DE BERGSON 418
Bergson insiste notoriamente em sua obra na oposio fundamental
entre durao e tempo, a primeira categoria referindo-se percepo
do fluxo vital experimentado e a segunda, s demarcaes racionalizadas,
compartimentadas a modo de apreenso do espao. H uma dinmica entre
esses polos, em que a cultura dominante do Ocidente se inclinaria constan-
temente para o privilgio do modo mecnico, desvitalizado, em detrimento
da fora experiencial do modo fluido (Bergson 1968).
Ambos os paradoxos se armam sobre o reconhecimento de uma dicoto-
mia estruturante. H um lado comprometido com o estilo de racionalizao
predominante no Ocidente, de que Durkheim aparece como o emblema, e
h um outro lado que faz a diferena em relao ao primeiro, e que elege
justamente tal diferena como apangio.
3
A dicotomia reverbera em muitas outras, essenciais para a constituio do
pensamento ocidental e da experincia antropolgica e uma reviso de seu
ntimo parentesco visa ressaltar como se entretecem as relaes entre aquele
pensamento e essa experincia, mormente a propsito da possvel rentabili-
dade heurstica de uma oposio estrutural entre iluminismo e romantismo.
H em meu ttulo uma ambiguidade intencional. A locuo antropolo-
gia do Ocidente tanto pode significar a antropologia que se constitui nessa
(nossa) cultura, como uma antropologia que se ocupa do Ocidente como
foco de anlise e objeto de conhecimento.
Inmeras locues e esquemas analticos j organizaram a oposio
entre o Ocidente e as demais culturas humanas; essa que j se exps em
tantas frmulas etnocntricas e evolucionistas, castigadas pelas ambies de
superao dos grandes divisores, e que, no entanto, continua a assombrar
nossa conscincia antropolgica, mesmo quando sob formas derrisrias como
the West and the Rest. Seja ela ou no fundada em bons motivos, sirva ou
no ao til desenvolvimento de algum argumento, reponta insistente mesmo
ali onde mais radicalmente se denuncia a violncia histrica e simblica de
seu imprio. E carrega consigo a questo da definio dessa antropologia,
de seus foros de autonomia ou extraterritorialidade, de sua autorizao para
o trato com a diferena, a alteridade; esse resto essencial.
Como j propus em outros textos (Duarte & Venancio 1995; Duar-
te 2000, 2004, 2005, 2006), considero fundamental para a antropologia
contempornea reconhecer uma verdadeira e profunda complexidade na
cultura da qual emergiu e assumir sua relao privilegiada com uma das
facetas cosmolgicas que a compem. Tambm no nenhuma novidade
a demarcao de divisores analticos para dentro dos muros do Ocidente,
e mesmo para dentro de sua verso moderna. Sua multiplicidade repete
frequentemente as oposies elaboradas no confronto com o alm-fronteiras
O PARADOXO DE BERGSON 419
(e bem possvel que lhes seja historicamente precedente), mas se colore
de outros tons, esbatidos de forma reiterada sobre um eixo imaginado como
diacrnico (tradicional x moderno; anacrnico ou atrasado x de ponta,
contemporneo, vanguardista etc.).
No entanto, a etnologia e muitos dos saberes com que dialoga insistem
em se referir cultura ocidental moderna (ou algum seu equivalente, como
o mundo euro-americano de Marilyn Strathern ou o Ocidente norte-
americano de Roy Wagner) de modo unvoco e monoltico, nas fmbrias
da caricatura.
Seguindo indicaes preciosas de alguma literatura, venho insistindo
sobre a precedncia, pertinncia e abrangncia de um par de oposies espe-
cfico na modelizao da complexidade da cosmologia ocidental. Cham-los
de iluminismo e romantismo uma soluo terminolgica tentativa; que
no recusa as frmulas convencionais da tradio classificatria da histria
ocidental, mas as mantm em suspenso, consciente dos embaraos que uma
pesada ptina reflexiva lhes impe, por um lado, e da profuso de desvios
e desvos, combinaes e distines, derivas e files em que, por outro, a
experincia histrica as compe.
4
Procedo assim a um exerccio de interpretao de um conjunto de pos-
sibilidades analticas hoje correntes e fortemente expansivas, crticas das
hipteses anteriores, relegadas, estas, frequentemente, mais vil condio
pelas circunstncias de um acerbo debate. Refiro-me ao que se poderia cha-
mar de um horizonte ps, em que uma pletora de categorias, nem sempre
concordes (ps-moderno, ps-estruturalista, ps-social etc.), proclama a
derrocada de uma configurao moderna dos saberes sociais e anuncia o
advento de uma alternativa mais sensvel, dctil e complexa.
5
Este exerccio opera como quadro para dois objetivos heursticos es-
pecficos: o de argumentar pela necessidade de uma sria considerao da
complexidade cosmolgica do Ocidente (reconhecendo que suas contrapar-
tidas sociolgica e fenomenolgica sempre foram bem evidentes um
critrio mesmo de sua autodefinio), para alm de referncias avulsas e
de denegaes reativas apressadas; e o de explorar o enigma subjacente ao
paradoxo de Bergson, qual seja, o da afinidade ou analogia entre o pen-
samento selvagem e aquelas modalidades consideradas no hegemnicas
do prprio pensamento cultivado ocidental.
A hiptese de uma grande oposio e tenso entre duas correntes ou
configuraes cosmolgicas na histria do pensamento ocidental concentra-
se neste momento no par iluminismo / romantismo, considerado suficiente-
mente elstico para abrigar uma infinidade de variaes histricas e nuances
ideolgicas no perodo dito moderno da cultura ocidental.
O PARADOXO DE BERGSON 420
Esta hiptese, bastante corrente em anlises sobre nossa cultura desde
o sculo XIX, quando o emprego do termo romantismo se generalizou,
pretende abarcar uma ampla gama de fenmenos nem sempre considerados
homlogos ou partcipes de uma mesma condio histrica ou sociolgica.
Basta aqui referir a possibilidade de associar o idealismo, o historicismo,
o vitalismo, a hermenutica e a fenomenologia configurao romntica
para nos darmos conta da enormidade do desafio. Como j desbastei o tema
alhures, esquivo-me de retom-lo aqui com todas as suas cores.
Evoco ento apenas a filiao mais imediata de minha ateno ao
tema: origina-se nas propostas de Louis Dumont em seus esboos de uma
antropologia do Ocidente, como meio de esclarecimento da emergncia e
hegemonia da ideologia do individualismo, enquanto fonte dos impe-
dimentos por ele descritos compreenso da configurao cosmolgica
indiana e do fenmeno da hierarquia
(2000). Paralelamente valeram-me
as exaustivas revises histricas de Georges Gusdorf sobre a configura-
o romntica, e indicaes iluminadoras em autores to dspares quanto
Arthur Lovejoy (1948), G. Stocking Jr. (1968, 1989), Adam Kuper (1978,
1989), Judith Schlanger (1971), Joel Kahn
(1990), Richard Shweder (1984)
e Mariza Peirano (1991).
J em Dumont se configura de modo intrigante a associao entre o
fenmeno, to tipicamente ocidental, do romantismo e o princpio da hie-
rarquia, por ele descrito e localizado justamente como uma propriedade
universal da condio (ou do pensamento) humana.
6
O que os aproxima
a comum oposio ao individualismo, com seus corolrios de igualitaris-
mo, racionalismo, universalismo, achatamento dos nveis e afastamento do
sensvel. A demonstrao da estrutura da oposio hierrquica enfatiza
a diferena a implicada; diferena de valor entre os termos que acarreta
o englobamento de um pelo outro (com a consequente possibilidade de t-
picas inverses hierrquicas). totalizao relacional assim constituda
atribui a qualidade de um holismo, uma implicao comum e diferenciada
dos termos, oposta assim representao do mundo intrnseca ideolo-
gia individualista: partes ontologicamente iguais, reciprocidade linear,
totalizaes decorrentes de mera justaposio contingente de elementos.
A posio hierrquica / holista sendo universal, a posio individualista
no poderia deixar de ser apenas uma de suas manifestaes, paradoxal
e desafiadora, mas, ainda assim, elemento de uma dinmica abrangente
em que busca conter (ou ser contida) pelo seu par oponente. oposio
externa de alteridade representada paradigmaticamente pela ndia cor-
responderia assim a interna, de um anti-individualismo, a que associa
Dumont ao romantismo
(1991).
O PARADOXO DE BERGSON 421
Agrega-se assim a interpretao dumontiana a um conjunto de anlises
concordes em descrever uma oposio ao conjunto de traos ou princpios
caractersticos da modernidade ocidental. Seja como um antiprogressi-
vismo (Mitzman 1966), um anticapitalismo (Kahn 1990), um contrai-
luminismo (Berlin s/d; remetendo Gegenaufklrung de Nietzsche), um
antimaterialismo (desde Goethe at pelo menos W. Wundt para falar
apenas do sculo XIX), um antirracionalismo (em Nietzsche, sobretudo),
um antinaturalismo (Meloni 2011), um antimodernismo
(Compagnon
2011), um antiuniversalismo, acumulam-se as descries negativas que
eu prprio resumi na imagem de um reparo ou reao romntica aos
ideais hegemnicos do Ocidente moderno.
Mas a oposio no apenas negativa. Pelo contrrio, desde meados
do sculo XVIII, passam a se acumular os fios de contraposio pulso
modernizante: sensibilidade, subjetividade, criatividade, espontaneidade,
esprito, fluxo, experincia, pulso, vida, totalidade, singularidade com
complexas articulaes internas e nfases conjunturais variadas.
A difuso desse sentimento de reao promove paulatinamente uma
verdadeira didtica da diferena, da ironia, do estranhamento, da relativi-
zao, da relacionalidade, da solidariedade csmica de um holismo en-
fim; particularmente nos domnios da arte, mas tambm no do pensamento
poltico e filosfico.
7
O texto em epgrafe de G. Bateson aponta para um dos grandes focos
de oposio cosmolgica na histria ocidental: a Reforma protestante e seus
continuados efeitos gnoseolgicos. Evoca-se a a substituio do entranha-
mento sacramental tradicional (encarnado na posio catlica) pela racio-
nalizao da metfora, distanciada, moderna e protestante, num resumo
do longo processo de racionalizao da cultura ocidental.
8
Com efeito, so intensos os fios que conectam a oposio anterior com as
que se processam no campo religioso a partir da Reforma.
9
Como tm ressaltado
diversos autores, a equao muito mais complexa do que a oposio entre
um catolicismo tradicional e um protestantismo moderno. Sublinha-se a
complexidade das variantes deste ltimo, assim como a disposio da prpria
Igreja Catlica em aceitar a nova disposio cosmolgica na sua prpria Con-
trarreforma (cf. Latour 2004). Tambm se ressalta a articulao entre a configu-
rao romntica e o misticismo pr-moderno europeu (Benz 1968) ou algumas
correntes minoritrias do protestantismo, como o pietismo (Dumont 2000).
Ao longo dos sculos XIX e XX, a converso ao catolicismo foi mesmo conside-
rada frequentemente como correlato de uma disposio antirracionalista.
10
Em outra chave, William James associou um trao fundamental do
protestantismo, a nfase no rebirth, no renascimento do sujeito convertido
O PARADOXO DE BERGSON 422
f crist, a uma condio distanciada, relativizada, em relao ao mundo
mas a j se revela uma dimenso mais complexa: a da nfase crist num
outro mundo, numa idealidade transmundana, que pode estar na raiz de
toda a histria ocidental, mais do que apenas do romantismo.
A representao de uma experincia totalizante valiosa, expressiva
da intensidade subjetiva e do fluxo vital, no se expressou apenas pela via
religiosa. A arte ocidental toda ela dedicada (pelo menos desde o sculo
XVIII) a esse estado alternativo, criativo e sensvel. Mas tambm o interesse
na diferena cultural, no rastro da histria de Herder. Encontram-se a tanto
o antiquariato como o orientalismo oitocentistas, em mos to prestigiosas
quanto as de Schopenhauer e Nietzsche.
11
Toda uma outra Europa cons-
truda luz das inspiraes romnticas, tal como props to sensivelmente
Uberoi a propsito de Goethe.
12
A Bildung, cultivo de si considerado caracterstico da configurao
romntica, uma inveno de potncia e deve operar por uma inverso/
reverso propiciada pelas foras antirracionais da arte, da religio ou da
sensorialidade.
13
O ponto essencial o da buscada combinao de expe-
rincia e estranhamento, capaz de produzir um sentimento de diferena e
uma disposio em servir diferena.
A conscincia da mudana e da transformao, j intrnseca ao projeto
melhorista do iluminismo, adquire novos tons, de valorizao do passado,
em detrimento da obsesso com o futuro, antepondo a tradio revo-
luo. Ao furor anti-hierrquico da grande transformao modernizante
se contrapem ento a tempestade e o mpeto (Sturm und Drang!) antirra-
cionalista da reao romntica.
A dialtica hegeliana um modelo forte e precoce dessa nova tem-
poralidade, espessa, dinmica e diferencial, em tudo diversa da linear,
acumulativa, de corte newtoniano. Seu dinamismo e relacionalidade
forneceram o molde a muitas das elaboraes crticas da racionalizao
moderna. Quando G. Bateson props o modelo das duas cismogneses,
L. Dumont o da oposio hierrquica, Lvi-Strauss o dos dois pensamen-
tos (cultivado e selvagem) ou R. Wagner o da oposio entre inveno
e conveno, o recurso comparado com a dialtica sempre se imps,
ainda que para super-lo ou englob-lo.
14
Em todos esses casos, voltou a
se afirmar uma relao no linear entre os termos de dualismos instaura-
dores, estruturantes, em que a modernidade aparece como um dos polos
ou dimenses do enigma. Seja sob a forma da cismognese complementar
ou do holismo, seja sob a do pensamento selvagem ou da dinmica diferen-
ciante, afirma-se uma oposio racionalizao maximamente implicada
pela modernidade ocidental.
O PARADOXO DE BERGSON 423
dessa oposio, ancorada numa profunda insatisfao com os rumos
centrais de nossa cultura, que trato a seguir, em seus meandros antropol-
gicos. Creio ter lido em Ruth Benedict pela primeira vez a referncia muito
repetida segundo a qual quem est insatisfeito consigo mesmo faz psico-
logia, quem est insatisfeito com sua sociedade faz sociologia; quem est
insatisfeito com ambos faz antropologia.
15
Afinal, sempre alguma verdade
se pode entrever por detrs das fceis boutades.
A empreitada de flego e apresentada aqui mais como um progra-
ma de trabalho do que como uma anlise fechada, j que levar a srio o
horizonte ps exige vasta dedicao etnogrfica. Como veremos, parte
de sua autojustificao a recusa dos sistemas e o que fao procurar
exatamente demonstrar a sistematicidade de sua articulao com o roman-
tismo. Garanto com isso uma rejeio principial a meus argumentos, a que
no posso seno antepor o testemunho evidente de considerao que este
trabalho atesta para com um movimento de fascinante vitalidade, eixo de
nossa melhor tradio.
A pulso romntica do Ocidente
No se trata certamente aqui de reificar a categoria romantismo. uma
etiqueta til apenas para designar, como delineei, os movimentos de oposio
sistemtica racionalizao ocidental moderna. E essa sistematicidade que
me interessa demonstrar, para alm de uma vastamente complexa histria.
No posso seno faz-lo muito brevemente, remetendo literatura compe-
tente a justificao mais slida de meu esquema interpretativo.
Uma breve reviso dos fios, ou traos epistmicos, da pulso romn-
tica no pode prescindir de uma localizao gentica, frequentemente
remetida oposio emergente contra o modelo cartesiano, ao longo do
sculo XVIII. Vico e Herder so eminentes nessa posio, evocados com
recorrncia na afirmao do primado da experincia vital e da mediao
subjetiva, contra o empobrecimento cognitivo da empresa materialista (cf.
Berlin 1976; Mueller 1992). Vico rejeitava explicitamente a aplicao do
mtodo geomtrico ao conhecimento do mundo, particularmente dos
fenmenos humanos. Insurgia-se ainda contra o primado da razo, en-
fatizando a fora da inveno humana contra a ideia de descoberta:
verum et factum convertuntur (o verdadeiro e o feito so conversveis entre
si).
16
O privilgio concedido sensao e imaginao levou-o a uma
valorizao da mitologia e da fabulao absolutamente precoce e indita
na modernidade. J Herder, que s leu Vico com aprovao tardia-
O PARADOXO DE BERGSON 424
mente, construiu uma noo de histria no linear, composta pela evolu-
o orgnica de configuraes culturais singularizadas, dependentes do
esprito do povo portador. Para designar a atitude necessria para a
acolhida da diferena intrnseca a esse quadro, formulou pela primeira vez
o conceito de Einfuhlen (empatia), de longa insistncia nas contracorrentes
do pensamento ocidental.
17
Em ambos um pano de fundo nominalista e empirista reponta niti-
damente, em oposio ao aristotelismo e ao cartesianismo. E esta uma
dimenso importante da questo, que reaparecer mais adiante, ainda que
no possa merecer mais do que comedido trato: as relaes entre o roman-
tismo e a tradio nominalista-empirista, normalmente oposta ao realismo,
de cujas bases emergiu o naturalismo moderno (cf. Wagner 1986).
Um fio bem ntido de influncias porta tais disposies originais at a
constituio das cincias humanas institucionalizadas do incio do sculo
XX. Seja pela via da lingustica, a partir da interpretao herderiana da lin-
guagem encetada por Wilhelm Von Humboldt, seja pela via da antropologia
que se esboa em W. Wundt, em E. Tylor (e logo se afirma com F. Boas e B.
Malinowski), seja pela da histria de L. Von Ranke, da geografia de F. Ratzel
(fazendo a ligao entre a cosmografia de Alexandre Von Humboldt e Boas),
ou paradigmaticamente pela sociologia fin-de-sicle de W. Dilthey, F.
Tnnies,
18
G. Simmel e M. Weber, impe-se um projeto de desconstruo do
naturalismo desvitalizado, da temporalidade linear e da fragmentao dos
elementos, a que dera Goethe pleno impulso com a crtica ao pensamento
de I. Newton em sua Doutrina das cores (Goethe 1993).
A filosofia do sculo XIX deu atenta guarida a essa pulso, sobretudo
na frtil seara do idealismo germnico, refinando a disposio de ironia e
estranhamento de relativizao, j se poderia dizer daquilo a que Sim-
mel chamou exemplarmente de cultura objetiva.
19
Foi secundada nesse
desafio pela arte, em todas as suas ricas manifestaes oitocentistas do
que d conta a ento alta eminncia da discusso sobre a esttica.
Embora E. Durkheim tenha vindo a encarnar o essencial do esprito
moderno na tradio das cincias sociais, o positivista, responsvel pela
reificao da noo de sociedade, no se pode deixar de reconhecer nele
a presena da pulso romntica, haurida indiretamente do organicismo
biolgico e aprendida diretamente com Wundt, em Leipzig, a propsito da
Kultur germnica. A demonstrao do carter sui generis da vida social foi
um empreendimento mpar, paralelo demonstrao homloga feita por
Freud em relao vida psquica. Hoje se esquece com frequncia a crucia-
lidade da desconstruo do individualismo como fundamento da experincia
social (um dos eixos da mitologia contratualista) e da incorporao da
O PARADOXO DE BERGSON 425
experincia religiosa no mbito de uma reflexo sistemtica comparada
e abrangente (como o esprito na mquina).
A mesma preeminncia da totalidade sustentou o rumo de F. Boas
e de M. Weber (sob a espcie de configuraes), assim como a preemi-
nncia da sensibilidade, do esprito e da experincia animou alm
daqueles dois a obra de M. Mauss, de G. Simmel e de B. Malinowski,
desencadeando-se ento, por diversos meandros, at nossos dias.
A via rgia de uma compreenso totalizante, integrada, por oposio
explicao, herdada das frmulas de Dilthey para as Geisteswissenschaf-
ten, paira desde ento sobre ns,
20
sob tantos avatares: uma compreenso,
ou hermenutica, que se obtm pela mediao da experincia subjetiva
do pesquisador, entranhada na sensibilidade concreta, celebrada na teoria
do trabalho de campo.
Como j mencionei, essencial agregar ao dualismo que me encontro
perseguindo um terceiro elemento; no um terzo incomodo, muito pelo con-
trrio, j que se pode aninhar regularmente nos braos de um ou de outro
dos termos iniciais. Trata-se do nominalismo, regular par de oposio ao
realismo, e sua refrao moderna, o empirismo. Como notrio, o empirismo
dito clssico foi um elemento fundamental da consolidao da cosmologia
moderna, quer se a chame de iluminista ou no, e continua pulsante, em
formas prticas, no empreendimento da cincia naturalista. No entanto, sua
dimenso nominalista obrigou a uma tenso permanente com o raciona-
lismo (e seus fundamentos realistas). Essa desconfiana em relao s
entidades abstratas ou de segundo nvel esteve na raiz das formulaes
romnticas, de Herder a Nietzsche, com sua nfase na experincia direta e
na preeminncia da sensibilidade sobre a inteleco.
21
Esse fundo nominalista reaparece, como proporei, de maneira ainda
mais vvida na configurao ps, entremeado num neorromantismo ou
constitutivo de um empirismo romntico (cf. Duarte 2004, 2006).
Holismo e romantismo
No por acaso veio Dumont a se debruar sobre o romantismo aps o grande
panorama da ideologia economicista esboado no primeiro Homo Aequalis. No
Homo Aequalis II (1991) apareciam os sinais ntidos da contraposio romnti-
ca ao horizonte do individualismo, chamado por Simmel de quantitativo.
Com efeito, o mapeamento da configurao cultural ocidental empreen-
dido por Dumont exigia um primeiro enfoque do ponto central, dominante,
hegemnico, pelo qual se habilitava oposio indiana, mas resvalava neces-
O PARADOXO DE BERGSON 426
sariamente para o reconhecimento de uma contrafora aparentada em certas
circunstncias hierarquia e ao holismo exticos (nos casos histricos
extremos de Herder e Fichte, por um lado, e de Hitler, por outro).
A elaborao da diferena intraocidental foi trabalhada a propsito da
Bildung e da obra de arte, construo paralela e solidria da totalidade de
criadores e criaturas: a singularidade das carreiras morais e a das constru-
es estticas a se entre-justificarem.
A referncia s questes que levaram Dumont a seu conceito de holismo
reaparece em todos os historiadores diretamente envolvidos com o romantis-
mo (ou com as ideologias alternativas que lhe podem ser associadas): nfase
na totalidade em que se entranham as relaes; desprezo separao entre
sujeito e objeto, entre razo e sentimento, ou entre natureza e humanidade;
denncia da linearidade do tempo e do pensamento.
Em tal disposio, assumiu o discurso romntico a afinidade com a
alteridade histrica de suas prprias razes e com a alteridade cultural, ex-
gena. Devem ser assim entendidas suas relaes ativas com o misticismo e
com o orientalismo.
No primeiro caso, so unnimes referncias como as da influncia de
J. G. Hamann sobre Herder (cf. Benz 1968), ou de Plotino, Giordano Bruno
e Jakob Boehme sobre Coleridge (cf. Wheeler 1993); quando no se trata
diretamente da assuno de uma atitude francamente inspirada, como a
de tantos artistas, de que as obras ardentes de Novalis ou de William Blake
revelam o tipo.
O encontro com as crescentes informaes sobre as culturas orientais
suscitou ainda no sculo XVIII um alto interesse, que se reforou por estudos
cada vez mais formais. Friedrich Majer,
22
discpulo de Herder, foi quem ini-
ciou Schopenhauer no conhecimento do hindusmo e do budismo, de to alta
importncia em seu pensamento, pela nfase em modalidades alternativas
da vontade e da relao com o cosmos. O dionisismo caro ao Nietzsche de
O nascimento da tragdia inseparvel dessa busca sistemtica pela dife-
rena e pela integrao no racional, encontrveis nas tradies orientais e
nos desvos populares e entusisticos do Ocidente.
A categoria holismo e as noes de todo e totalidade que lhe subjazem
prestam-se a algum equvoco, amplamente mobilizado nas discusses con-
temporneas. Em funo sobretudo do peso que a ideia de organismo,
pea-chave da reao dos saberes biolgicos ao mecanicismo, veio a ter na
sociologia francesa, considera-se frequentemente que ela imponha uma
representao fechada da totalidade, esttica, unvoca e uniforme.
Entre os autores contemporneos altamente crticos da reificao da
noo de sociedade, T. Ingold o nico que parece perceber a complexi-
O PARADOXO DE BERGSON 427
dade da noo de todo que lhe subjacente, ao propor a existncia de dois
tipos de holismo: o da totalidade de forma e o da totalidade de processo
(2008:81). Efetivamente, aponta-se assim para uma fundamental distino
entre a objetivao abusiva de unidades de relaes sociais (sociedades) ou
de compartilhamento simblico (culturas) estabilizadas e a pressuposio de
que os entes mantm entre si relaes significativas que se distendem at
determinados nveis discretos da experincia, cedendo lugar determinao
de alguma exterioridade. Pode-se enfatizar o carter processual, dinmico,
complexo, projetivo, relativo, situacional, transformacional paradoxal at
mesmo de tais identificaes, sem que desaparea a inevitabilidade de
focos discretos de sentido.
23
O movimento romntico, com a latitude que aqui lhe empresto, encar-
niou-se na demonstrao do entranhamento dos elementos nas totalidades,
por oposio nfase particularista e individualista da cosmologia iluminista.
Esteve, por outro lado, sempre muito atento s propriedades mveis, cam-
biantes, paradoxais, de tais totalidades no cultivo do princpio do fluxo,
do devir, que lhe foi e to estruturante.
24
Dumont deteve-se atentamente sobre a monadologia de Leibniz, que
considerava a mais engenhosa das tentativas de articulao entre o holismo
e o individualismo.
25
Sua exegese buscava associar esse fascinante conceito
ideia de singularidade absolutamente central para a compreenso
da noo romntica de todo. Simmel tinha-a em mente na definio dos in-
dividualismos quantitativo e qualitativo: o primeiro repousando sobre uma
conjuno de individualidades (quer fossem os cidados da ordem liberal,
ou os corpos e corpsculos da fsica newtoniana, ou as ideias da psicologia
associacionista de Locke); o segundo, sobre uma imbricao englobante en-
tre singularidades, ou seja, totalidades nicas em seus respectivos nveis
(quer fossem as pessoas, as naes, as culturas, as lnguas, as comunidades,
as obras de arte).
26
Num plano mais sociolgico e como exemplo do carter puramente
estratgico da definio de identidades coletivas, Dumont insistiu na in-
convenincia da representao das comunidades rurais indianas como
unidades de fronteiras ntidas, fechadas, indiferenciadas tal como corrente
na sociologia colonial inglesa (Dumont 1975). E no h como no lembrar
das brilhantes demonstraes do carter situacional das identidades nos
Political systems de E. Leach e em Os Nuer de E. E. Evans-Pritchard.
A totalidade certamente um problema emprico, mas sobretudo um
problema epistemolgico, como sublinha o essencial da crtica romntica
sistematizao do conhecimento afastado do sensvel, do dinmico, even-
tualmente do inefvel.
27
um tema fundamental da configurao ps
O PARADOXO DE BERGSON 428
a que retornarei. Pode-se, porm, desde j sublinhar que um holismo metodo-
lgico, tal como tradicionalmente oposto ao individualismo metodolgico,
no atende aos reclamos romnticos, empenhados em desconstruir todo me-
canismo de totalizao, na busca por um novo monismo e um pleno devir.
28
Pode haver tambm algum equvoco entre o sentido mais comum de
totalidade como clausura do ser e esse outro, enfaticamente caro ao roman-
tismo (e ao holismo metodolgico), da harmonia ou solidariedade entre
os diferentes nveis de alguma forma social (cf. Schlanger 1971). A frmula
lvi-straussiana do pensamento selvagem foi uma das que buscaram
erigir um legtimo anteparo cognitivo fragmentao da lgica do abs-
trato, aquela em que as propriedades sensveis so alienadas do processo
de conhecimento humano. Carlo Severi exps com propriedade alguns fios
de homologia entre o pensamento de Lvi-Strauss e o de uma complexa
linhagem romntica que remonta a Goethe e suas investigaes sobre a
morfognese (em que a investigao sobre uma estrutura dos fenmenos
sensveis no se ope ao prazer esttico).
Seja sob a forma ainda intelectualista do modelo lvi-straussiano do
pensamento selvagem, seja sob as espcies mais radicalmente romnticas,
insinua-se em todas essas formulaes sobre a totalidade a inquietao
com a vida, pedra de toque fundamental da oposio ao mecanicismo
e ao materialismo. O organismo serviu inicialmente como veculo dessa
totalizao vital, assim como a cultura, por oposio civilizao (Sahlins
1996:406), mas tornaram-se as duas prprias categorias excessivamente ob-
jetivadas para o gosto romntico. Novas frmulas vitais so buscadas, ainda
mais sensveis, ainda mais fluidas, cada vez mais associveis ao fremente
domnio da arte.
29
Uma via rgia para a relativizao do holismo a da demonstrao da
abertura dos sistemas em que se materializam, seja para o interior, sob a
forma de dinmicas transformacionais, seja para o exterior, com a complexi-
ficao da prpria noo de fronteira, identidade e alteridade. Ou seja, para
o desafio da consistncia mesma de alguma pelcula orgnica envolvente.
Volto a evocar a sequncia dos modelos dialticos de Bateson, Dumont,
Lvi-Strauss e R. Wagner, com um complexo dinamismo que acaba rein-
troduzindo a concepo de um todo sistemtico, pelo menos como figura
retrica, se no como ente emprico.
30
Essa dinmica foi intensamente cultivada no romantismo original, luz
do conceito hegeliano de Aufhebung,
31
como mecanismo intrnseco dial-
tica. A passagem para um nvel superior, englobante, da dinmica histrica
ou conceitual demarcaria mesmo o que chamei alhures de evolucionismo
romntico (cf. Duarte 2004), de que a mais cabal verso se encontra na
O PARADOXO DE BERGSON 429
noo de vanguarda artstica. na verdade em sua trilha que proponho no
estar a capacidade de acesso alteridade disponvel para a antropologia do
Ocidente seno a que j a pulsa internamente, dialeticamente, hierarqui-
camente; englobada e englobante em relao ao iluminismo central de sua
configurao.
Um texto que costumo usar em meus cursos sobre histria da teoria
antropolgica o de Christopher Lawrence (1979) sobre a leitura que os
iluministas escoceses do sculo XVIII faziam de seus conterrneos habi-
tantes das Highlands, agrrios, catlicos, jacobitas: a perfeita imagem da
barbrie, anttese da civilizao. Mais ou menos mesma poca (1760), a
clebre falsificao, por James MacPherson, de poemas galicos escoce-
ses tradicionais, conhecida sob o nome mitolgico de Ossian, comeava a
inflamar as mentes romnticas, de Herder e Goethe a Walter Scott e Franz
Schubert. Celebravam-se as qualidades do bom selvagem highlander.
Essas imagens antitticas continuam a nos assombrar, em constante e din-
mica dialtica ambas fundamentais e ambas... completamente exgenas
s altas terras da Esccia!
Nossos antroplogos selvagens
A correlao entre a capacidade antropolgica de lidar com a diferena
entranhada na alteridade cultural e as razes de alteridade ativas no seio
mesmo de nossa configurao cultural pode ser explorada nas mais impor-
tantes formulaes da verso ps da modernidade.
Roy Wagner produziu em seu A inveno da cultura uma preciosa
smula e guia dessas consideraes (1981). Tainah Leite, em recente traba-
lho sobre a antropologia do sculo XIX (2011), dedicou-se a uma primeira
explorao das relaes de seu pensamento com a configurao romntica,
vindo a ressaltar notveis homologias entre algumas de suas propostas e as
de autores cruciais como Vico, Herder, Schopenhauer e Nietzsche nessa
epistemologia do ambguo com que ela caracteriza to a propsito seu
empreendimento. A nfase antimodernista envolve o constante manuseio
de categorias tais como esprito, ao, vontade, experincia, vida,
subjetividade, criatividade, integrao e singularidade numa ver-
dadeira reinveno criativa do romantismo original. Reaparece plenamente
a oposio herderiana entre as engrenagens inanimadas da ideologia ra-
cionalista e as energias dinmicas da vida (social e intelectual). Incensa-se
a realizao espontnea e criativa da cultura humana (Wagner 1981:37),
reavivando a imaginao reconstrutiva proposta por Vico.
O PARADOXO DE BERGSON 430
A inveno de Wagner, eventualmente chamada de dialtica,
consubstancial com a noo de vida, impulsionada pela motivao
32
e
conduzida pelos recursos da improvisao, da inovao e da criao.
33
Sublinha-se a espontaneidade subjacente a uma disposio inconsciente,
no relativizada (a lack of awareness) decantada pelo menos desde o
Sturm und Drang. As passagens sobre a vida como sequncia inventiva
e uma certa qualidade de fulgor [brilliance] (Wagner 1981:89) so justa-
mente renomadas, por resumirem com intensidade esse senso da vida, que
enfeixa no jargo romntico o melhor da oposio abstrao, racionali-
zao, sistematizao do mundo.
34
Wagner notavelmente explcito sobre o trao da totalidade, ao tratar
de uma individuao que afirma justamente a singularidade, nos termos
em que acabo de discuti-la (1981:44-48). A criatividade a chave dessa
totalidade singular, desse todo dialtico e autocriativo (:142): a tendn-
cia da cultura a de se autossustentar, ao se inventar a si prpria (:60),
o que retoma, no nvel da cultura, o essencial da proposta setecentista
de K. Ph. Moritz para o artista e a obra de arte, tal como analisada por
Dumont (1991).
No extremo oposto encontram-se as foras negativas da conveno, da
coletivizao, do mascaramento, da objetivao, da relativizao o reino
do artificial e imposto (Wagner 1981:50, caractersticos da ideologia
central do Ocidente (:142), da sua Cultura oficial e do dia a dia (:146),
da nossa Cultura racionalista em seu sentido estreito (:151).
A alteridade concebida por Wagner de modo amplo como se residis-
se no mundo tribal, campons e no das classes inferiores (1981:89), mas
tambm, por um critrio mais ideolgico, em contextos tribais e religio-
sos
(:59), no urbanos (:123) ou onde prevaleam outras tradies no
racionalistas (:108).
Suas propostas contm, nesse sentido, notveis homologias com Tnnies
e Simmel (particularmente em relao s culturas objetiva e subjetiva),
embora estes autores no apaream em sua bibliografia; contrariamente a
Dumont, que merece seguidas consideraes comparadas.
35
Wagner retorna constantemente ao tema da autoconscincia da antropo-
logia como autoconscincia do Ocidente, embora a marca dinmica interna
que enfatizo acabe por no encontrar guarida.
36
Sua disposio analtica
assim certamente um estmulo obviao dessa mscara fundamental.
37
Em G. Deleuze o dilogo com a tradio filosfica de cunho romntico
imediatamente explcito, enquanto em Wagner prevalecia o da arte (e o
recurso a alguns autores bem caractersticos daquela tradio, como Oswald
Spengler). Uma reviso sintomtica superficial pode assim imediatamente
O PARADOXO DE BERGSON 431
retraar inmeros dos fios que comunicam sua obra tanto com a tradio
romntica pregressa quanto com as apropriaes contemporneas.
A associao com o pensamento de Nietzsche (cf. Sellars 1999:2), Tarde
(cf. Larval Subjects 2012) e Bergson (Deleuze 1999; Fornazari 2004) cer-
tamente uma via rgia, dando conta da importncia em suas formulaes
analticas (s ou com F. Guattari) de categorias tais como devir, durao,
lan vital, intuio, virtualidade e intensidade (cf. Corbanezi 2009), ou
transformao, vontade e vida (cf. Mitchell & Broglio 2008). Sellars (1999)
desenvolve, alis, explicitamente o tema do romantismo de Deleuze, subli-
nhando a importncia a de escritores como Hlderlin, Kleist e Bchner,
ou de filsofos como F. Schlegel (com uma comum conexo ao estoicismo).
Encontram-se significativamente em A Dobra (1991) referncias a dois
personagens crticos das conexes entre romantismo e cincia, dois legti-
mos, ainda que epigonais, Naturphilosophen: Gustav Fechner e Jakob Von
Uexkll (cf. Kull 2004).
Muitos desses traos epistmicos reencontram-se em T. Ingold, com
referncia tambm explcita a Bergson
38
e fortemente centrados na ideia
de vida.
39
So muito significativas suas discusses sobre a diferena entre
representao e presena (2007:37) ou entre informao e transmis-
so.
40
Em ambos os casos, desenvolvidos nessa obra fascinante que o Lines,
Ingold trabalha a oposio entre um mundo de vida, onde as linhas so
traos experienciais, presenciais, transmissionais, e o mundo moderno,
desvitalizado, onde as linhas se empobrecem em sries de pontos, informa-
cionais e representacionais.
41
O tema ingoldiano j fora desenvolvido por B. Latour, mormente em seus
textos sobre o fenmeno religioso. Surgia a tambm a frmula do apego (ou
pertencimento) tradicional e do desapego moderno (2000:203). O dualismo
entre vida e no vida j estava explcito em texto de 1990, na forma de
uma oposio entre a presena (entranhada, vivida, imediata) e a represen-
tao (distanciada, pensada, mediada). No texto de 2004 em que revisitou o
religioso, a mesma oposio emerge entre transformao (presena, experi-
ncia, vida) e informao. Latour trabalha nesses textos com a oposio entre
o catolicismo e o protestantismo, que j evocramos antes. H uma passagem
interessante, em que aquele aparece com as cores de que o romantismo tinha
vindo a revesti-lo ao longo do sculo XIX: noturno e antirracionalista. Para
Latour, nesses momentos, a nostalgia romntica parece revestir-se de um
manto catlico pr-Reforma, domnio de plena presena.
42
A evocao de Deleuze e Latour enseja um recuo a Gabriel Tarde uma
influncia comum. E permite tambm retomar o tema do nominalismo,
associado como estou sugerindo ao romantismo, em dosagens e ligas
O PARADOXO DE BERGSON 432
muito diversas.
43
Tarde , nesse sentido, a manifestao de um mximo
nominalismo, o que certamente associvel a sua entusistica retomada
da monadologia leibniziana. A profunda ligao com Bergson no nos
permite esquecer, porm, de sua dimenso romntica, entre outros motivos
(Bergson 1909; e. g.).
Um tema como o do panvitalismo ou panpsiquismo
44
contm direta-
mente o trao da vida, mas outros, conexos, so de idntica importncia,
como o da pulso
45
(esse apetite de infinito, como o chama o comen-
tador E. Vargas 2000), o da singularidade
46
ou o do fluxo, esse rio de
variedades (apud Alliez 2001:103) da vida microcsmica. As presenas de
Hermann Lotze ou de Schopenhauer (a propsito da vontade) na obra de
Tarde s so menos constantes do que a de Fechner, tambm ele fascinante
panpsiquista, no fosse a comum inspirao nas mnadas.
47
Marilyn Strathern, etnloga e mais radicalmente empirista, apresenta
os traos romnticos de maneira menos explcita, encastoados num nomi-
nalismo fundacional. Em muitos casos, os traos surgem em referncias
a R. Wagner, cuja nfase na criatividade (1988:xii, 174) endossa, como
recurso de oposio aos modelos positivistas, objetivados, da sociedade e
do indivduo suas btes noires. Aqui e ali emerge a nfase na ao e na
agncia dos sujeitos,
48
no elogio da ddiva contraposta economia mercantil
(:134); na denncia da artificialidade oposta experincia e sensibilidade
(:7, 61); ou na oposio entre texto e vida (1992:77).
Strathern expressa mais frequentemente do que seus companheiros de
viagem a relatividade do grande divisor e a preocupao com uma caricatura
monoltica do Ocidente ou do mundo euro-americano, mas o faz apenas
por aluses, nunca sistematicamente.
49
Em sua fase de produo mais recente, o etnlogo Eduardo Viveiros de
Castro tem se aproximado da configurao que venho descrevendo, opondo,
por exemplo, a teoria do antroplogo vida do nativo (2012:164), de
maneira bem caracterstica. Um certo elogio vida e autenticidade
50
coerente com uma filiao explcita tradio de Leibniz, Nietzsche,
Bergson, Tarde e Deleuze; esse outro lado do nosso pensamento ou essa
outra metafsica, essas contracorrentes dominantes do pensamento social
contemporneo.
51
Sua grandiosa construo de uma nova leitura das cosmologias ame-
rndias amaznicas certamente o lugar por excelncia da ativao dessa
inspirao outra, em que a ideia de uma epistemologia xamnica enfeixa
a ambio explcita de associao entre a alteridade etnolgica e a alterida-
de filosfica ocidental.
52
Atribui-lhe um ideal de subjetividade, oposto
desanimizao (ah, a reificao!) implicada pela objetividade dominante,
O PARADOXO DE BERGSON 433
e supe que esteja restrita, em nossa cultura, a esse parque natural da
arte a que se refere Lvi-Strauss em O pensamento selvagem. , alis,
exatamente a propsito do xamanismo (e da arte!) que ele manifesta uma
de suas referncias diretas, negativas e apotropaicas tradio romntica,
descartando sua proximidade do modelo perspectivista.
53
A densa defesa
filosfica de suas propostas etnogrficas acaba, no entanto, confirmando essa
possvel aproximao, j que a poderosa inspirao romntica, percolando
por capilares, implcitas e densas derivaes, no outra seno a que invoca
explicitamente em seu reavivamento.
Meandros contemporneos da diferena
J acrescentei ao dualismo tentativo original o termo terceiro do nominalis-
mo / empirismo, que permite descrever melhor a complexidade do campo
filosfico e antropolgico ocidental. Assim como evoquei superficialmente o
considervel enraizamento dessa tripartio no horizonte da teologia crist,
poderia t-lo feito em relao filosofia clssica, particularmente a prop-
sito do estoicismo (cf. Sellars 1999). So necessrias ainda outras pequenas
precises no registro da histria das ideias, necessrias ao esclarecimento
de minha proposta, particularmente no tocante a holismo e diferena.
No bojo da prestigiosa utilizao por Deleuze da caracterizao de uma
tradio barroca de pensamento, centrada em Leibniz, Chunglin Kwa
formulou uma crtica ao holismo no pensamento cientfico moderno por
ser herdeiro do romantismo (2002). Seu quadro no inclui o iluminismo,
o que lhe permite atribuir a seu oponente todas as mltiplas frmulas tota-
lizantes emergentes desde o sculo XIX nas teorias cientficas. S o pode
fazer por atribuir ao barroco as dimenses fluidas e processuais intrnsecas
ao que chamo aqui de romantismo. Seu esquema turva a compreenso
das relaes entre o romantismo e o iluminismo, sobretudo a propsito da
complexa noo de organismo, assim como empana a profunda dvida do
romantismo para com a filosofia de Leibniz. revelador que Kwa atribua
ao romantismo um gosto pela natura naturata, em contradio direta com a
exaustiva demonstrao por Gusdorf de seu efetivo culto natura naturans,
ao fluxo vital.
54
Com a exceo de Bergson e de Uexkll por fora de seu culto mais
explcito entre as lideranas contemporneas do crculo ps concedi
pouca ateno aos desenvolvimentos do saber filosfico e antropolgico da
primeira metade do sculo XX, aquele em que ainda se pode reconhecer
propriamente ativo o movimento romntico, por oposio ao reaviva-
O PARADOXO DE BERGSON 434
mento posterior II Guerra, que prefiro chamar de neorromntico (cf.
Duarte 2004). So, no entanto, fundamentais para a compreenso de um
perodo ureo da disciplina e de seus rumos atuais. Avultam a as marcas
da hermenutica e da fenomenologia, com sua nfase no monde vcu, no
corpo, na arte e na intersubjetividade, pelas mos de Merleau-Ponty
55
em
uma direo, e pelas de Alfred Schtz, em outra.
56
No possvel seno
mencionar o quanto se poderia explorar dos traos epistmicos romnticos
em autores to influentes, circulantes hoje na rea ps, como G. Bateson,
57
A. N. Whitehead
58
ou L. Wittgenstein (cf. Klagge 2003; Rowe 1994). Mas
tambm em autores longamente relegados a segundo plano e, no entanto,
cruciais para a aproximao diferena, como Roger Bastide (cf. Duarte
2005) ou Maurice Leenhardt.
No creio que se possam compreender os melhores contornos do ne-
orromantismo sem lembrar a existncia de uma srie de autores menores,
circulantes em reas de mais frouxa popularidade, mas que vm garantin-
do desde o sculo XIX o fluxo de sensibilidades necessrio ao esprito do
tempo. Lembro de Rudolf Steiner, com sua dedicao a Goethe e a sua
antroposofia; de Edgar Morin, com sua teoria da complexidade; de Bo-
aventura de Souza Santos, com sua sociologia das ausncias; de Fritjof
Capra, com sua teia da vida.
No h como resenhar aqui exaustivamente os infindveis fios em
que nossa modernidade se entretece da pulso romntica, reforando a
demonstrao da complexidade da cosmologia ocidental, mas me interessa
ao final indagar sobre os motivos da obliterao sistemtica do reconheci-
mento desse dualismo e dessa genealogia. possvel que a prpria soli-
dariedade entre as dimenses no hegemnicas do pensamento cultivado
ocidental e o pensamento selvagem buscado alm de nossas fronteiras
contribua para esse efeito de denegao, j que sua plena conscincia
talvez pudesse desestimular o fulgor da alteridade etnograficamente de-
monstrada, desse pleno do Outro, inventado ab ovo, de que se engalana
a etnologia.
No se pode descartar tampouco a hiptese de que para tal contribuam
os efeitos prticos do grande divisor disciplinar, que separa a competncia
etnolgica da competncia no conhecimento da histria das sociedades com-
plexas (e particularmente da cultura ocidental). Efeitos que se combinam com
a resistncia empirista em enfrentar o conhecimento desta cultura, por se tratar
ou de muito prxima, ou de muito diversificada, ou de muito vaga enfim,
de modo inverso ao que continua presidindo tarefa etnolgica tpica.
O mais importante, porm, iluminar as contribuies dessa longa
linhagem de reavivamentos romnticos da antropologia do Ocidente; realar
O PARADOXO DE BERGSON 435
sua fundamental contribuio, sua constitutiva responsabilidade, no sucesso
possvel da disciplina e do saber; acrescentando apenas mais uma toro
reflexiva no processo de intensificao do debate sobre a relao entre nossa
ordem simblica e a experincia antropolgica da alteridade.
Minha proposta de que haja um romantismo, ou seja, algo de
intensamente comum a autores, correntes, propostas, que se repetem no
Ocidente em contraponto disposio iluminista, e que isso no alea-
trio ou eventual ou singular, mas sim sistemtico, estrutural, recorrente,
evidentemente um procedimento cultivado, convencionalizante, coleti-
vizante e molar. , no entanto, fundamental e apesar da resistncia do
crculo ps
59
para garantir a continuada dialtica entre conveno e
inveno. Afinal, quando a atual onda romntica se sedimentar, por sua
vez, em cultura objetiva, coletivizada uma nova obviao exigir a
retomada de nossos profundos tesouros de reavivamento e inovao. Um
novssimo testamento aguardar por novssimos profetas, que faro ressoar
antiqussimas trompas.
Voltamos assim ao paradoxo de Bergson, em sua acepo filosfica:
este um exerccio sistmico, mas que no difere, afinal, dos que os grandes
neorromnticos nos propem, j que tambm eles no escapam necessidade
de prender no texto, na letra morta e mortfera, em suas gaiolas cinzentas,
por mais que faiscantes, as asas inquietas do voo romntico.
Tambm se pode ponderar que, se, como quer Wagner, a tarefa de
construo de uma conscincia da inveno constitui o objetivo e a cul-
minao das cincias sociais (1981:158), nada pode ser mais oportuno do
que buscar a conscincia dos modos pelos quais se d e se cultiva e se
defende entre ns a inveno... da inveno.
Recebido em 11 de novembro de 2012
Aprovado em 11 de novembro de 2012
Luiz Fernando Dias Duarte professor titular do Programa de Ps-Graduao
em Antropologia Social/ Museu Nacional/ UFRJ. E-mail:< lfdduarte@uol.
com.br>
O PARADOXO DE BERGSON 436
Notas
* Conferncia apresentada no Concurso para Professor Titular de Antropologia So-
cial na Universidade Federal do Rio de Janeiro (Departamento de Antropologia, Museu
Nacional), em 4 de setembro de 2012 aqui publicada com seu aparelhamento crtico.
1
Todas as tradues de trechos originalmente em lngua estrangeira so de
minha autoria.
2
Como possvel que um filsofo, notrio pelo lugar que reserva afetividade e
experincia vivida, se encontre, ao tratar de um problema etnolgico, na posio oposta
daqueles que, entre os etnlogos, se poderia considerar que sob todos os outros pontos
de vista tm uma posio doutrinal prxima da sua ? (Lvi-Strauss 1969:133; meu
grifo). Lvi-Strauss desenvolve o tema por vrias pginas, sublinhando as curiosas ana-
logias entre os dois pensamentos e avanando na explicitao do paradoxo (:139).
3
Cada um desses nomes, tomado isoladamente, no era seno uma designao:
em conjunto, eles equivalem a uma afirmao. Dizem, com efeito, que os dois cls
so de sangue diferente (Bergson apud Lvi-Strauss 1969:135; grifos deste).
4
No so raras as reservas quanto generalizao de um romantismo, como
as de Lovejoy (1948) ou de Berlin (s/d). Trata-se, a meu ver, de uma preocupao com a
possvel inexatido das generalizaes muito abrangentes, mais do que propriamente
uma refutao do carter heurstico da categoria.
5
Trata-se de um campo de identificaes extremamente conflagrado, com as mais
variadas oposies distintivas em ao. O texto programtico favorvel de N. Denzin
(1989) associa o ps-modernismo e o ps-estruturalismo desconstruo e aos
mtodos processual-experiencial, interpretativo e fenomenolgico. Strathern,
em uma de suas obras (1992), aproxima hermenutico, desconstrutivista, ps-
modernista e ps-plural, em oposio modernista e pluralista. F. Guattari,
no entanto, em texto de 1986, ainda proclamava que: o ps-modernismo no
seno a ltima crispao do modernismo (:21). Certa vez, presidindo uma sesso
de trabalho no Encontro da ANPOCS, assisti a um jovem apresentador, frescamente
estimulado pela literatura ps, hesitar na enumerao das inmeras locues que
desejava emular, resumindo-as na locuo ps-tudo!
6
Apesar de suas sempre citadas ressalvas aplicabilidade do dualismo original
a certas condies etnogrficas tribais (Dumont 2000:216; e. g.), a hiptese da hie-
rarquia (se no necessariamente a do holismo) sempre permaneceu universalizante.
Isso ensejou ao melanesista Joel Robbins o rico desenvolvimento de seu esquema
alternativo do relacionalismo (Robbins 2009).
7
A emergncia do que se conhece hoje como cincias humanas (e particularmente
as cincias sociais) inseparvel desse movimento de ideias, em contraposio pre-
valncia da configurao racionalista nas cincias naturais (cf. Duarte 1995, 2004).
O PARADOXO DE BERGSON 437
8
Roy Wagner (1986) tambm trabalha o tema da eucaristia crist como fio de
compreenso da progressiva afirmao de uma viso realista, naturalista, ao longo
da histria da cosmologia ocidental. Opera uma reviso do tema que recua at Santo
Agostinho, mas se centra na oposio entre o realismo e o nominalismo durante a
Idade Mdia de grande interesse para meu argumento.
9
Que essa dinmica possa ser considerada anterior motivo de muita discus-
so, envolvendo a prpria constituio da cultura crist contra o pano de fundo do
judasmo e das culturas clssicas. As controvrsias que se desenham em relao aos
pr-socrticos, ao platonismo ou ao estoicismo envolvem o estatuto da razo, na ordem
do conhecimento, da responsabilidade humana e do compromisso pblico.
10
H uma longa srie de ocorrncias exemplares e significativas dessas con-
verses, como as de Friedrich Schlegel, de Charles Pguy (que Bergson considerava
um de seus melhores discpulos), de Jacques Maritain e de E. E. Evans-Pritchard,
por exemplo.
11
A questo do orientalismo inventado no Ocidente teve uma peculiar inflexo
com a proposta de C. Campbell de uma orientalizao de longo curso, envolven-
do a paulatina passagem da nfase transcendental da cosmologia crist para uma
imanncia de tipo oriental (1997). O que ele descreveu nesse registro ntima e
explicitamente relacionado com o que chamo aqui de romantismo, chegando at os
fenmenos contemporneos da contracultura e do ambientalismo. Campbell j havia
reavivado a referncia ao romantismo como processo ativo na histria ocidental em
obra anterior sobre a tica romntica (1995).
12
Uberoi se refere significativamente a um pensamento subterrneo europeu
(1984:9), explorando o modo como a tradio mstica pr-moderna se recriaria na
obra de Goethe; particularmente em sua concepo de uma natureza criadora
de formas, em processo permanente de mudana, e avessa reduo sistmica: A
natureza no tem sistema (:22, 73).
13
Uma intensa relao juvenil com o misticismo se encontra na raiz de trajetos
como os de F. Boas ou R. Bastide (cf. Duarte 2005). O significativo artigo deste ltimo
sobre a poesia como mtodo sociolgico (1983) cita, inclusive, a influncia de Berg-
son. A referncia arte pode ter desempenhado um papel anlogo na juventude de
B. Malinowski (Strenski 1982) e se manteve pulsante em obras como a de R. Wagner
(e tambm de Bastide, novamente). A sensorialidade como critrio de contraposio
ao imprio da razo aparece na trajetria de Malinowski graas publicao de seus
Dirios. Em outras biografias fica pressuposta sob a forma de crises psicolgicas mais
ou menos profundas como no caso de M. Weber, com uma ambgua referncia
ento nascente psicanlise (cf. Mitzman 1969).
14
Em todos esses casos, na verdade, o dualismo se pretende mais amplo e pro-
fundo do que o do Ocidente e seu outro; sobretudo certamente em Bateson, que se
perguntava inquieto sobre sua contraposio nos dois polos da comparao (1967).
Veja-se esse pndulo da obviao em Wagner (1986:113): Assim, no ciclo da moder-
O PARADOXO DE BERGSON 438
nidade, o da burguesia, a hierarquia e o tropo se tornam uma resistncia interna
(tornam-se, nos termos de Dumont, envergonhados), enquanto a resistncia do
ciclo medieval, a racionalidade igualitria, se torna o principal impulso e propulso
do movimento cultural (progresso).
15
Encontro de novo a referncia em entrevista de Dan Sperber, que tambm
ignora sua origem: voc tem que se sentir infeliz consigo mesmo para se tornar um
psiclogo (clnico), infeliz com sua sociedade para se tornar um socilogo, e infeliz
com ambos para se tornar um antroplogo. Disponvel em http://www.gnxp.com/
blog/2005/12/10-questions-for-dan-sperber.php. Acesso em: 13/07/2012.
16
Do mesmo modo que a metafsica nascida da razo ensina que homo
intelligendo fit omnia, a metafsica nascida da imaginao demonstra que homo
non intelligendo fit omnia; e talvez esta ltima afirmao seja mais verdadeira que
a primeira, j que o homem, ao compreender, estende seu esprito e se apossa das
prprias coisas, ao passo que, ao no compreender, faz as coisas a partir de si prprio
e, ao se transformar nelas, torna-se nelas (Vico 2001: 405 ; meu grifo).
17
Quando as palavras foram divorciadas da msica, quando o poeta come-
ou [...] a escrever vagarosamente para poder ser lido, a arte talvez ganhasse, mas
houve uma perda de mgica, de poder miraculoso. Que sabem de tudo isso nossos
crticos modernos, os contadores de slabas, especialistas em escanso, mestres de
cincia morta? Corao! Calor! Sangue! Vida! Eu sinto! Eu sou (Herder apud Berlin
1976:155).
18
Sobre Tnnies e o romantismo, cf. Arenari (2007).
19
Mitzman, em seu trabalho sobre as razes romnticas da sociologia ger-
mnica, explora o modo como a denncia da racionalizao e da reificao leva
busca de formas expressivas de vida. As funes do conhecimento, nascidas das
necessidades diretas da vida e originalmente entranhadas na prtica, desligam-
se da vida e se tornam reificadas em um mundo da cincia autnomo, puramente
terico; a religiosidade, em si mesma uma relao puramente subjetiva, busca se
objetivar em dogmas, rituais e cultos; toda atitude moral se solidifica em uma Mo-
ralidade e em normas ticas; toda atitude esttica em relao ao mundo se torna um
estilo, toda humanidade vivente, um tipo. Porm, j que essas formas no apenas
so dotadas de estabilidade objetiva, mas tambm exigem prevalecer no plano
normativo, enquanto, por outro lado, a vida criativa, comparvel a uma torrente,
nunca pode parar, nunca pode se deixar limitar por essas normas de fundo temporal,
levanta-se a questo da relao entre os poderes criativos e as formas criadas, entre
o esprito subjetivo e o objetivo (Mitzman 1966:67; meu grifo). A citao longa,
mas relevante, por recolher diversos pontos de minha argumentao a respeito da
configurao romntica.
20
Um dos trabalhos mais significativos para a explorao da compreenso
romntica o que dedicou P. Berger (1978) relao entre a sociologia fenomenol-
gica de Alfred Schtz e a obra literria de Robert Musil. Ressalta-se a o parentesco
O PARADOXO DE BERGSON 439
entre a teoria das mltiplas realidades ou das provncias finitas de significado
com o absurdo tematizado em Musil sob a imagem de uma outra condio der
andere Zustand (:343) um estranhamento ou reduo (epoch fenomenolgica) da
atitude natural (:348).
21
Para uma apresentao exemplar das ambies nominalistas contemporne-
as, ver Mohler (1979). Como ele diz : aps a virada nominalista, todas as coisas se
tornam decididamente elas mesmas, e no mais a sombra de algo que se esconde
atrs delas (:18). O amor pela vida a aparece claramente, iluminando parte de
seu essencial estatuto no horizonte ps (:17). Sobre a relao entre o romantismo e
o pragmatismo, herdeiro do nominalismo, ver Wheeler (1993).
22
Majer era um tpico Volkskndler (folclorista), especializado em bramanismo e
em mitologia escandinava, tendo publicado ainda em 1798 seu Zur Kulturgeschichte
der Vlker [Por uma histria cultural dos povos].
23
Que permite, por exemplo, que se possa (e continue a) falar dos Hagen, dos
Inuit ou dos Yanomami, apesar de todas as reservas processualistas ou perspectivistas
quanto s suas cosmologias e socialidades.
24
Os exemplos desse privilgio do devir sobre o ser na ontologia romntica
abundam. J Goethe expressava essa nfase em seus aforismos sobre a natureza,
como na frase citada exemplarmente por Uberoi: A natureza: ela est eternamente
a criar novas formas [] Ela completa; e ainda assim nunca terminada (1984).
Sua morfognese botnica envolvia uma compreenso da forma como transformao
permanente, desafiadoramente articulada com a forma primordial (associvel
noo lvi-straussiana de estrutura, como prope Severi [1988]). Hlderlin traduziu
a noo em sua obra Das Werden im Vergehen [O Devir na Dissoluo], j em 1799.
Toda a dedicao da Naturphilosophie natura naturans revela essa disposio em
entender o ser em fluxo, tal como encarnado no modelo da vida.
25
Cf. Dumont (2000:210). Significativamente, a monadologia foi um tema caro
ao Naturphilosoph G. Fechner (1995), assim como fundamental para Tarde e Deleuze
como voltarei a considerar.
26
O tema foi desenvolvido por Dumont (1991:237) retomando Simmel (que se
inspirara em Hegel) e sua oposio entre individualidade (Einzelnheit) e singulari-
dade (Einzigkeit).
27
H ecos dessa disposio em W. Blake: To Generalize is to be an Idiot;
To Particularize is the Alone Distinction of Merit.
28
A oposio entre as Naturwissenschaften e as Geisteswissenschaften desenvol-
veu-se tardiamente no sculo XIX, com o esgotamento do impulso monista original da
Naturphilosophie. Estabeleceu-se assim o dualismo caracterstico do final do sculo,
herdado pela epistemologia das cincias humanas ao longo do sculo seguinte no
sem a resistncia de espritos como o de Bergson.
O PARADOXO DE BERGSON 440
29
Veja-se, por exemplo, o que diz a respeito Lvi-Strauss: Quer isto seja motivo
de lstima ou de alegria, conhecem-se ainda zonas onde o pensamento selvagem,
como as espcies selvagens, encontra-se relativamente protegido: o caso da arte,
qual nossa civilizao concede status de parque nacional, com todas as vantagens
e todos os inconvenientes que se vinculam a uma frmula to artificial; e , sobre-
tudo, o caso de tantos setores da vida social, ainda no desbravados, e nos quais,
por indiferena ou por impotncia, e sem que saibamos por que o mais das vezes, o
pensamento selvagem continua a florescer (1970:252).
30
Viveiros de Castro, apesar de sua rigorosa profisso de f antissistemtica,
parece endossar uma dinmica desse tipo. Veja-se em Viveiros (2007, nota 77):
A pressuposio recproca [conceito de Deleuze] determina os dois polos de qualquer
dualidade como igualmente necessrios, visto que mutuamente condicionantes, mas
no faz deles polos simtricos ou equivalentes. A interpressuposio uma relao de
implicao recproca assimtrica: o trajeto no o mesmo nos dois sentidos seu
grifo; minhas chaves.
31
H uma considervel indeciso na traduo dessa categoria para as lnguas
cisrenanas, o que acaba exigindo a referncia ao original. Sublao obscuro e su-
blimao permite confuso com a traduo habitual do Sublimierung freudiano.
32
A categoria motivao recorrente em Wagner (cf. 1981:54; e.g.). A acep-
o em que se apresenta remete a um importante conjunto de categoria romnticas,
tendentes a enfatizar a fora intrnseca aos entes que caracteriza um fluxo vital.
A Trieb mais conhecida, graas sua importncia na obra freudiana, em sua traduo
atual como pulso. Mas o Streben, a disposio em esforar-se por perseguir sua
pulso, igualmente importante.
33
As referncias ao universo da criao artstica abundam, sobretudo msica,
em sua dimenso expressiva, espontnea, caracterstica do romantismo. A companhia
de Beethoven e do jazz se sucede de Rembrandt ou Rilke.
34
Como no lembrar a celebrada apoteose da vida em Goethe: Cinzenta toda
teoria, e verde a rvore de ouro da vida (Fausto I, linhas 2038-39, apud Gusdorf
1985:85).
35
O prprio Dumont, alis, recorre ao valor diacrtico da vida, em sua evidente
mas contida admirao pela configurao romntica: No considero como ideologia
o que sobraria aps a retirada de tudo o que seja verdadeiro, racional, cientfico; mas,
pelo contrrio, tudo o que socialmente pensado, acreditado, agido, a partir da hi-
ptese de que h uma unidade vivente de tudo isso, escondida sob nossas distines
habituais (1977:31; meu grifo).
36
Quando esse tipo de enfoque colocado a servio da pesquisa antropo-
lgica, torna nossa compreenso e inveno das outras culturas dependentes de
nossa prpria orientao em relao realidade, e transforma a antropologia em
um instrumento de nossa prpria autoinveno (Wagner 1981:142); A menos que
O PARADOXO DE BERGSON 441
sejamos capazes de considerar nossos prprios smbolos responsveis pela realidade
que criamos com eles, a nossa noo dos smbolos e da cultura em geral continuar
sujeita ao mascaramento com que nossa inveno encobre os seus efeitos (Wagner
1981:144; grifo do autor).
37
Ns to frequentemente consideramos dados os pressupostos mais bsicos de
nossa cultura, que nem nos damos conta disso. Uma relativa objetividade s pode ser
obtida pela descoberta do que so essas tendncias, as formas pelas quais a cultura
de cada um permite que se compreenda outra, e as limitaes que assim se impem
para tal compreenso (Wagner 1981:3).
38
A referncia a Bergson aparece em relao ao lan vital e a uma current
of life (2007).
39
Sobre a acepo de Ingold do magno valor da vida, veja-se, por exemplo:
a vida tem que ser compreendida no como uma fora animada interior, mas como a
capacidade geradora de todo esse campo englobante das foras e matrias em que as
formas emergem e se sustentam em seu lugar (2010:117). O tema aparece s vezes
como life-process (2008:77). Silva analisou com preciso o modo como um certo
individualismo desliza sob os argumentos de retotalizao entre self e organismo
(por meio de categorias tais como capacidade ilimitada, iniciativa, criatividade,
autonomia) nos processos chamados por Ingold de incorporao e engajamento
(Silva 2011:10). A disposio de luta contra o dualismo ontolgico ocidental e contra
a reificao dos entes de segundo grau (sociedade e cultura) certamente reencena,
dessa maneira, como lembra a autora, minha caracterizao de um empirismo romn-
tico. Os ingleses ps-modernos so particularmente dispostos a esse retorno a um
individualismo larvar, como tambm demonstra o caso da contempornea Christina
Toren. O argumento da luta contra um durkheimianismo garante a legitimidade
dessa toro, solidria das qualidades mais profundas de sua cultura.
40
As linhas que conectam os ancestrais a seus descendentes, de acordo com o
modelo genealgico, so linhas de transmisso, pelas quais se supe que passe, no
o impulso da vida, mas a informao, gentica ou cultural, necessria para viv-la
(Ingold 2007:115; primeiro grifo seu, segundo grifo meu).
41
Pretendo mostrar como a linha, no curso da histria, foi gradualmente des-
tituda do movimento que a suscitou. Antes o trao de um gesto contnuo, a linha
foi sendo fragmentada sob o efeito da modernidade em uma sucesso de pontos
(Ingold 2007:75; meu grifo).
42
Latour (1990: 86): Foi a prpria Igreja que tomou como ponto de honra desem-
penhar o papel da Noite que a Cincia lhe ofereceu no seu grande drama das Luzes.
43
Eric Alliez se refere a um nominalismo ontolgico em Deleuze (2001).
44
Eric Alliez fala de uma spiritualisation de lunivers (2001:19) e Didier
Debaise comenta que, em Tarde, la matire est de lesprit (2008:6).
O PARADOXO DE BERGSON 442
45
Toda espcie vivente deseja se perpetuar indefinidamente expresso de
Tarde evocada por Alliez (200:79), que remete diretamente s noes de Trieb e de
Streben, em retomada do conatus spinoziano.
46
Esse princpio to voltil, a singularidade profunda e fugidia das pessoas, sua
maneira de ser, de pensar, de sentir, que s existe uma vez e em um nico instante
(Tarde apud Vargas 2000:213). Debaise tambm desenvolve o tema da singularidade
em Tarde, a propsito da onipresente mnada (2008:5).
47
A relao do psicomorfismo universal de Tarde com a Naturphilosophie
um fio importante da genealogia romntica. Sobre Lotze e Fechner, ver sobretudo
Gusdorf (1985). interessante para meus fios, evocar as palavras de William James,
em introduo a uma obra de Fechner: Vemos como o universo para ele um ser
vivo. E penso todos admitiro que, ao conceder-lhe a vida, ele lhe d mais espessura,
lhe d mais corpo e substncia do que davam os outros filsofos que, adotando ex-
clusivamente o mtodo racionalista, atingem os mesmos resultados, mas dando-lhe
contornos extremamente delgados (James apud Fechner 1995:139; meu grifo).
48
A nfase romntica na ao, em oposio explcita palavra e ao esprito, foi
famosamente expressa pela exclamao de Goethe, no Fausto I: No comeo estava
a ao (Im Anfang war die Tat). Strathern atualiza esse valor entre muitos outros
representantes das correntes ps, reavivado por argumentos fenomenolgicos e no-
minalistas (cf. 1988: 93, 102; e.g.). A ao pode aparecer, nesse contexto etnolgico,
como a interao entre as pessoas: identity is an outcome of interaction (ibidem:
128). A relao entre agncia e fluxo, assim como entre agncia e vontade, refora
a associao que aqui persigo.
49
Veja-se, por exemplo: Necessitamos estar conscientes da forma que tomam
nossos pensamentos, pois necessitamos estar conscientes de nossos prprios interesses
nesse assunto (neste caso, os interesses dos antroplogos ocidentais na anlise de outras
sociedades (Strathern 1988:16); A inteno no a de fazer uma declarao ontolgica
no sentido de que haja um tipo de vida social baseada em premissas que se encontram
em relao oposta nossa. Antes a de utilizar a linguagem que prpria da nossa
vida social para criar um contraste que lhe seja interno (:16; meu grifo); no que a as-
sim chamada sociedade ocidental possa ser compreendida monoliticamente (:348).
50
Como se poderia no levar seriamente em conta a vida, qualquer vida?
(Viveiros de Castro 2011:135; seu grifo).
51
Em primeira instncia, esse pensamento [o de Tarde] no pode deixar de
se apresentar para ns [...] como ecoando estranhamente o outro lado de nosso pen-
samento, ou seja, aquilo que nosso pensamento v como seu outro lado, seu lado
menor, marginal, excntrico: o lado dos perdedores da histria intelectual do Ocidente
moderno (Viveiros de Castro 2012:166).
52
A oposio do xamanismo se faz a em relao epistemologia objetivista
favorecida pela modernidade ocidental (Viveiros de Castro 2002:358).
O PARADOXO DE BERGSON 443
53
O monismo naturphilosophisch oitocentista e sua derivao para dentro do
pensamento romntico do sculo XX, com implicaes filosficas e antropolgicas
to reiteradas, poderiam ser contrapostos ao ceticismo com que Viveiros de Castro
se refere tradio alternativa do Ocidente (cf. 2002:488).
54
Gusdorf associa a fortuna do conceito de natura naturans na filosofia francesa
ao trabalho de Flix Ravaisson e Jules Lachelier, enquanto mediadores da Naturphi-
losophie germnica. Lembra a relao de Bergson com Ravaisson (de quem escreveu
uma biografia crtica) e comenta, sobre a relao entre o romantismo e o barroco:
O romantismo parece propor uma radicalizao do barroco, um barroco no nvel dos
valores e no apenas no nvel dos fenmenos (1982:288).
55
Presena indelvel no apenas em Ingold, de quem estamos tratando aqui,
mas tambm em outros autores contemporneos importantes, associveis ao horizonte
ps, como Thomas Csordas e Christina Toren.
56
Schtz fora discpulo de Husserl e leitor de Bergson. Sua obra influenciou
diretamente Erving Goffman e Clifford Geertz, e, pela via deste ltimo, os ps-
-modernos norte-americanos.
57
Perdemos uma totalidade do ser que juntaria isso e tambm o outro lado.
[] O dano a separao. A sacralidade a aproximao (Bateson 1991:301-2).
58
Sua filosofia do processo devedora de Bergson e do idealismo ingls
(Bradley). Latour se refere positivamente sua obra como a de um metafsico in-
gls (1999).
59
Denzin, por exemplo, adverte que: Os tericos ps-modernos devem con-
tinuar a resistir a qualquer tentativa de absoro dessa complexidade nas leituras
hegemnicas, consensualistas, propostas pelos livros-texto e pelos enfoques mate-
rialistas (1989:22).
Referncias bibliogrcas
ALLIEZ, Eric. 2001. Diffrence et rp-
tition de Gabriel Tarde. Disponvel
em: http://multitudes.samizdat.net/
Difference-et-repetition-de. Acesso
em: 02/06/2012
ARENARI, Brand. 2007. Ferdinand Tn-
nies e o romantismo trgico alemo:
revisitando um clssico esquecido.
Perspectivas Online, Campos dos
Goytacazes, 1(4):35-49. Disponvel
em: http://www.perspectivasonline.
com.br/revista/2007vol1n4/volume%
201%284%29%20artigo4.pdf. Acesso
em: 27/02/2012
O PARADOXO DE BERGSON 444
BASTIDE, Roger. 1983. A propsito da
poesia como mtodo sociolgico.
In: Maria Isaura P. de Queiroz (org.),
Roger Bastide: sociologia. So Paulo:
tica. pp. 81-87.
BATESON, Gregory. 1967. Naven; a sur-
vey of the problems suggested by a
composite picture of a New Guinea
tribe drawn from three points of view.
Stanford: Stanford University Press.
___.
1972. Metalogue: why a swan?. In:
Steps to an ecology of mind. New York:
Ballantine Books. pp. 33-37.
___.
1991. Seek the sacred: Dartington
Seminar. In: Rodney E. Donalson
(org.), A sacred unity: further steps
to an ecology of mind. New York:
Cornelia & Michael Bessie Book.
pp. 299-313.
BENZ, Ernst. 1968. Les sources mysti-
ques de la philosophie romantique
allemande. Paris: Vrin.
BERGER, Peter. 1978. The problem of mul-
tiple realities: Alfred Schutz and Robert
Musil. In: Thomas Luckman (org.),
Phenomenology and society. Londres:
Penguin Books. pp. 343-367.
BERGSON, Henri. 1968. Matire et m-
moire: essai sur la relation du corps
lesprit. Paris: PUF.
___.
1909. Gabriel Tarde (Discursos pro-
nunciados a 12 de setembro de 1909 em
Sarlat, quando da inaugurao de seu
monumento). Disponvel em: http://
meusacaros.blogspot.com.br/2008/09/
homenagem-de-henri-bergson-gabriel.
html. Acesso em: 15/06/2012.
BERLIN, Isaiah. 1976. Vico e Herder.
Braslia: UnB.
___.
s/d. The Counter-Enlightenment.
In: Dictionary of the history of ideas.
University of Virginia Library. Dis-
ponvel em: http://xtf.lib.virginia.edu/
xtf/view?docId=DicHist/uvaGenText/
tei/DicHist2.xml;chunk.id=dv2-11;toc.
depth=1;toc.id=dv2-11;brand=default.
Acesso em: 22/07/2012.
CAMPBELL, Colin. 1995. The romantic
ethic and the spirit of modern con-
sumerism. Oxford: Blackwell.
___.
1997. A orientalizao do Ocidente:
reflexes sobre uma nova teodiceia
para um novo milnio. Religio e
Sociedade, 18(1):5-22.
COMPAGNON, Antoine. 2011. Os an-
timodernos: de Joseph de Maistre
a Roland Barthes. Belo Horizonte:
Editora UFMG.
CORBANEZI, Eder R. 2009. Bergson
na concepo deleuziana de Ser
como alterao. Primeiros Escritos,
1(1):1-18.
DEBAISE, Didier. 2008. Une mtaphy-
sique des possessions. Puissances
et socits chez G. Tarde. Revue de
Mtaphysique et de Morale, 4:1-17.
DELEUZE, Gilles. 1999. Bergsonismo. So
Paulo: Ed. 34.
___. 1991. A dobra: Leibniz e o Barroco.
Campinas: Papirus.
DENZIN, Norman. 1989. Reading/wri-
ting culture: interpreting the post-
modern project. Cultural Dynamics,
II(1):9-27.
DUARTE, Luiz F. D. & VENANCIO, Ana
T. A. 1995. O esprito e a pulso (o
dilema fsico-moral nas teorias da
Pessoa e da Cultura de W. Wundt).
Mana. Estudos de Antropologia So-
cial, 1(1):69-98.
DUARTE, Luiz F. D. 2000. Dois regimes
histricos das relaes da antro-
pologia com a psicanlise no Brasil:
um estudo de regulao moral da
pessoa. In: P. Amarante (org.), En-
saios: subjetividade, sade mental,
sociedade. Rio de Janeiro: Editora
Fiocruz. pp. 107-139.
___.
2004. A pulso romntica e as cin-
cias humanas no Ocidente. Revista
Brasileira de Cincias Sociais, 55:5-18.
___.
2005. Em busca do castelo interior:
Roger Bastide e a psicologizao no
Brasil. In: Luiz F. D. Duarte, Jane
O PARADOXO DE BERGSON 445
Russo & Ana Teresa A. Venancio
(orgs.), Psicologizao no Brasil:
atores e autores. Rio de Janeiro:
Contra Capa. pp. 167-182.
___.
2006. Formao e ensino na antro-
pologia social: os dilemas da univer-
salizao romntica. In: M. P. Grossi,
A. Tassinari & C. Rial (orgs.), Ensino
de antropologia no Brasil: formao,
prticas disciplinares e alm-fronteiras.
Blumenau: Nova Letra. pp. 17-36.
DUMONT, Louis. 1975. La communaut
de village de Munro Maine. In: La
civilisation indienne et nous. Paris:
Librairie Armand Colin. pp.111-141.
___.
1977. Homo qualis: gnse et pa-
nouissement de lidologie conomi-
que. Paris: Gallimard.
___.
1991. Homo qualis II. Lidologie
allemande. France, Allemagne et
retour. Paris: Gallimard.
___.
2000. O individualismo: uma pers-
pectiva antropolgica da ideologia
moderna. Rio de Janeiro: Rocco.
FECHNER, Gustav T. 1995 [1825]. Da
anatomia comparada dos anjos. So
Paulo: Editora 34.
FORNAZARI, Sandro K. 2004. O bergson-
ismo de Gilles Deleuze. Trans/Form/
Ao, So Paulo, 27(2):31-50.
GOETHE, Johann W. 1993 [1810]. A
doutrina das cores. So Paulo: Nova
Alexandria.
GUATTARI, Flix. 1986. Limpasse post-
moderne. La Quinzaine Littraire,
456:21.
GUSDORF, Georges. 1974. Introduction
aux sciences humaines. Essai critique
sur leurs origines et leur dveloppe-
ment. Paris: Ophrys.
___.
1974. Lhermneutique comprhen-
sive et Lhistorisme. Introduction aux
sciences humaines. Paris: Ed. Ophrys.
pp. 437-470.
___.
1976. Naissance de la conscience
romantique au sicle des lumires.
Paris: Payot.
___.
1982. Les fondements du savoir ro-
mantique. Paris: Payot.
___.
1984. Lhomme romantique. Paris:
Payot.
___.
1985. Le savoir romantique de la na-
ture. Paris: Payot.
INGOLD, Tim. 2000. The perception of
the environment: essays on livehood,
dwelling and skill. London: Routledge.
___.
2007. Lines. A brief history. London
& New York: Routledge.
___.
2008. Anthropology is not ethnog-
raphy. Proceedings of the British
Academy, 154:69-92.
___.
2010. Bringing things to life: creative
entanglements in a world of materials.
Working Paper, 15. University of Aber-
deen. Disponvel em: http://eprints.ncrm.
ac.uk/1306/. Acesso em: 09/02/2011.
KAHN, Joel S. 1990. Towards a history
of the critique of economism: the
nineteenth-century German origins
of the ethnographer s dilemma.
Man, 25(2):230-249.
KLAGGE, James C. 2003. The puzzle of
Goethes influence on Wittgenstein.
In: F. Breithaupt et al. (orgs.), Goethe
and Wittgenstein: seeing the worlds
unity in its variety. Frankfurt: Peter
Lang. Disponvel em http://www.phil.
vt.edu/JKlagge/SetGoethe.final.pdf.
Acesso em: 06/08/2012.
KULL, Kalevi. 2004. Uexkll and the
post-modern evolutionism. Sign
Systems Studies, 32:1-2.
KUPER, Adam. 1978. Antroplogos e an-
tropologia. Rio de Janeiro: Francisco
Alves.
___.
1989. Introduction. In: Conceptu-
alizing society. London & New York:
Routledge. pp. 1-16
KWA, Chunglin. 2002. Romantic and ba-
roque conceptions of complex wholes
in the sciences. In: J. Law & A. Mol
(orgs.), Complexities: social studies of
knowledge practices. Durham: Duke
University Press. pp. 23-52.
O PARADOXO DE BERGSON 446
LARVAL SUBJECTS. 2012. Gabriel Tarde
and the individuation of social classes.
Disponvel em: http://larvalsubjects.
wordpress.com/2007/09/05/gabriel-
tarde-and-the-individuation-of-social-
classes/. Acesso em: 06/06/2012.
LATOUR, Bruno. 1990. Quand les anges
deviennnent de bien mauvais messa-
gers. Terrain, 14:76-91 (Lincroyable
et ses preuves).
___.
1999. Body, cyborgs and the politics
of incarnation. In: Sean Sweeney &
Ian Hodder (orgs.), The body (Darwin
College Lectures). Cambridge: Cam-
bridge University Press. pp.127-141
___.
2000. Factures/ fractures: de la notion
de rseau celle dattachement. In :
A. Micoud, M. Peroni (orgs.), Ce qui
nous relie. La Tour dAigues: Aube.
pp. 189- 207.
___.
2004. No congelars a imagem,
ou: como no desentender o debate
cincia-religio. Mana. Estudos de
Antropologia Social, 10(2):349-376.
LAWRENCE, Christopher. 1979. The ner-
vous system and society in the scottish
Enlightenment. In: B. Barnes & S.
Shapin (orgs.), Natural order. Thousand
Oaks: Sage Publications. pp. 19-40.
LEITE, Tainah. 2011. Roy Wagner e a pul-
so romntica: antropologia e crtica
ideologia moderna em A inveno
da cultura. Trabalho apresentado
disciplina Antropologia e Filosofia, PP-
GAS/Museu Nacional/UFRJ. Mimeo.
LEVI-STRAUSS, Claude. 1969. Le tot-
misme aujourdhui. Paris: Presses
Universitaires de France.
___.
1970. O pensamento selvagem. Rio de
Janeiro: Companhia Editora Nacional.
LOVEJOY, Arthur Oncken. 1948. On the
discrimination of romanticisms. In:
Essays in the history of ideas. Balti-
more: The Johns Hopkins Press. pp.
228-253
MELONI, Maurizio. 2011. The cerebral
subject at the junction of naturalism
and antinaturalism. In: Francisco
Ortega & Fernando Vidal (orgs.),
Neurocultures. Glimpses into an ex-
panding universe. Frankfurt & Nova
York: Peter Lang. pp. 101-115.
MITCHELL, Robert & BROGLIO, Ron. 2008.
Introduction. In: Romanticism and
the new Deleuze. Romantic Circles
Praxis Series. Series Editor: Orrin N.
C. Wang. Volume Technical Editor: Jo-
seph Byrne. University of Maryland.
Disponvel em: http://www.rc.umd.
edu/praxis/deleuze/intro/intro.html.
Acesso em: 18/07/2012.
MITZMAN, Arthur. 1966. Anti-progress:
a study in the romantic roots of ger-
man sociology. Social Research,
33(1):65-85.
___.
1969. The iron cage. An historical inter-
pretation of Max Weber. New Brunswick:
Transaction Books.
MOHLER, Armin. 1979. Le tournant no-
minaliste: un essai de clarification.
Nouvelle Ecole, 33:13-19.
MUELLER, Ciema. 1992. Gnese de um
paradigma antropolgico: o cultura-
lismo na obra de Vico, Herder e
Dilthey. Dissertao de Mestrado em
Antropologia, Recife, Universidade
Federal de Pernambuco.
MULLARKEY, John. 1999. Bergson and
philosophy. Edinburgh University
Press. Disponvel em: http://pt.scribd.
com/doc/93214637/John-Mullarkey-
Bergson-and-Philosophy. Acesso em:
09/07/2012.
PEIRANO, Mariza. 1991. Os antroplogos
e suas linhagens. Revista Brasileira
de Cincias Sociais, 16(6):43-50.
ROBBINS, Joel. 2009. Relationships as
a Value: On Dumont and relational-
ism in Melanesia. Paper presented
at a session, Dumont in the Pa-
cific chaired by Joel Robbins, Serge
Tcherkezoff and Mark Mosko, 2009
annual meetings of ASAO, Santa
Cruz. Mimeo.
O PARADOXO DE BERGSON 447
ROWE, M. W. 1994. Wittgensteins romantic
inheritance. Philosophy, 69(269):327-
351 (Jul., 1994). Cambridge University
Press. Article Stable URL: http://www.
jstor.org/stable/3751491. Acesso em:
12/06/2012.
SAHLINS, Marshall. 1996. The sadness
of sweetness the native anthropo-
logy of Western Cosmology. Current
Anthropology, 37(3):395-415.
SCHLANGER, Judith. 1971. Les mtapho-
res de lorganisme. Paris: Librairie
Philosophique J. Vrin.
SELLARS, John. 1999. The point of view
of the cosmos: Deleuze, romanticism,
Stoicism. Pli, 8:1-24.
SEVERI, Carlo. 1988. Structure et forme
originaire. In: Philippe Descola
(org.), Les ides de lanthropologie.
Paris: Armand Collin. pp. 119-149.
SHWEDER, Richard. 1984. Anthropolo-
gys romantic rebellion against the
enlightenment, or theres more to
thinking than reason and evidence.
In: R. Shweder & R. Levine (orgs.),
Culture theory. Essays on mind, self
and emotion. Cambridge: Cambridge
University Press. pp. 27-66.
SILVA, Regina C. M. 2011. A teoria da
pessoa de Tim Ingold: mudana ou
continuidade nas representaes oci-
dentais e nos conceitos antropolgi-
cos?. Horizontes Antropolgicos,
17(35):357-389.
STOCKING JR., George. 1968. Matthew Ar-
nold, E. B. Tylor, and the uses of inven-
tion. In: Race, culture and evolution.
New York: The Free Press. pp. 69-90.
___.
(org.). 1989. Romantic motives. Es-
says on anthropological sensibility.
Madison: The University of Wisconsin
Press.
STRATHERN, Marilyn. 1988. The gender
of the gift: problems with women and
problems with society in Melanesia.
Berkeley, Los Angeles & London:
University of California Press.
___.
1992. Parts and wholes. Refiguring
relationships in a post-plural world.
In: A. Kuper (org.), Conceptualizing so-
ciety. Londres: Routledge. pp. 75-104.
STRENSKI, Ivan. 1982. Malinowski:
second positivism, second romanti-
cism. Man, 17(4):266-271.
TARDE, Gabriel. 2002 [1893]. Monad-
ologie et sociologie. Disponvel em:
http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/
Classiques_des_sciences_sociales/in-
dex.html. Acesso em: 19/07/2012.
UBEROI, J. P. S. 1984. The other mind of
Europe. Goethe as a scientist. Delhi:
Oxford University Press.
VARGAS, Eduardo V. 2000. Antes tarde que
nunca: Gabriel Tarde e a emergncia
das cincias sociais. Rio de Janeiro:
Contra Capa.
VICO, Gianbattista. 2001 [1744]. Principes
dune science nouvelle. Paris: Fayard.
VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. 2002.
A inconstncia da alma selvagem e
outros ensaios de antropologia. So
Paulo: Cosac & Naify.
___.
2007. Filiao intensiva e aliana
demonaca. Novos estudos CE-
BRAP, 77:91-126.
___.
2011. Zeno and the art of anthro-
pology: of lies, beliefs, paradoxes, and
other truths. Common Knowledge,
17(1):128-145.
___.
2012. Transformao na antropo-
logia, transformao da antropolo-
gia. Mana. Estudos de Antropologia
Social, 18(1):151-171.
WAGNER, Roy. 1981. The invention of cul-
ture: revised and expanded edition.
Chicago & London: The University
of Chicago Press.
___.
1986. The western core symbol. In:
Symbols that stand for themselves.
Chicago: The University of Chicago
Press. pp. 96-125.
WHEELER, Kathleen. 1993. Romanticism,
pragmatism and deconstruction.
Cambridge: Blackwell Publishers.
O PARADOXO DE BERGSON 448
Resumo
A antropologia do Ocidente, enquanto
projeto de conhecimento comparado da
experincia humana, decorre de uma
disposio em acolher a diferena e o ho-
lismo como foco e mtodo de sua lide, em
contraposio aos valores que norteiam a
cincia iluminista, redutora da complexi-
dade e potncia dos fenmenos humanos.
Porm, ao assumi-la, dirigindo-se para
as fronteiras da alteridade, no faz seno
atender justamente quele mandato
romntico interno ao Ocidente. Anali-
sam-se as caractersticas desse paradoxo,
particularmente no horizonte dos saberes
ps-modernos em sentido lato.
Palavras-chave Iluminismo, Romantismo,
Empirismo, Ps-modernismo, Holismo.
Abstract
Western anthropology, as a project of
comparative knowledge of the human
experience, is rooted in a willingness to
embrace difference and holism as focus
and method of dispute, as opposed to the
values that guide Enlightenment science,
which reduces the complexity and power
of human phenomena. In assuming this,
however, while exploring the borders of
otherness, anthropology ends up fulfill-
ing the wests internal romantic man-
date. In the present article, we analyze
the characteristics of this paradox, par-
ticularly with regards to postmodern
knowledge in the broad sense.
Key words Enlightenment, Romanticism,
Empiricism, Post-Modernism, Holism.
Você também pode gostar
- A Morte Do Sujeito em Foucault PDFDocumento13 páginasA Morte Do Sujeito em Foucault PDFLuis LeaoAinda não há avaliações
- Fundamentos Sociológicos e Antropológicos Da EducaçãoDocumento50 páginasFundamentos Sociológicos e Antropológicos Da EducaçãoP CAinda não há avaliações
- Pensamento Decolonial - ProgramaDocumento8 páginasPensamento Decolonial - ProgramaMatheus Ávila0% (1)
- Resenha Hanna ArendtDocumento7 páginasResenha Hanna ArendtFilipe CunhaAinda não há avaliações
- Atividades 7 ANO HISTÓRIADocumento11 páginasAtividades 7 ANO HISTÓRIAHistórias do MarkãoAinda não há avaliações
- Resumo para Prova de Arte - 9º AnoDocumento5 páginasResumo para Prova de Arte - 9º AnoDenise Madureira Mino100% (1)
- SZTOMPKA, Piotr - A Sociologia Da Mudança Social (Capítulo IX)Documento22 páginasSZTOMPKA, Piotr - A Sociologia Da Mudança Social (Capítulo IX)Bruno Moraes100% (1)
- ED - História Da Psicologia - Gabarito - 2022Documento21 páginasED - História Da Psicologia - Gabarito - 2022CristiellyAinda não há avaliações
- Metaprojeto - Dijon de MoraesDocumento7 páginasMetaprojeto - Dijon de MoraesSergio SudsilowskyAinda não há avaliações
- O Tempo No CinemaDocumento21 páginasO Tempo No CinemaErick MuntzAinda não há avaliações
- Religiões Institucionalizadas e UniversalistasDocumento222 páginasReligiões Institucionalizadas e UniversalistasLenoAinda não há avaliações
- Continuum - Arte ContemporâneaDocumento35 páginasContinuum - Arte ContemporâneaManoel FriquesAinda não há avaliações
- Da Rosa - Pinoquio e A Escola HipermodernaDocumento16 páginasDa Rosa - Pinoquio e A Escola HipermodernaluizgeremiasAinda não há avaliações
- O Tempo, A Ficção e A MorteDocumento261 páginasO Tempo, A Ficção e A MorteEdiglê MelloAinda não há avaliações
- Unidade 1 Atividade Nao TemDocumento4 páginasUnidade 1 Atividade Nao TemtavaressqlAinda não há avaliações
- Course Status - AVADocumento8 páginasCourse Status - AVAmarcioAinda não há avaliações
- 7391-Texto Do Artigo-50336-2-10-20201216Documento10 páginas7391-Texto Do Artigo-50336-2-10-20201216Raphael AntonioAinda não há avaliações
- Anotações Sobre A Modernidade Na Obra de Anthony GiddensDocumento7 páginasAnotações Sobre A Modernidade Na Obra de Anthony GiddensAlanny LarissaAinda não há avaliações
- Diario de DalilaDocumento350 páginasDiario de DalilaLeonardo Queiroz de MoraesAinda não há avaliações
- Pallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneosDocumento195 páginasPallamim - Arte, Cultura e Cidade. Aspectos Estético-Políticos ContemporâneospaollaclayrAinda não há avaliações
- ARQMODERNISTA4Documento26 páginasARQMODERNISTA4RosiAraujo2403Ainda não há avaliações
- Ironia e ModernidadeDocumento10 páginasIronia e ModernidadeNathalia Claro MoreiraAinda não há avaliações
- Fichamento - GORELIK, AdriánDocumento7 páginasFichamento - GORELIK, AdriánKamille BenatiAinda não há avaliações
- Cultura Do Medo e Criminalizacao Seletiva No Brasil - Wermuth, Maiquel DezordiDocumento91 páginasCultura Do Medo e Criminalizacao Seletiva No Brasil - Wermuth, Maiquel DezordiRosane SilveiraAinda não há avaliações
- Pensamento Pós-Metafísico. Estudos FilosóficosDocumento269 páginasPensamento Pós-Metafísico. Estudos FilosóficosMarina MarinaAinda não há avaliações
- O Direito À Dignidade e À Condição Humana - BitarDocumento31 páginasO Direito À Dignidade e À Condição Humana - BitarElaina ForteAinda não há avaliações
- O Dasein Como Ethos - Filosofia e Autoconhecimento - Gabriel FerrazDocumento29 páginasO Dasein Como Ethos - Filosofia e Autoconhecimento - Gabriel FerrazGabriel FerrazAinda não há avaliações
- Tese Depositada (09-2015) O DIÁRIO DE DALILA PDFDocumento294 páginasTese Depositada (09-2015) O DIÁRIO DE DALILA PDFRodrigo Sena100% (1)
- Etnicidade: Identidade e DiferençaDocumento11 páginasEtnicidade: Identidade e DiferençaTales VianaAinda não há avaliações
- Robert Kurz - Ontologia Negativa PDFDocumento16 páginasRobert Kurz - Ontologia Negativa PDFMatematica GaussianaAinda não há avaliações