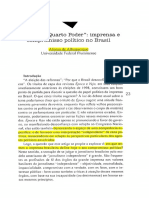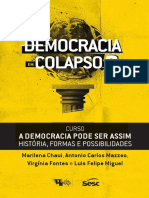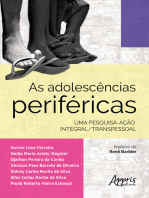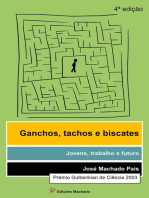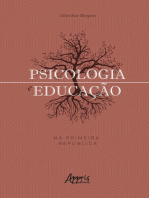Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Instituição Policial Na Ordem Democrática - o Caso Da Policia Militar Do Estado de São Paulo
A Instituição Policial Na Ordem Democrática - o Caso Da Policia Militar Do Estado de São Paulo
Enviado por
Mostarda123Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Instituição Policial Na Ordem Democrática - o Caso Da Policia Militar Do Estado de São Paulo
A Instituição Policial Na Ordem Democrática - o Caso Da Policia Militar Do Estado de São Paulo
Enviado por
Mostarda123Direitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE DE SO PAULO
DEPARTAMENTO DE CINCIA POLTICA
A Instituio Policial na Ordem Democrtica:
o caso da Polcia Militar do Estado de So Paulo
Cristina Neme
Dissertao de mestrado apresentada ao
Departamento de Cincia Poltica da
Faculdade de Filosofia, Letras e Cincias
Humanas da Universidade de So Paulo, sob
a orientao do Prof. Dr. Paulo Srgio
Pinheiro. Dezembro de 1999.
4
SUMRIO
Introduo....................................................................................................
p. 6
Captulo 1 - Polcia e Violncia Ilegal...........................................................
p. 19
1.1 Estrutura e funo da polcia militar.......................................
1.2 - Violncia policial militar.........................................................
p. 19
p. 27
Captulo 2 - Segurana Pblica e Democracia............................................
p. 42
2.1 - Polcia e Exrcito...................................................................
2.2 - A Justia Militar Estadual......................................................
2.2.1 - Origens jurdicas da instituio..........................................
2.2.2 - Estrutura da Justia militar.................................................
p. 44
p. 55
p. 65
p. 73
Consideraes Finais: Mudanas em rumo?..............................................
p. 83
Bibliografia e Fontes Pesquisadas...............................................................
p. 95
5
Resumo
Aps um longo processo de transio, a instituio da democracia no
Brasil no suprimiu as prticas arbitrrias e ilegais do regime autoritrio
instaurado em 1964. A permanncia de padres de conduta autoritrios e ilegais
dentro de instituies do Estado - como a violncia das foras policiais - um
dos graves obstculos consolidao democrtica. Esta pesquisa parte do
problema da violncia policial exercida em clara violao ordem constitucional
estabelecida em 1988, com o objetivo de abordar a instituio policial na ordem
democrtica.
Abstract
After a long process of transition, the Brazilian institution of democracy has
not terminated the arbitrary and illegal practices of the authoritarian regime
established in 1964. The permanency of the patterns of authoritarian and illegal
conduct within the institutions of the state - as is the case of police violence - is one
of the gravest obstacles to democratic consolidation. This dissertation discusses
the problem of police violence as exercised in clear violation of the constitutional
order as established in 1988 with the objective of producing a study of the police
as institution in the democratic order.
6
Para Beta e Saleme, meus pais.
7
Agradecimentos
Que fiquem expressos meus agradecimentos ao Prof. Paulo Srgio Pinheiro,
pela orientao e preciosas sugestes bibliogrficas.
Ao Ncleo de Estudos da Violncia, cujas pesquisas contriburam para esta
dissertao.
Ao CNPQ, instituio que financiou o trabalho, e ao Departamento de Cincia
Poltica, onde foi realizado.
Polcia Militar do Estado de So Paulo, por sua disposio em colaborar com
a pesquisa.
A Guaracy Mingardi e Paulo Mesquita, pelas sugestes no exame de
qualificao, e a Luiz Antonio de Souza, pelos comentrios pesquisa.
A Luciano Codato, pela reviso final do texto.
Aos amigos, Frances, J, Nando, Ana Maria e Olaya, a meus pais, Beta e
Saleme, e i rmos, Fernando e Rafael, pelo apoio.
8
Introduo
Aps um longo processo de transio, a instituio da democracia no
Brasil no acabou com as prticas arbitrrias e ilegais do regime autoritrio
instaurado em 1964. A democracia brasileira, assim como outras democracias
latino-americanas que sucederam ditaduras militares, um regime em
construo. Muitos avanos foram alcanados desde o retorno ao governo civil e
a Constituio de 1988 a principal referncia da ruptura com o autoritarismo.
Essa ruptura, contudo, no se realizou completamente. A permanncia de
padres de conduta autoritrios e ilegais dentro de instituies do Estado - como
a violncia das foras policiais - representa um dos graves obstculos
consolidao democrtica.
Este estudo parte do problema da violncia policial, exercida muitas vezes
em clara infrao ordem constitucional estabelecida em 1988, e procura
investigar as dificuldades de adaptao da instituio policial nova ordem
democrtica. Ao definir como tema de pesquisa a violncia ilegal e arbitrria da
polcia, no se pretende afirmar que a ao policial invariavelmente ilegal e
arbitrria, mas que uma margem expressiva de prticas ilegais caracteriza
muitas vezes o relacionamento da polcia com a populao, sobretudo aquela
definida por criminosos e "suspeitos". Entre estes ltimos, inclui-se uma ampla
parcela de cidados que podem ser associados criminalidade apenas em
razo de sua condio socioeconmica - pobreza, desemprego, residncia nas
periferias etc.
De maneira geral, a investigao do caso da polcia faz parte de uma
preocupao mais ampla com as dificuldades do processo de consolidao da
democracia no Brasil, onde direitos bsicos ainda so inacessveis grande
9
maioria da populao, apesar de formalmente assegurados. O presente estudo
limita sua abordagem questo da violao de direitos por instituies do Estado,
as chamadas graves violaes de direitos humanos. O enfoque dirigido mais
precisamente aos direitos civis, uma vez que as transgresses cometidas pela
polcia atentam contra tais direitos. O problema adquire relevncia especial na
medida em que as prprias instituies do Estado parecem constituir obstculos
democratizao no Brasil, no acompanhando ou mesmo resistindo a ess e
processo. Dentre outros tipos de violaes recorrentes no caso brasileiro, no
difcil reconhecer que as cometidas pela polcia, contra uma populao j vtima
de uma srie de injustias e privada de um amplo universo de direitos, merecem
destaque e investigao.
O trabalho da Comisso Teotonio Vilela de Direitos Humanos (CTV)
contribui para demonstrar a gravidade do problema. Dedicada promoo e
defesa dos direitos fundamentais da pessoa humana, a Comisso realiza uma
atividade de denncia das infraes aos direitos humanos praticadas por
agentes do Estado e de presso sobre as autoridades pblicas competentes,
com o objetivo de promover mudanas na conduta das instituies. Seus
esforos se concentram nas principais formas de violaes, dentre as quais
encontram-se aquelas exercidas por agncias encarregadas do controle da
violncia, como os sistemas penitencirio e judicial e as foras policiais. Uma
consulta a seus arquivos comprova que o problema da violncia policial
cotidiano e recorrente.
1
Que o relacionamento da polcia com uma grande parte da populao seja
indiscutivelmente marcado pela violncia, algo que se pode constatar de forma
bastante objetiva. Essa percepo confirmada pela pesquisa desenvolvida no
Ncleo de Estudos da Violncia (NEV) da USP
2
, que vem produzindo nos ltimos
anos um banco de dados sobre violaes de direitos registradas na imprensa a
1
Criada em 1983, a Comisso Teotonio Vilela funciona no Ncleo de Estudos da Violncia/USP.
Parte desta pesquisa se deve participao nos trabalhos da Comisso no perodo de 1992 a
1994.
2
Pinheiro, P. S., Adorno, S., Cardia, N. Continuidade Autoritria e Construo da Democracia.
Projeto Integrado de Pesquisa. So Paulo, NEV, USP.
10
partir da dcada de oitenta no Brasil. Na fase inicial da pesquisa, realizada a
coleta de dados sobre a violncia policial, pode-se observar claramente a
freqncia e o carter sistemtico das violaes de direitos por parte de agentes
policiais, seguindo um padro semelhante ao verificado no trabalho cotidiano da
Comisso Teotonio Vilela.
Em face das evidncias, e reconhecendo que a violncia um problema
inerente instituio policial, seja qual for a polcia, este estudo toma por objeto
de anlise a Polcia Militar do Estado de So Paulo, a maior fora policial do
Estado, cuja principal atribuio executar o policiamento ostensivo, atividade
que a mantm em contato direto com a populao.
Violncia policial no Brasil
A violncia policial no novidade na histria brasileira. Uma bibliografia
bastante diversificada comprova que ela sempre se fez presente, sobretudo
contra as classes populares, tanto em perodos de regimes polticos autoritrios
quanto democrticos.
3
Ela est presente no perodo republicano, no Estado Novo
e no regime autoritrio instaurado em 1964
4
, e apesar de a represso se
especializar e intensificar nos regimes de exceo, as arbitrariedades policiais
no cessam durante os perodos de normalidade democrtica.
5
Se no constitui
fenmeno recente, permeando a histria do pas independentemente do regime
3
A violncia da polcia, alm de ser tratada em bibliografia especializada, como se ver a seguir,
tambm aparece em bibliografia no especializada, em memrias e biografias nas quais os
autor es, ao reproduzir o cotidiano de cidades brasileiras e mudanas polticas e sociais, fazem
referncias constantes presena da violncia policial. Entre outros, ver NOGUEIRA FILHO, P.
Ideais e Lutas de um Burgus Progressista; RAMOS, G. Infncia; TORRES, A. Pasquinadas
Cariocas; AMERICANO, J. So Paulo Nesse Tempo (1915-1935); REGO, J. L. Meus Anos Verdes;
MELO, O. A Marcha da Revoluo Social no Brasil; VERSSIMO, E. Solo de Clarineta. A propsito:
NEME, C. Relatrio de Iniciao Cientfica/FAPESP (1992): Evoluo das Formas de Represso
em So Paulo.
4
PINHEIRO, P. S. Violncia e Cultura e Violncia do Estado e Classes Populares; HALL, M. e
PINHEIRO, P. S. Alargando a Histria da Classe Operria: Organizao Lutas e Controle;
PINHEIRO, P. S.; SADER, E. O controle da polcia no processo de transio democrtica no
Brasil; LEAL, V. N. Coronelismo, Enxada e Voto.
5
PINHEIRO, P. S.; SADER, E. O controle da polcia no processo de transio democrtica no
Brasil in: Temas IMESC, So Paulo, 2 (2), 1985.
11
poltico em vigor, a violncia policial apresenta uma variao de sua intensidade e
do alvo atingido. No regime militar, os agentes de segurana reprimiram
violentamente os opositores polticos, promovendo uma especializao das
tcnicas repressivas. No contexto democrtico, os agentes policiais empregam a
violncia ilegal no combate criminalidade comum e contra os marginalizados de
uma sociedade excludente.
Sem desconsiderar essa longa tradio da violncia policial no Brasil,
parece pertinente concentrar-se nas evidncias de continuidade de certas
prticas caractersticas do regime autoritrio instaurado em 1964 no perodo de
redemocratizao ps-1988. Se a exacerbao da violncia pelas agncias de
segurana no perodo autoritrio um fato, no menos notrio agora o fato de o
regime democrtico no ter dado uma soluo satisfatria ao problema da
violncia policial.
6
Apesar de verificar-se em momentos diferentes da histria
brasileira, o contexto atual de redemocratizao, com a instituio de um regime
constitucional cuja carta de direitos a mais abrangente de nossa histria,
exige uma abordagem do problema. No convm acostumar-se violncia
policial, aceitando naturalmente a persistncia desse fenmeno na sociedade
brasileira. Da a necessidade de investigar por que os avanos na direo da
democracia, sobretudo os relacionados proteo dos direitos civis, no foram
suficientes para adaptar a Polcia Militar nova ordem. Reconhece -se a
significao dos avanos ocorridos na prpria PM, entre os quais destacam-se
as mudanas promovidas na formao dos policiais e os projetos elaborados
pela instituio com o objetivo de aproximar a polcia sociedade, como a
criao dos Consegs (conselhos de segurana), e mais recentemente o programa
de policiamento comunitrio. Se bem-sucedidas, tais iniciativas certamente
sero fundamentais para a constituio de uma polcia democrtica, mas no
consistem em medidas diretamente voltadas conteno da violncia policial.
6
No se afirma que o regime instaurado em 1964 foi mais violento que outros regimes de
exceo, pois no h estudos comparativos sobre a violncia policial brasileira em seus diversos
perodos histricos. a partir da dcada de 80 que os nmeros da violncia policial passam a ser
coletados e sistematizados. Interessa apenas enfatizar que o problema se agrava durante as
ditaduras e que a influncia exercida pelo regime poltico de 1964 sobre as polcias militares foi
12
Ainda so poucas e sofrem resistncia da corporao as tentativas de
estabelecer um controle efetivo da atividade policial, como se ver mais adiante.
Aps a redemocratizao, esclarece P. S. Pinheiro, o Estado no mais
coordena diretamente aes violentas e arbitrrias como no regime autoritrio,
porm a violncia ilegal ainda exercida por seus agentes. Diante dessa
desobedincia aos preceitos legais por parte dos agentes do Estado, ocorre um
descompasso entre o quadro formal democrtico e o funcionamento das
instituies encarregadas de sua proteo e implementao.
7
A Polcia Militar do
Estado de So Paulo - instituio cujas atribuies se definem legalmente de
acordo com os princpios democrticos expressos na Constituio Federal - no
suprimiu prticas arbitrrias comuns na ditadura, mantendo um padro de ao
conflitante com os limites impostos pela nova ordem constitucional. No se trata -
bem entendido - de atribuir um comportamento invariavelmente ilegal polcia,
mas de reconhecer que os procedimentos violentos, arbitrrios ou ilegais, por
serem incompatveis com as normas do Estado de Direito, inevitavelmente
comprometem toda a instituio, mesmo que boa parte de seu trabalho seja
realizada de acordo com a lei.
8
Os poderes pblicos, em um Estado de Direito,
devem ser exercidos no mbito das leis que os regulam, da a existncia de
mecanismos constitucionais que visam a impedir o abuso ou o exerccio ilegal do
poder, como a submisso dos atos da administrao pblica a um controle
jurisdicional.
9
verdade que o descompasso existente entre a lei e o funcionamento
efetivo da instituio no exclusividade das polcias militares. Outras
instituies do Estado brasileiro parecem no funcionar rigorosamente de acordo
com as determinaes legais, criando condies favorveis para a corrupo e o
determinante na definio de seu trabalho e ainda se faz presente nas corporaes.
7
PINHEIRO, P. S. Direitos Humanos no Ano que Passou: Avanos e Continuidades in: Os
Direitos Humanos no Brasil. Universidade de So Paulo, Ncleo de Estudos da Violncia e
Comisso Teotnio Vilela, So Paulo, NEV/CTV, 1995.
8
A atuao da polcia militar ampla e as chamadas ocorrncias sociais, que incluem vrios
tipos de atendimento populao (inclusive aqueles que no esto relacionados atividade
policial, como a realizao de partos), correspondem grande parte das ocorrncias.policiais.
9
BOBBIO, N. Liberalismo e Democracia. So Paulo, Brasiliense, 1988, p. 18-19; Estado, Governo
13
clientelismo, por exemplo. Mas se o problema da violao de direitos pelas
prprias instituies do Estado democrtico no se restringe ao caso da polcia,
esta assegura sua especificidade uma vez que possui a prerrogativa legal de
usar a fora fsica. Ao no orientar sua ao de acordo com as normas
estabelecidas, o policial transforma sua prerrogativa do uso da fora em violncia
ilegal. O resultado mais extremo desse desvio um alto nmero de mortes de
civis. Por si s, a violao desse direito fundamental e do direito integridade
fsica parece justificar um estudo da instituio a que compete a administrao,
no mbito interno, da violncia fsica monopolizada pelo Estado.
Polcia na ordem democrtica
O Estado moderno tornou-se a nica fonte do direito violncia, nos
termos de Weber, passando a deter positivamente o monoplio do uso legtimo
da violncia fsica.
10
Mesmo nas democracias mais consolidadas, a instituio
policial no possui de fato o monoplio do uso da fora, visto que tambm podem
fazer uso dela, entre outros exemplos, seguranas privados, algumas
autoridades, certos agentes hospitalares e o prprio cidado, em caso de
legtima defesa.
11
Mas para manter a idia de monoplio no necessrio, como
observa D. Monjardet, consider-la em sentido estrito. Basta ressaltar que o alvo
do recurso legal fora por outros agentes que no a polcia bastante limitado,
ao passo que o alvo da instituio policial indeterminado, a saber,
potencialmente todas as pessoas. Pode-se conservar a idia de monoplio se a
polcia mantiver a fora suficiente para regular o uso que dela feito por todos os
demais agentes. Ao exercer a regulao pblica da violncia privada, funo
e Sociedade. So Paulo, Paz e Terra, 1992, p. 96; O Futuro da Democracia, p. 103.
10
WEBER, M. A Poltica como Vocao. In: Cincia e Poltica, Duas Vocaes, So Paulo,
Cultrix, 1967; p. 55-66; El Estado racional como asociacin de dominio institucional con el
monopolio del poder legtimo in: Economia y Sociedad. Mxico, Fondo de Cultura, 1944, vol. 2.
11
OCQUETEAU, F. A Expanso da Segurana Privada na Frana. In: Tempo Social , 9 (1), 1997;
BRODEUR e REINER apud MONJARDET, D. Ce que fait la police, 1996, pp. 18-19,
14
elementar em toda sociedade, a instituio preserva o monoplio do uso da fora
fsica em relao a todos os outros usos especficos.
12
De acordo com a anlise weberiana, o monoplio estatal da violncia se
justifica como um meio de pacificar a sociedade e possibilitar a convivncia em
um grande grupo social. Os governantes dispem de instituies autorizadas a
empregar a violncia fsica quando necessrio, a fim de evitar que a ela recorram
todos os outros cidados. Em todo caso, o monoplio da violncia fsica, como
observa Elias, uma inveno social ambgua: se por um lado tem por funo
fundamental a pacificao da sociedade, por outro um instrumento que pode
ser usado muito mais em benefcio daqueles que o controlam - governantes e
agentes - do que da prpria sociedade.
13
As normas do Estado de Direito
democrtico impem limitaes ao poder estatal justamente para coibir esses
possveis desvios, e por essa razo as Foras Armadas e a Polcia so os
rgos autorizados a administrar a violncia fsica apenas em conformidade aos
estatutos legais. a partir desse aspecto essencial, assinalado por Elias, que se
considera o problema da violncia policial brasileira: seja em benefcio dos
governantes, seja dos agentes, fato que a violncia empregada pelas foras
policiais extrapola sua finalidade social, voltando-se com freqncia contra a
prpria sociedade. Em relao fi nalidade social da instituio policial, tem-se
como referncia os padres de uma sociedade democrtica em que a ao da
polcia regulada por leis, de acordo com as exigncias do Estado de Direito.
Na definio de E. Bittner, a polcia consiste em um mecanismo de
distribuio na sociedade de uma fora justificada por situaes em que a
soluo de problemas entre os cidados exige, ou pode exigir, o uso da fora.
14
Monjardet complementa essa formulao acrescentando que a fora
instrumentalizada por quem a comanda, e chama a ateno para os diversos fins
a que pode servir a polcia. A polcia um instrumento de aplicao de uma
12
MONJARDET, D. Ce que fait la police, 1996 p. 19.
13
ELIAS, N. Violence and Civilization: the state monopoly of physical violence and its
infringement. In: KEANE, J. (ed.) Civil Society and the State. New European Perspectives, London,
New York, Verso, pp. 179-181.
15
fora (a fora fsica, em uma primeira anlise) sobre um objeto que lhe
designado por quem a comanda. Seu carter instrumental universal, mas suas
finalidades so particulares, variando de sociedade para sociedade. Seguindo a
abordagem de Monjardet, caberia perguntar quais so as finalidades
socialmente designadas para o uso da fora fsica na sociedade brasileira. Uma
vez que so identificadas pelas prescries normativas (o Direito) e pelas
prticas observveis do instrumento
15
, sobretudo no contraste entre as leis e as
prticas que se evidencia o modo como a instituio - a Polcia Militar do Estado
de So Paulo, no caso deste estudo - emprega a violncia fsica monopolizada
pelo Estado.
Monoplio da violncia fsica
Antes de abordar o problema do desvirtuamento da funo policial exposto
por Elias, convm insistir na questo do monoplio, visto que boa parte dos
trabalhos sobre a polcia retoma Weber para defini-la como o aparelho de Estado
responsvel pela manuteno do monoplio da fora fsica no mbito interno. Se
a polcia um mecanismo necessrio para garantir o monoplio do uso da fora,
requisito essencial para a formao do Estado moderno, no se pode desprezar
que tal condio no se tenha efetivado completamente em todos os Estados
nacionais. So expressivas as diferenas entre o contexto brasileiro e de outros
pases latino-americanos, de um lado, e o contexto das democracias
consolidadas europias ou norte-americanas, cujas instituies policiais so
adotadas como referncia por seu enquadramento relativamente bem-sucedido
s exigncias do Estado de Direito. Essa diferena deve ser apontada,
considerando-se que o contexto de atuao da polcia tambm um fator
relevante para a compreenso de seus problemas. No se trata de justificar as
deficincias da polcia em razo do contexto scio-poltico do pas, apenas
14
BITTNER apud MONJARDET, D. Ce que fait la police, op. cit., p. 15.
15
MONJARDET, D. Ce que fait la police, pp. 16-17.
16
indicar um dado a mais que deve ser levado em conta para que se possa
compreend-las.
Em contraste com Estados europeus, que monopolizaram o direito de
exercer a violncia retirando-o dos cidados, a maioria dos pases latino-
americanos no atingiu esse objetivo de forma satisfatria.
16
Apesar de
apresentado como uma democracia formalmente avanada, o Estado
colombiano, por exemplo, parece perder cada vez mais um monoplio que nunca
possuiu completamente, pelo fato de no dominar todo seu territrio. So
conhecidas as regies em que as guerrilhas assumiram funes de Estado e os
bairros controlados por mfias que pagam aos policiais para serem deixados
em paz.
17
Uma boa frmula para introduzir os estudos sobre a polcia latino-
americana seria lembrar que se reconhece modernamente que o Estado tem ou
deveria ter o monoplio do uso da fora para a resoluo de disputas e para a
manuteno da ordem pblica.
18
No se pode dar a mesma dimenso s dificuldades que encontram os
Estados colombiano, venezuelano ou brasileiro em vista do monoplio da
violncia, nem afirmar genericamente no existir monoplio no Brasil. Mas pode-
se afirmar que as regies perifricas de metrpoles como So Paulo sem dvida
so reas em que o Estado deixa de cumprir funes bsicas como sade,
educao e segurana, e que chegam a apresentar nveis de violncia iguais ou
superiores aos de cidades dominadas pelas guerrilhas colombianas. Em 1993,
Cali apresentava a taxa de 87 homicdios por 100 mil habitantes; no distrito do
Jardim ngela, na zona sul de So Paulo, essa taxa alcanava 111 por 100 mil
habitantes em 1995.
19
16
WALDMANN, P. Introduccin. In: WALDMANN, P. (org.) Justicia en la calle. Ensayos sobre la
policia en America Latina. 1996, p.19.
17
RIEDMANN, A. La reforma policial en Colombia". In: WALDMANN, P. (org.) Justicia en la calle.
Ensayos sobre la policia en America Latina, 1996, p. 220-221.
18
GABALDN, L. G. La policia y el uso de la fuerza en Venezuela. In: WALDMANN, P. (org.)
Justicia en la calle. Ensayos sobre la policia en America Latina, 1996, p. 269 (grifos nossos).
19
Mapa de risco da violncia: cidade de So Paulo, SP, Cedec, 1996, p. 4.
17
Estudo sobre indicadores de criminalidade e violncia no municpio de
So Paulo entre 1984 e 1993 aponta o aumento de ocorrncias criminais
registradas, sobretudo a partir de 1988.
20
Os crimes violentos representam em
mdia 28,8% do total dessas ocorrncias. No perodo de 1988 a 1993, dentre os
vrios tipos de crimes violentos, os mais freqentes so roubos, leses corporais
dolosas e homicdios.
21
Roubo a primeira modalidade de crime violento mais
cometida, homicdio, a terceira. Embora em nmeros absolutos este seja bem
inferior ao primeiro, ambos os crimes apresentam tendncia de crescimento,
sendo a de roubo maior que a de homicdio.
22
Em vista de sua gravidade, o crime
de homicdio torna mais evidente a incapacidade de o Estado regular a violncia.
Uma pesquisa sobre as taxas de mortalidade por homicdio dos 96
distritos do municpio de So Paulo permite observar como a capacidade de o
Estado monopolizar a violncia varia entre as regies da cidade.
23
Se em
algumas localidades o monoplio realizado de forma satisfatria, em outras
pode-se afirmar que o Estado no exerce praticamente a regulao pblica da
violncia privada. A discrepncia expressiva: na menor taxa, correspondente ao
distrito de Perdizes, verificam-se 2,65 homicdios por 100 mil habitantes; na
maior, no distrito do Jardim ngela, esse coeficiente chega a 111,52, sendo de
43 por 100 mil habitantes a taxa geral do municpio de So Paulo. Entre os
extremos, os distritos se dividem em estratos de alto, mdio e baixo risco,
conforme suas taxas de homicdio em relao do municpio de So Paulo (43
por 100 mil). Dos 96 distritos, 22 so considerados de baixo risco, 59 de mdio e
15 de alto. Estes ltimos concentram taxas de homicdio que variam de 65 a 111
por 100 mil habitantes, em constraste significativo com os distritos mais
pacficos, cuja taxa mais alta de 18,96. Como demonstram os dados, h
20
FEIGUIN, D., LIMA, R. "Tempo de violncia: medo e insegurana em So Paulo". In: So Paulo
em perspectiva, SP, vol. 9, n 2, abr./jun. 1995.
21
Roubo e homicdio incluem tambm as tentativas.
22
FEIGUIN, D., LIMA, R. "Tempo de violncia: medo e insegurana em So Paulo", op. cit., p. 76.
De 1988 a 1993, a taxa de roubo eleva-se de 567 por 100 mil habitantes para 750,3; a de
homicdio de 41,6 para 50,2 (ambas incluem as tentativas).
23
Mapa de risco da violncia: cidade de So Paulo, op.cit. As taxas foram calculadas com base nos
dados de mortalidade de 1995 em relao aos 96 distritos do municpio.
18
territrios em que a instituio policial capaz de regular a criminalidade violenta,
e outros em que o monoplio do uso da fora pelo Estado irrisrio ou quase
no existe. Na realidade, a diviso do municpio em subterritrios comprova a
ausncia do Estado para largos contingentes da populao.
O enfoque especfico nas faixas etrias de adolescentes (15 a 19 anos) e
jovens (20 a 24 anos) revela um aumento significativo das taxas de homicdio. No
Brasil, mortes por causas externas vm aumentando desde 1980, principalmente
nessas faixas etrias.
24
No municpio de So Paulo, esse tipo de morte
corresponde a 85% do nmero de bitos de adolescentes e jovens, sobretudo do
sexo masculino. De 1980 a 1995, a taxa de mortalidade por causas externas
saltou de 152,9 para 312 por 100 mil habitantes na populao de adolescentes e
jovens do sexo masculino.
25
O homicdio, dentre as causas externas, o fator
predominante de morte violenta dessa populao. Se em 1980 os homicdios
correspondiam a 38,2% das mortes por causas externas de adolescentes e
jovens do sexo masculino, em 1985 essa proporo se elevou para 61,3%,
aumentou para 63,3% em 1990 e chegou a 71,9% em 1995. No sexo feminino,
essa proporo cresceu de 18,6% em 1980 para 45,1% em 1995, um aumento
significativo, mas cujos valores absolutos so bem inferiores aos do sexo
masculino.
26
A comparao entre a taxa geral de homicdio de So Paulo e as taxas de
homicdio da populao jovem e adolescente do sexo masculino evidencia a
gravidade da situao. Em 1995, a taxa de homicdio geral (sem distribuio por
faixa etria e por sexo) era de 43/100 mil.
27
No mesmo ano, selecionadas as
faixas etrias de 15 a 19 anos e 20 a 24 anos do sexo masculino, as taxas se
24
MELLO JORGE, M. H. P. Adolescentes e jovens como vtimas. In: PINHEIRO, P. S. et al.
(org.). So Paulo sem medo: um diagnstico da violncia urbana. Rio de Janeiro, Garamond, 1998,
p. 101. Causas externas so causas violentas, no naturais, que podem ser intencionais ou no-
intencionais e compreendem acidentes de todos os tipos, suicdios e homicdios (p. 97).
25
Idem, p. 105.
26
Idem, pp. 108-116.
27
Mapa de risco da violncia: cidade de So Paulo, op. cit., p. 4.
19
elevam para 186,7 e 262,2 respectivamente.
28
De 1980 a 1995, a taxa de
homicdio cresceu de modo expressivo nessa populao de 15 a 24 anos: em
1980 ocorriam 58,8 homicdios por 100 mil habitantes; em 1985 esse coeficiente
saltou para 168,8, em 1990 para 197,9 e em 1995 para 224,7
29
, ano em que se
tornou fator de 71,9% das mortes por causas externas.
Como se pode observar, a proporo de homicdios vem aumentando
aceleradamente, tornando-se a principal causa de morte de jovens e
adolescentes, sobretudo do sexo masculino, sendo a arma de fogo o principal
meio empregado.
30
A populao de adolescentes e jovens a mais atingida,
principalmente os ltimos, apresentando as maiores taxas de homicdio da
cidade. Anlise das taxas de homicdio da faixa etria entre 20 e 24 anos nas
oito delegacias seccionais de polcia do municpio de So Paulo indica como
essas mortes se distribuam espacialmente em 1995. A 6 seccional (Santo
Amaro) apresentava a maior taxa, 175,4 por 100 mil habitantes, seguida pela 8
(Guaianazes) e pela 7 (Itaquera), cujas taxas correspondiam a 146,6 e 112,7
respectivamente.
31
O estudo sugere uma associao entre condies socioeconmicas e
risco de violncia. As trs seccionais mais violentas tiveram as piores avaliaes
em condies socioeconmicas: a seccional de Santo Amaro apresentou a
maior taxa de homicdio e foi classificada em penltimo lugar em condies
socioeconmicas; a de Guaianazes apresentou a segunda maior taxa de
homicdio e a pior posio em condies socioeconmicas, seguida pela de
Itaquera, com a terceira maior taxa de homicdio e a terceira pior posio em
28
Idem, p. 110.
29
Idem, p. 116.
30
Idem, p. 110.
31
Mapa de risco da violncia: cidade de So Paulo, op. cit., pp. 7-8. Essas taxas se referem a jovens
de ambos os sexos e a mdia das 8 seccionais de 105 homicdios por 100 mil habitantes. Se
fossem considerados apenas os homicdios de homens entre 20 e 24 anos, as taxas se
elevariam. No estudo de M. H. P. Mello Jorge, a taxa de homicdio par a a mesma faixa etria em
1995 superior (135,6 por 100 mil), sendo 262,2 para o sexo masculino e 16,2 para o feminino
(MELLO JORGE, M. H. P. Adolescentes e jovens como vtimas. In: PINHEIRO, P. S. et al.
(org.). So Paulo sem medo: um diagnstico da violncia urbana, op. cit., p. 110). A variao
provavelmente se deve diferena das fontes consultadas em cada pesquisa.
20
condies socioeconmicas.
32
Outros estudos tambm identificam na zona sul da
cidade, na rea relativa 6 delegacia seccional de polcia, a maior
concentrao de homicdios. Essa situao se verifica desde o incio da dcada
de 80: na regio de Santo Amaro localiza-se a maioria dos distritos com maior
ndice de homicdios entre 1982 e 1995.
33
Constata-se ento a variao do risco
de violncia por faixa etria e por regio da cidade de So Paulo: so
adolescentes e jovens do sexo masculino, sobretudo os ltimos, residentes na
periferia (zonas sul e leste) e nas regies mais pobres, com piores condies
socioeconmicas, as maiores vtimas de homicdio.
34
No possvel ignorar a diferena de realidades na discusso da
instituio policial. Na Amrica Latina, com algumas excees, o Estado no vem
cumprindo sua funo de pacificao, no logrou submeter nem cidados nem
seus prprios organismos a um controle conseqente.
35
Os dados comprovam
que o Brasil no se encontra entre as excees, e juntamente com Cuba e
Colmbia apresenta tendncias crescentes de mortalidade por causas
externas.
36
No caso de So Paulo, observa-se que os indicadores de violncia
variam entre as diversas regies e que a incapacidade estatal de regular a
violncia muito maior nas periferias, onde so mais intensos os conflitos
violentos dentro dos grupos sociais e entre a polcia e a populao. Da a guerra
de todos contra todos, pois no h controle dos grupos sociais nem dos
organismos estatais: os habitantes se matam e so mais facilmente mortos pela
polcia.
32
Mapa de risco da violncia: cidade de So Paulo, op. cit., p. 8.
33
MINGARDI, G. O Estado o o crime organizado, So Paulo, Instituto Brasileiro de Cincias
Criminais, 1998, p. 137; FEIGUIN, D., LIMA, R. "Tempo de violncia: medo e insegurana em
So Paulo". In: So Paulo em perspectiva, SP, vol. 9, n 2, abr./jun. 1995, p. 78.
34
Observe-se ainda que h diferena de risco por regio conforme o tipo de crimimalidade: os
crimes contra o patrimnio concentram-se nas regies com melhores condies scio-
econmicas, j os crimes contra a vida, nas perifricas (Mapa de risco da violncia).
35
WALDMANN, P. Introduccin. In: Justicia en la calle. Ensayos sobre la policia en America Latina.
1996, p. 21.
36
Mapa de risco da violncia: cidade de So Paulo, op. cit., p. 3.
21
Captulo 1 - Polcia e Violncia Ilegal
1 - Estrutura e funo da polcia
No Brasil, so as polcias estaduais - Polcia Civil e Polcia Militar - que
realizam a maioria das atividades policiais. Ambas esto subordinadas ao
governador de Estado e tm suas atribuies definidas na Constituio Federal e
nas Constituies Estaduais. A polcia civil exerce funes de polcia judiciria e
apurao das infraes penais, exceto as militares, e polcia militar cabem o
policiamento ostensivo e a preservao da ordem pblica.
37
Em suma, a polcia
civil faz investigao e a militar responsvel pelo policiamento ostensivo e
preventivo. Essas atribuies so regulamentadas em decretos-lei federais e
estaduais e em lei complementar, no caso das polcias paulistas.
A configurao atual da Polcia Militar do Estado de So Paulo data de
1970, quando o decreto-lei estadual n 217 determinou a unificao das duas
polcias fardadas ento existentes, Fora Pblica e Guarda Civil, sob a
denominao de Polcia Militar do Estado de So Paulo.
38
Constituiu-se ento a
Polcia Militar com os integrantes da Fora Pblica, que permaneceram com os
mesmos postos e graduaes de que eram titulares, e com o aproveitamento de
componentes da Guarda Civil, de acordo com as condies impostas pelo
decreto, que criou igualmente um Quadro em Extino da Guarda Civil de So
Paulo, pelo qual os componentes da corporao extinta tambm poderiam
37
Constituio Federal, Artigo 144, pargrafos 3 e 5 .
38
Fica constituda a Polcia Militar do Estado de So Paulo, integrada por elementos da Fora
Pblica do Estado e da Guarda Civil de So Paulo, na forma deste Decreto-Lei... (Decreto-Lei
estadual n 217, de 8 de abril de 1970, art. 1 ).
22
optar
39
. A legislao referente extinta Fora Pblica foi aplicada Polcia
Militar
40
, mantendo-se a estrutura militar da Fora Pblica e extinguindo-se a
Guarda Civil. Na prtica, "Polcia Militar do Estado de So Paulo" foi a nova
denominao dada Fora Pblica.
41
A competncia das polcias militares definida pelo decreto-lei federal
667/69 e, no Estado de So Paulo, pelo decreto-lei 217/70, que segue as
disposies do federal. O decreto 667 reorganizou as polcias militares e corpos
de bombeiros dos Estados e permanece em vigor com algumas alteraes.
Definindo a competncia das polcias militares, atribui -lhes com exclusividade a
execuo do policiamento ostensivo, fardado.
42
Alm disso, determina-lhes a
competncia para atender convocao, inclusive mobilizao, do governo
federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir grave perturbao
da ordem ou ameaa de sua irrupo, subordinando-se Fora Terrestre para
emprego em suas atribuies especficas de polcia militar e como participante
da Defesa Interna e da Defesa Territorial
43
- reafirmando a condio das polcias
militares de foras auxiliares e reserva do Exrcito, prevista pela Constituio
Federal
44
, que ratificou a determinao da legislao anterior a esse respeito. A
atribuio de policiamento ostensivo sua principal atividade, exercida
cotidianamente.
Ao decreto-lei 667 seguem-se dois decretos federais para
regulamentao das polcias militares e dos corpos de bombeiros,
estabelecendo princpios, normas e conceitos para a aplicao do 667/69. O
decreto 66.862/70 (8/7/1970) define policiamento ostensivo como a ao policial
39
Decreto-Lei estadual n 217, .art. 2 , 3 e 7 .
40
Decreto-Lei estadual 222, de 16 de abril de 1970, art. 1 .
41
As origens da Polcia Militar do Estado de So Paulo remontam ao ano de 1831, quando foi
criada a Guarda Municipal Permanente. A partir de ento, a fora policial paulista, que se
consolidou durante a Primeira Repblica, mudaria de nome vrias vezes - Corpo Policial
Permanente, Fora Pblica Estadual, Fora Policial, Fora Pblica, Fora Pblica do Estado de
So Paulo - at tornar-se Polcia Militar do Estado de So Paulo, com a unificao das polcias
fardadas em 1970.
42
Decreto-Lei federal 667/69, art. 3 , a.
43
Decreto-Lei federal 667/69, art. 3 , d.
44
Art. 144, pargrafo 6 .
23
em cujo emprego o homem ou a frao de tropa engajados sejam identificados
de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, armamento ou viatura.
45
O
decreto 88.777 (30/9/1983) substitui o anterior e introduz algumas modificaes,
destacando a exclusividade das polcias militares na execuo do policiamento
ostensivo e sua finalidade de manuteno da ordem pblica. Desde ento,
policiamento ostensivo a ao policial, exclusiva das Polcias Militares, em cujo
emprego o homem ou a frao de tropa engajados sejam identificados de
relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, armamento ou viatura,
objetivando a manuteno da ordem pblica. O policiamento ostensivo
classificado em vrios tipos: policiamento ostensivo normal, urbano e rural; de
trnsito; florestal e de mananciais; ferrovirio e rodovirio, nas estradas
estaduais; porturio; fluvial e lacustre; de radiopatrulha terrestre e area; de
segurana externa dos estabelecimentos penais do Estado; e outros fixados em
legislao estadual.
46
No Estado de So Paulo, alm dos relacionados acima,
incluem-se o policiamento de locais e recintos destinados prtica de desportos
ou diverses pblicas, vias e logradouros pblicos, reparties pblicas e
recintos fechados de freqncia pblica, prdios e recintos particulares.
47
Verifica-se a dimenso da competncia da PM pelo amplo e diferenciado
conjunto de funes que lhe atribudo. Com efetivo previsto de 88.308 policiais,
a maior polcia do Estado de So Paulo e do Brasil. Para termos de
comparao, o efetivo da Polcia Civil paulista no atinge 30 mil policiais.
Estrutura organizacional da Polcia Militar
45
Decreto 66.862, art. 2 , 13.
46
Decreto 88.777/83, art. 2 , 27. Alterando a disposio do decreto anterior, esse decreto
condicionou a possibilidade de institui o de outros tipos de policiamento ostensivo por meio da
legislao estadual aprovao do Exrcito: outros fixados em legislao da Unidade Federativa,
ouvido o Estado-Maior do Exrcito atravs da Inspetoria-Geral das Polcias Militares.
47
Decreto-lei estadual 217/70, art. 9 .
24
A carreira policial militar se divide em duas categorias - praas e oficiais -
com suas respectivas subdivises hierrquicas. Em ordem crescente de
hierarquia, os praas atuam nos postos de soldado, cabo, 3 sargento, 2
sargento, 1 sargento e subtenente; os oficiais, nos postos de 2 tenente, 1
tenente, capito, major, tenente-coronel e coronel. Entre as duas categorias,
encontram-se os praas especiais de polcia, designao dada ao aluno oficial e
ao aspirante a oficial (recm-formado no curso de formao de oficiais). A
grande maioria da corporao constituda por praas (94,3%); os oficiais -
superiores hierrquicos que ocupam os postos de comandantes, chefes,
diretores e instrutores, dirigindo as diversas sees da instituio - totalizam
5,7% do efetivo. Na pgina seguinte, o organograma apresenta essa estrutura
hierrquica.
25
Estrutura Hierrquica da Polcia Militar
OFICIAIS DE POLCIA
PRAAS ESPECIAIS DE POLCIA
PRAAS DE POLCIA
2 SARGENTO
TENENTE-CORONEL
MAJOR
1 TENENTE
2 TENENTE
SUBTENENTE
ASPIRANTE A OFICIAL
ALUNOS DA ESCOLA DE FORMAO DE OFICIAL DA
POLCIA
1 SARGENTO
3 SARGENTO
CABO
SOLDADO
CAPITO
CORONEL
26
A hierarquia se divide em 13 nveis e se assemelha do Exrcito, com
exceo do posto de general, que no existe na polcia. Essa excessiva diviso
reflete uma rigidez hierrquica que condici ona todo o funcionamento da
organizao policial.
H na corporao duas carreiras - uma para oficiais e outra para praas
de polcia militar - marcadas por forte distino hierrquica. A forma de ingresso
diferenciada para ambas as categorias: os oficiais freqentam o Curso de
Formao de Oficiais
48
, no qual ingressam mediante concurso pblico; j os
praas prestam um outro concurso pblico e fazem o Curso de Formao de
Soldados oferecido pela PM. Concluda a formao, o policial passa a integrar
os quadros da instituio, de oficiais e praas, ocupando os postos e
graduaes iniciais da escala hierrquica.
49
O efetivo da corporao majoritariamente masculino (93,6%). Essa
diferena acentua-se ao analisar-se o quadro de oficiais: 97,3% homens e 2,7%
mulheres. Dos 5,7% de oficiais, h apenas 0,15% de oficiais do sexo feminino.
Efetivo Previsto
Oficiais Praas Total
Masculino 4873 77814 82687
Feminino 136 5485 5621
Total 5009 83299 88308
Fonte: Decreto 41.136, de 4/9/1996
O efetivo de oficiais distribudo em sete quadros: Quadro de Oficiais de
Polcia Militar (QOPM), Quadro Auxiliar dos Oficiais da Polcia Militar (QAOPM),
Quadro de Oficiais de Administrao (QOA), Quadro de Oficiais de Sade
48
Trata-se de um curso superior (3 grau) com durao de 4 anos oferecido pela Academia de
Polcia Militar do Barro Branco, localizada na cidade de So Paulo. Cursos de especializao,
tambm oferecidos pela Polcia Militar, so exigidos para ascenso na carreira alm do posto de
capito.
49
Posto o grau hierrquico do oficial e graduao o grau hierrquico do praa.
27
(QOS), Quadro de Oficiais de Polcia Feminina (QOPF), Quadro de Oficiais
Especialistas (QOE)
50
, Quadro de Oficiais Capeles (QOC).
Efetivo Previsto para os Quadros de Oficiais
Coronel Ten Cel Major Capito Tenente SOMA
QOPM 51 178 276 822 2450 3777
QOPF 2 6 8 27 93 136
QOS Mdicos
Dentistas
Farmacuticos
Veterinrios
1 5
1
1
1
22
5
3
1
40
25
4
2
345
154
12
6
413
185
20
10
QOC 1 1 2 2 6
QOE 1 2 13 16
QAOPM 18 40 388 446
TOTAL 54 193 335 964 3463 5009
Fonte: Quadro Particular de Organizao da Polcia Militar.
Efetivo Previsto de Praas
QPM-0 (combatentes) Outros (msicos e auxiliares) total
Sten. 1 sgt. 2 /3 sgt. cabo sold. Sten. 1 sgt. 2 /3 sgt. cabo sold.
607 2184 8936 11008 53364 72 290 1074 874 4800 83299
Fonte: Decreto 41.136/1996.
Dentre esses efetivos, destacam-se o Quadro de Oficiais de Polcia Militar
(QOPM), tambm denominados combatentes, que correspondem a 75% dos
oficiais da Polcia Militar e dominam as atividades administrativas e
operacionais, e o Quadro de Praas Combatentes (QPM-0).
de notar a imensa burocracia sustentada pela PM. A existncia de
quadros de oficiais que escapam atividade policial sugere uma montagem da
estrutura de forma a dar grande autonomia corporao, assegurando sua auto -
suficincia.
51
50
So os msicos.
51
No se tem a posio oficial da corporao a respeito desta questo, mas em seminrio
realizado pelo NEV para debater a formao do policial militar, representantes da PM avaliaram
negativamente a existncia de quadros de oficiais que escapam atividade policial, como
mdicos ou dentistas. NEV/CEE, Relatrio de Pesquisa: Democracia e Direitos Humanos, 1998.
28
O efetivo alocado em unidades operacionais e administrativas.
52
A
administrao est concentrada basicamente em sete diretorias (DAL, DAMCO,
DEI, DF, DP, DS e D.Sist)
53
e o trabalho operacional estruturado sob trs
comandos: Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando do Corpo
de Bombeiro (CCB) e Comando de Policiamento do Interior (CPI).
54
Tanto as
diretorias quanto os grandes comandos formam, juntamente com o Comandante-
Geral e seu Estado-Maior (assessoria), a cpula da PM ou o Alto Comando -
todos cargos de confiana do comandante-geral, nomeado pelo governador do
Estado. Este estudo concentra-se na estrutura operacional da PM, visto que o
policial se relaciona diretamente com a populao ao desempenhar essa
atividade.
As unidades policiais militares responsveis pelas reas da capital,
Grande So Paulo e do interior do Estado se estruturam sob os trs grandes
comandos. Considerando-se no caso o CPM e o CPI, seguem-se em ordem
decrescente de hierarquia os Comandos de Policiamento de rea Metropolitano
(CPA/M) e os Comandos de Policiamento de rea do Interior (CPA/I), que
compreendem seus batalhes, companhias, pelotes e grupos (destacamentos)
policiais militares.
A estrutura da Polcia Militar, no que diz respeito a sua atividade
operacional, assemelha-se estrutura da Infantaria do Exrcito. Trata -se de uma
organizao ternria, na qual cada rgo superior comanda trs subordinados.
Por exemplo: o comandante de um batalho (tenente-coronel) comanda trs
companhias; o comandante de uma dessas companhias (capito), por sua vez,
comanda trs pelotes e assim por diante. O Quadro a seguir apresenta a
52
Era a seguinte a distribuio do efetivo por atividade em maio de 1997: 51.744 para
policiamento geral (61,4%); 25.054 para policiamento ostensivo especializado (28,4%) e 9.042
para a administrao (10,2%). Fonte: EM/PM In: Braz Araujo (org.). A Situao Atual das Polcias
Militares no Brasil. Comeando por So Paulo, vol. 1.
53
Respectivamente: Diretoria de Apoio Logstico, Diretoria de Assuntos Municipais e
Comunitrios, Diretoria de Ensino e Instruo, Diretoria de Finanas, Diretoria de Pessoal,
Diretoria de Sade, Diretoria de Sistemas. A PM possui um extenso corpo burocrtico que ocupa
grandes instalaes.
54
Ver organograma da Polcia Militar em anexo.
29
composio hierrquica dessas unidades operacionais. Para cumprir funes
administrativas e operacionais, os policiais so designados de acordo com seu
nvel na hierarquia militar: a cada funo corresponde um grau hierrquico.
Atividade operacional
FUNO GRAU HIERRQUICO
Grandes Comandos (CPM, CPI, CCB) coronis (mais antigos na carreira)
Comando de Pol iciamento de rea coronel
55
Batalho PM (unidade de rea) tenente-coronel
Companhias PM capito
Peloto tenente
Grupo PM (destacamento) sargento
Fonte: entrevistas realizadas na Diretoria de Ensino e Instruo da PMESP em 1997.
2 - Violncia Policial Ilegal
A questo proposta na Introduo trata da dificuldade de conciliar as
prticas da instituio policial s prescries do regime constitucional brasileiro.
O problema est relacionado ao carter discricionrio da atividade policial,
carter que dificulta de certa maneira a aplicao rigorosa de parmetros para
delimitao do uso legtimo da fora no desempenho da atividade, a fim de
distinguir a ao discricionria da simplesmente arbitrria.
56
Em certas situaes, o policial autorizado a usar a fora fsica para
cumprir seu dever legal. Em caso de resistncia armada a uma abordagem, por
exemplo, o uso de armas de fogo protegido pela lei, nos limites da legtima
defesa e do estrito cumprimento do dever legal.
57
Ao empregar a fora em tal
situao, o policial, de acordo com a lei, no comete crime, pois no h crime se
55
Os coronis com menos tempo de carreira so designados para comandar o policiamento de
rea do interior, que no Estado de So Paulo est dividido em 12 regies (12 CPAs-I).
56
Discricionariedade a margem de liberdade conferida pela lei ao agente pblico para que
cumpra seu dever; o poder de o agente pblico agir ou no, de decidir atos de sua competncia,
dentro dos limites legais, para realizar o interesse pblico. (DINIZ, M. H. Dicionrio Jurdico. So
Paulo, Saraiva, 1998, vol. 2).
57
GRECCO. Abordagem policial. In: A Fora Policial. Polcia Militar do Estado de So Paulo, p.
30
o fato ocorre em estrito cumprimento do dever legal.
58
Aes policiais violentas
que resultam em homicdio podem ser includas nessa causa de excluso de
ilicitude, tornando-se legtimas. A jurisprudncia entende que agem em estrito
cumprimento de dever legal os policiais que matam um homicida que faz uso de
arma ao receber voz de priso.
59
Circunscrito aos parmetros legais, o uso da fora pelo policial no
constitui crime, do contrrio o agente dever ser responsabilizado pelo excesso.
Em todas as causas de excluso de ilicitude pode haver excesso do agente. Isso
ocorre quando ele, aps iniciar seu comportamento em conformidade com a
justificativa, ultrapassa os limites legais desta, excede-se nela.
60
Da a noo de
estrito cumprimento do dever legal: se o agente excede os limites de seu dever,
h excesso ilcito de poder. Impe-se que a ao fique limitada ao estrito
cumprimento do dever legal
61
.
O problema consiste justamente em avaliar como empregada a fora
fsica nas aes policiais, se o emprego da fora ocorre normalmente de acordo
com as prescries legais ou se ultrapassa seus limites, ferindo direitos
fundamentais do cidado. Trata-se de analisar, no caso, as aes que escapam
ao enquadramento legal, sejam elas resultantes de excessos cometidos nos
casos de estrito cumprimento do dever legal ou de condutas claramente
desviantes ou criminosas. A polcia possui objetivos legais e sua ao deve
executar-se por meios admitidos em lei: os meios de ao tambm devem ser
legais, ou previstos na lei ou admitidos pela lei.
62
precisamente esse critrio
de delimitao - objetivo legal, meios de ao limitados pela lei - que legitima a
ao policial e a diferencia das aes criminosas cometidas por bandidos.
86.
58
Cdigo Penal Militar, art. 42; Cdigo Penal, art. 23.
59
DELMANTO, C. Cdigo Penal Comentado, So Paulo, Renovar, 3 ed. 1991, p. 42.
60
DELMANTO, C. Cdigo Penal Comentado, p. 41.
61
DELMANTO, C. Cdigo Penal Comentado, p. 42.
62
DALLARI, D. A. A polcia e as garantias de liberdade. In: MORAES, B. B. (org). O Papel da
Polcia no Regime Democrtico, So Paulo, Magerar, 1996, p. 55.
31
Pode-se afirmar que na prtica esse critrio no se estabeleceu
razoavelmente no Brasil. Com a redemocratizao, a violncia policial passou a
ser uma preocupao da sociedade, ou de grupos da sociedade, mais
especificamente aqueles ligados defesa dos direitos humanos, e a instituio
se tornou objeto de investigao. Por um lado, estudos que analisam a polcia
como instrumento de poder caracterizam a fora policial como um elemento
essencial de controle das classes populares. Ao exercer seu papel repressivo de
controle social, a instituio policial no restringe sua ao s formalidades
legais. Referncias a maus-tratos de autoridades policiais contra esses cidados
so contnuas tanto nos perodos de limitada democracia quant o nos regimes de
exceo, acentuando-se nesses ltimos o desrespeito s garantias
constitucionais de direitos individuais.
63
Com a especializao da violncia, o
arbtrio e a impunidade policiais, disseminados durante o regime autoritrio,
aprofundaram uma dinmica j presente nos rgos repressivos mesmo antes de
1964.
64
Prticas policiais comuns na dcada de 70, como grandes operaes de
rondas em que eram feitas detenes e revistas de suspeitos, eram socialmente
discriminatrias e geralmente ilegais. No faltam exemplos de aes
desastrosas que provocaram a morte das pessoas abordadas, alm de
ameaas, espancamentos, torturas dos detidos etc. Com a pretenso de conter a
criminalidade e o objetivo de controlar as classes populares, o vigilantismo
policial combatia uma populao potencialmente suspeita.
65
A abordagem organizacional, por outro lado, tambm indica a
desvalorizao dos formalismos legais no trabalho policial cotidiano. Mais do
que categorias legais, [so] ideologias e esteretipos formulados
organizacionalmente [que] orientam a ao dos membros de linha em sua
63
PINHEIRO, P. S. Violncia e cultura. In: LAMOUNIER, B. et alii (org.). Direito, cidadania e
participao. So Paulo, T. A. Queiroz, 1981.
64
PINHEIRO, P. S.; SADER, E. O controle da polcia no processo de transio democrtica no
Brasil. Temas IMESC, So Paulo, 1985, vol. 2, n. 2, p. 91.
65
PINHEIRO, P. S. Polcia e crise poltica. In: PAOLI, M. C. et. alii (org.). A violncia brasileira.
So Paulo, Brasiliense, 1982, p. 69-79; FERNANDES, H. R. Rondas cidade: uma coreografia do
poder, Tempo Social , So Paulo, 1989, vol. 1, n. 2, p. 121-134.
32
atividade rotineira...
66
Escapar ao formalismo da lei, na perspectiva dos policiais,
condio para a eficincia do trabalho policial.
67
Resultado dessa conduta
abusiva e ilegal a vi olao dos direitos fundamentais integridade fsica e
vida, sendo expressivas as transgresses cometidas por agentes do Estado,
apesar das mudanas ocorridas desde a instaurao do novo regime
constitucional. A partir da redemocratizao, os dados sobre a violncia policial
passaram a ser sistematizados, permitindo algumas interpretaes do fenmeno.
No caso da PM paulista, o nmero de vtimas fatais em razo de confrontos
sugere um questionamento da legalidade das aes policiais.
68
O Quadro a
seguir d a dimenso do emprego da fora policial militar no Estado de So
Paulo entre 1981 e 1992:
Quadro 1
Mortes e ferimentos em aes da PM no Estado de So Paulo entre 1981 e 1992
Ano Civis Mortos PMs Mortos Civis Feridos Policiais feridos
1981 300 - - -
1982 286 26 74 -
1983 328 45 109 -
1984 481 47 190 -
1985 585 34 291 -
1986 399 45 197 -
1987 305 40 147 559
1988 294 30 69 360
1989 532 32 135 -
1990 585 13 251 256
1991 1140 78 - 250**
1992 1359* 59 317 310**
* Este nmero no inclui os 111 mortos na Casa de Deteno do Carandiru.
** Estimativa aproximada fornecida informalmente pela PM.
66
PAIXO, A. L. A organizao policial numa rea metropolitana. Dados. Revista de Cincias
Sociais, Rio de Janeiro, 1982, vol. 25, n. 1, p. 64.
67
Idem, p. 74
68
Em princpio, as condenaes na justia deveriam ser o critrio para indicar a dimenso da
violncia policial. Dadas as circunstncias, como se v a seguir, no se pode tom-las de fato
como critrio suficiente.
33
Fonte: Os Direitos Humanos no Brasil, NEV-CTV (USP), So Paulo, 1993, p. 18-20.
Os dados sobre a violncia policial no so homogneos, encontram-se
lacunas e pequenas variaes do nmero de mortes e feridos nas pesquisas
baseadas em fontes oficiais. Em um primeiro momento, os dados quantitativos
do um panorama do problema da violncia policial, indicando grande nmero de
mortes de civis sobretudo nos anos de 1991 e 1992. Como se v, as aes
policiais militares resultaram em 1470 mortes em 1992,
69
nmero que
corresponde a um tero do total de homicdios cometidos no Estado de So
Paulo naquele ano.
Para justificar esses ndices, a instituio alega de modo geral que as
mortes resultam do combate criminalidade nas ruas. Contudo, se primeira vista
o emprego da fora pode ser entendido como resultado da represso necessria
e legal, a anlise dos dados leva ao questionamento de tais aes. Durante o
perodo em questo, a ao repressiva da polcia militar resultou em mais civis
mortos que feridos, embora o padro de tiroteios em confrontaes reais deva
resultar em uma proporo maior de feridos que de mortos.
70
Assim como
acontece com os policiais militares em So Paulo, seria de esperar nessas
situaes um nmero maior de civis feridos ao de mortos. Estudo comparado
entre as polcias das cidades de So Paulo, Los Angeles, Nova York, Buenos
Aires e Cidade do Mxico mostra como a PM paulista se destaca por recorrer de
forma mais intensa violncia fatal.
71
A comparao entre o nmero de civis
mortos pelas polcias de outras grandes metrpoles d uma medida do grau da
violncia policial em So Paulo e de sua discrepncia em relao aos padres
internacionais. Entre os anos de 1992 e 1995, a ao policial militar resultou na
morte de 2097 civis na Grande So Paulo (ver Quadro 2). Em contrapartida, entre
1990 e 1993, 117 civis foram mortos pela polcia de Nova York; 48 civis foram
69
Incluindo os 111 presos mortos na invaso da Casa de Deteno do Carandiru pela PM aps
rebelio.
70
Ver CHEVIGNY, P. The Edge of Knife, 1994, p. 45.
71
Idem, ibidem.
34
mortos pela polcia de Los Angeles entre 1991 e 1992; e 230 civis foram mortos
pela polcia de Buenos Aires entre 1986 e 1990.
72
Embora no compreendam
exatamente o mesmo perodo, os dados servem de referncia para avaliar o uso
da fora pela polcia militar em So Paulo.
Quadro 2
Civis e PMs mortos e feridos na Grande So Paulo entre 1992 e 1995
Ano Civis mortos Civis feridos
1992 1190 165
1993 243 194
1994 333 194
1995 331 220
Fonte: Secretaria de Segurana Pblica do Estado de So Paulo
Outro dado relevante que em 1991, ano em que se verifica um aumento
do nmero de policiais mortos em relao aos anos anteriores (ver Quadro 1),
70% das mortes de policiais militares no ocorreram em confrontao, mas em
acidentes ou fora de servio.
73
Como indicam os dados do Quadro 3, essa
situao no se modificou em 1994 e 1995, quando a grande maioria dos
policiais militares morreu fora de servio (85,3% e 79,6% respectivamente). Os
policiais so vtimas de aes violentas geralmente no desempenho de
atividades extra-oficiais, sobretudo de segurana privada, ao passo que as
mortes de civis ocorrem durante o servio policial. Se tais mortes civis
resultassem exclusivamente de confrontos reais com agentes policiais no
cumprimento do dever legal, a maior probabilidade de o policial ser vitimado
ocorreria tambm nessas situaes de confronto durante o servio. Como ocorre
o contrrio, a menor proporo de policiais vitimados em servio permite colocar
em dvida a verso freqentemente apresentada pela PM de que as mortes de
civis resultam de confrontos que justificam o emprego da fora no cumprimento
do dever legal.
72
Idem, p. 105, p. 243 e p. 272.
73
CALDEIRA, T. P. R. City of Walls: Crime, Segregation and Citizenship in So Paulo, 1992, p. 173.
35
Quadro 3
PMs mortos e feridos no Estado de So Paulo, 1994-1995
1994 1995
PMs mortos em servio 25 23
PMs mortos em folga 104 90
PMs feridos em servio 216 224
PMs feridos em folga 297 289
Fonte: Secretaria de Segurana Pblica do Estado de So Paulo
O questionamento da verso oficial resultante da anlise quantitativa dos
dados reforado pelas informaes apresentadas em relatrios de entidades
de defesa dos direitos humanos. Segundo esses relatrios, grande parte das
mortes de civis so extralegais, execues decorrentes de aes arbitrrias de
uma polcia que se outorga o direito de fazer justia com as prprias mos.
74
Com base em trabalhos realizados por pesquisadores, os relatrios de direitos
humanos descrevem casos exemplares de uso ilegal da fora pela PM e do
suporte problematizao da violncia policial. Sob a alegao de resistncia
priso seguida de morte, os confrontos so justificados pela PM como
decorrncia de situaes em que o policial age no cumprimento da lei. Em
muitos casos, reportam os relatrios, as evidncias contrariam essa alegao e
indicam que houve execuo da vtima, a despeito da dificuldade de provar a
ilegalidade dessas aes policiais na Justia.
Segundo os promotores do Ministrio Pblico que atuam na Justia Militar
estadual,
75
mesmo que existam evidncias ou suspeitas de ilegalidades, nem
74
Ver Human Rights Watch, Final Justice: Police and Death Squad Homicides of Adolescents in
Brasil , 1994. NEV e CTV (USP), Os Direitos Humanos no Brasil, 1993. Americas Watch/NEV
(USP), Violncia Policial Urbana no Brasil: Mortes e Tortura pela Polcia em So Paulo e no Rio de
Janeiro nos ltimos Cinco Anos (1987-1992), 1993. Americas Watch, Violncia Policial no Brasil:
Execues Sumrias e Tortura em So Paulo e Rio de Janeiro, 1987.
75
Os policiais militares so processados e julgados pela Justia Militar estadual nos crimes
militares definidos em lei. H oito promotores na Justia Militar estadual: so promotores de
carreira do Ministrio Pblico (integram o Ministrio Pblico de So Paul o) alocados na Justia
Militar. So encarregados de produzir as provas, fazer a denncia ou pedir o arquivamento dos
inquritos policiais e recorrer das decises. Foram entrevistados cinco desses promotores para
esta pesquisa. Todos apontam as mesmas dificuldades de trabalhar na Justia Militar nos casos
de crimes praticados por policiais militares contra civis e afirmam que a posio do Ministrio
Pblico a esse respeito unnime.
36
sempre possvel comprov-las, e a ausncia de provas consiste no maior
obstculo condenao de policiais militares. Como as investigaes so feitas
pela prpria PM mediante os inquritos policiais militares,
76
as provas podem ser
facilmente manipuladas e um crime transformado em ao legtima. Antes
mesmo de comear a investigao, os agentes envolvidos podem
descaracterizar o delito j no momento em que aparentemente prestam socorro
vtima. Muitas vezes a morte j um fato consumado, mas os policiais
transportam o corpo para um hospital, dando indcios de cumprimento do dever
legal e dificultando a comprovao de ilegalidade da ao.
77
Conforme o caso, o
laudo pode contradizer a verso policial, indicando que houve execuo da
vtima. De qualquer forma, resistncia priso seguida de morte a justificativa
constante nos inquritos policiais militares, prevalecendo no processo essa
verso oficial quando no h provas nem testemunhas que a contrariem. De
acordo com os promotores, a maioria dos inquritos no termina em processo,
pois no h elementos para fazer a denncia.
78
A duplicidade de investigao -
civil e militar - permite que os promotores levantem dvidas quanto
descaracterizao do crime por agentes policiais ao confrontar os dois
inquritos. Analisando a ocorrncia, o Ministrio Pblico leva em considerao
as circunstncias do crime - local, horrio, testemunhos -, que podem trazer
indcios de execues. A apurao dos fatos depende tambm da cooperao
da sociedade, da presso das ONGs de direitos humanos, das testemunhas etc.
A partir dos dados obtidos, os promotores podem colocar em suspeio a
veracidade do inqurito policial militar e, se possvel, transformar essas suspeitas
76
O inqurito policial militar foi institudo durante o regime militar (Dec reto Lei 1002, de
21/10/1969). A partir de ento, os crimes praticados por policiais militares passaram a ser
investigados pela prpria PM. Em alguns casos, como os de resistncia priso seguida de
morte, h uma duplicidade de investigao, pois a vtima tambm cometeu um crime - de
resistncia priso - e a polcia civil faz a apurao mediante o inqurito policial civil. Nesses
casos, possvel comparar as duas investigaes.
77
Ver BARCELLOS, C. Rota 66. A Histria da Polcia que Mata, So Paulo, Globo, 1993.
78
Os promotores entrevistados forneceram informaes que no esto disponveis em textos
publicados, uma vez que os arquivos da Justia Militar no esto abertos ao pblico. De qualquer
maneira, a informao de que a maioria dos inquritos no se torna processo se baseia na
experincia de trabalho dos prprios promotores e serve para dar uma idia do funcionamento da
Justia Militar estadual.
37
em provas. Essas dificuldades so confirmadas em relatrio da Human Rights
Watch/Americas, que descreve todos os empecilhos condenao de policiais
criminosos.
79
A viso dos prprios policiais militares d sustentao ao panorama
traado a respeito da violncia policial. Exposto ao debate pblico, o tema
provoca polmica, sobretudo devido polarizao que norteia o trata mento da
questo. Direitos humanos e atividade policial so colocados em lados opostos,
em parte porque os direitos humanos permanecem associados idia de
direitos de bandidos, idia que encontra respaldo tanto na polcia quanto na
sociedade. Contra as crticas freqentes, a corporao adota muitas vezes a
posio defensiva e limitada de afirmar que os casos de violncia policial so
isolados e que so tomados os procedimentos cabveis para a punio dos
policiais envolvidos nessas ocorrncias. Alm de influenciada pelo conflito
ideolgico direitos humanos / polcia, a posio oficial apresentada em pblico
limitada pela homogeneidade que normalmente uma corporao militar impe ao
prprio discurso ao se expor sociedade. O recurso a fontes primrias, a
monografias redigidas por oficiais da Polcia Militar em cursos de
aperfeioamento, permite apreender a maneira como uma parte do meio oficial
aborda o problema da violncia policial dentro da prpria corporao, fora da
polarizao que caracteriza o debate pblico.
80
Em um universo de aproximadamente 1.500 monografias que tratam dos
temas mais diversos, visto ser diversificado o campo de atuao da corporao
79
Human Rights Watch/Americas, Brutalidade Policial Urbana no Brasil, 1997, pp. 22-27.
80
Trata-se de um conjunto de monografias redigidas por oficiais da Polcia Militar em dois cursos
promovidos pela PM/SP: Curso de Aperfeioamento de Oficiais (CAO) e Curso Superior de
Polcia (CSP). Tais cursos so oferecidos para oficiais em determinada fase da carreira e so
obrigatrios para os que pretendem ascender na hierarquia alm do posto de capito. So
realizados no Centro de Aperfeioamento e Estudos Superiores da Polcia Militar durante
aproximadamente 5 meses e correspondem a uma ps-graduao lato sensu. O Curso de
Aperfeioamento de Oficiais oferecido aos capites e requisito para promoo ao posto de
major. O Curso Superior de Polcia oferecido a tenentes -coronis e majores como exigncia
para o posto de coronel. Ao final dos cursos, os oficiais devem apresentar uma monografia a ser
examinada por uma banca composta por instrutores da Polcia Militar e professores de outras
instituies. A produo de monografias teve incio em 1984; elas so fontes de pesquisa e
referncias de estudo para os prprios polic iais militares, sobretudo durante a participao nos cursos.
38
(policiamento de trnsito, florestal, guarda externa de presdios, defesa civil etc.),
os trabalhos dedicados questo da violncia policial tm por objetivo explicar e
buscar solues para o problema. Escritas por oficiais, as monografias so
representativas da realidade profissional da Polcia Militar e constituem uma fonte
privilegiada de pesqui sa, pois o trabalho de campo na polcia mostra que no
habitual o reconhecimento explcito e realista do problema da diante dos civis
ou do pblico externo, referncias comuns na corporao aos no policiais. No
interior da corporao, a violncia policial um tema constrangedor e de difcil
abordagem.
Nas monografias, a motivao do questionamento da violncia policial por
parte dos oficiais abrange desde razes de fundo religioso at a preocupao
com a sobrevivncia institucional da Polcia Militar. Os oficiais introduzem o tema
geralmente com a seguinte constatao: a violncia policial existe e o lado
negativo da corporao. A Polcia tem uma face lmpida, que cumpre bem o seu
papel social, e outra suja, onde existe o vrus demolidor.
81
Na viso desses
oficiais, a violncia policial uma das principais causas da degradao da
imagem da instituio e uma ameaa a sua continuidade, uma vez que por esse
motivo chegou a ser proposta a extino das polcias militares.
82
Em seguida,
descreve-se o fenmeno, identificado com clareza, semelhana dos relatrios
de denncias de violaes dos direitos humanos: atos violentos praticados por
integrantes da PM, em servio ou fora de servio, contra cidados (populao ou
delinqentes) ou mesmo familiares dos prprios policiais, que vo do abuso de
autoridade a leses corporais e homicdios. Ilustram o problema algumas
tipologias do policial violento: o policial truculento, o policial arbitrrio, o policial
prepotente, o policial arrogante etc. so os sujeitos de diversas prticas abusivas
e/ou ilegais. s tipologias so acrescentadas descries de casos de violncia
policial que se tornaram pblicos pela imprensa e os vivenciados pelos prprios
autores. Os comportamentos so qualificados ora como agressivos, ora
psicologicamente desequilibrados, podendo ser sintetizados como violentos e
81
Cap. PIRES, A. C. Violncia policial. Estudo de casos. CAO-I/1986 (19).
39
ilegais, tais como, nas palavras dos oficiais, bater em pessoas indefesas, em
presos algemados, abusar do poder, julgar-se acima de todos, arbitrar de acordo
com sua vontade particular e contra a lei etc. Em suma: ele o juiz, o carrasco e
o executor. Aplica a pena e a executa, batendo, torturando e matando. o todo-
poderoso, boal e soberano.
83
Ao definir o objeto, os autores diferenciam a violncia policial do uso
legtmo da fora, prerrogativa da instituio policial. Em participaes da PM no
debate pblico, no raro so confundidos esses conceitos, provavelmente em
virtude da posio defensiva e corporativa, que alarga a noo de uso legtimo
da fora, permitindo que nela sejam includos atos de violncia ilegal. Como
salienta um oficial, seu tema de trabalho no o problema da violncia causada
por reao necessria e circunstancial, mas as causas da violncia fcil,
covarde, gratuita e inadmissvel, que compromete a toda uma tradicional e
gloriosa Corporao.
84
Ainda que um ou outro oficial apresente a PM ora como
bode expiatrio na rea da violncia e da criminalidade, ora como vtima da
imprensa sensacionalista, predomina o reconhecimento de que a violncia
policial um grave problema, que deve ser analisado independentemente dessas
questes paralelas. As seguintes passagens so exemplares quanto
caracterizao da violncia policial:
O policial militar, que convive com os recursos da violncia
arbitrria, pode aprender essa prtica e passar a gostar desse
convvio. Desumano, preposto, arbitrrio, sempre pronto adoo
do expediente violento, usando a arma e a lei como suportes do
atendimento dos seus impulsos, conscientes ou inconscientes, de
agressividade ou periculosidade, o policial militar torna-se um
marginal amparado e resguardado pela lei. um delinqente mais
perigoso, porque usa da sua credencial, do seu ttulo e de sua farda,
82
Ten-cel. ROZA, A. S. Violncia policial militar. CSP-I/1994 (4).
83
Ten-cel. ROZA, A. S. Violncia policial militar. CSP-I/1994 (4), p. 16.
84
Cap. LUZ, W. A. A violncia policial militar. CAO-I/1992 (9), p. 17.
40
para a prtica da violncia. Ele integra uma minoria da PM e a sua
impunidade contamina a prpria Instituio.
85
Em breve no teremos uma tropa que objetiva a tranqilidade
pblica com as suas aes, mas sim um bando, que aterroriza e
intranqiliza a populao.
86
Obviamente esse reconhecimento explcito no chega ao debate pblico.
Frente s crticas, sobretudo quando algum caso de violncia policial se converte
em escndalo, embora a instituio tome as providncias formais de
averiguao, prevalece entre os membros da instituio uma postura defensiva,
preferindo-se atacar o sensacionalismo da imprensa a reconhecer e questionar
as violncias cometidas pelos pares. Nas monografias, alguns oficiais revelam
dificuldade para qualificar a violncia, para apontar os casos mais graves, como
os homicdios, e se referem de maneira genrica violncia policial. Isso no
significa que se distanciem ou estejam alheios a esses casos graves. Se entre os
vrios relatos apresentados em uma monografia de 1986 no h nenhum caso de
homicdio, o autor nem por isso deixa de lembrar que em anos anteriores (...) a
violncia foi mais intensa em quantidade e qualidade, resultando em mortes.
87
A
projeo no passado de problemas que esto sendo vivenciados pelos oficiais
tambm aparece com clareza em uma monografia cuja questo central a
preveno das mortes de policiais militares em servio. Nesse caso, a violncia
policial, apontada como ao desastrosa que aumenta a probabilidade de o
policial ser vitimado, reconhecida como prtica estimulada pela instituio:
Temos nos avistado com advogados que tm tido contato com
bandidos e eles nos tm dito que muitos deles no querem ser
maus, mas reagem quando acuados pela polcia por no terem
oportunidade de fugir e por saberem que, se se entregarem, no
85
Maj. SILVA, J. E. Violncia policial militar. CSP-I/1989 (39), p. 7.
86
Cap. PIRES, A. C. Violncia policial. Estudo de casos. CAO-I/1986 (19), p. 36-37.
87
Cap. PIRES, A. C. Violncia policial. Estudo de casos. CAO-I/1986 (19), p. 30.
41
chegaro vivos nas Delegacias, quando no sero na maioria das
vezes maltratados. Parece a mim que estes advogados no deixam
de ter razo, pois houve poca em nossa Corporao que se
estimulava at a prtica do homicdio como medida saneadora
(grifos nossos).
88
Curiosamente, o autor cita ainda um caso que teve repercusso na poca
de sua ocorrncia e novamente por ocasio da publicao de um livro sobre
violncia policial em 1993: Rota 66, do jornalista Caco Barcellos.
89
Em 1982, o
ento capito Conte Lopes, mais tarde eleito deputado estadual, matou um
operrio em ao desastrosa e ilegal, na qual havia sido ferido tambm um
policial. Na monografia, a morte do operrio narrada de acordo com a verso
publicada na imprensa da poca - ratificada posteriormente por Barcellos -,
condenando a ao policial.
A contradio entre as prescries normativas e a prtica de uma polcia
que deveria ser o anjo protetor e zelar pela integridade das pessoas referida a
todo momento pelos oficiais. Segue-se o questionamento do fenmeno: por que
policiais - cidados pacatos, bons chefes de famlia- se transformam em
policiais violentos?
90
Por que homens humildes e pacatos quando esto na vida
civil, se modificam e se tornam grosseiros, arrogantes e agressivos aps
investidos nos Poderes de Polcia e de manuteno da ordem pblica? (...) Por
que h grande incidncia de policiais militares arbitrrios, que mesmo sabendo
que seu dever proteger, fazem o contrrio?
91
Pode-se verificar com clareza a concordncia entre o discurso de alguns
setores do meio oficial da PM e a avaliao dos crticos da instituio a respeito
da questo da violncia policial. Os apontamentos das monografias confirmam
as consideraes do presente trabalho sobre o problema. Apesar da reduo
88
Cap. OLIVEIRA, V. G. Heris que jazem no mausolu poderiam estar vivos. CAO-II/1987 (30), p.
10.
89
BARCELLOS, C. Rota 66. Histria da polcia que mata, So Paulo, Globo, 1993.
90
Cap. PIRES, A. C. Violncia policial. Estudo de casos. CAO-I/1986 (19).
42
das mortes pela polcia a partir de 1993 (ao menos em relao aos anos mais
violentos: 1991 e 1992),
92
os ndices ainda so altos e o perodo da
redemocratizao est marcado por um nmero significativo de mortes pela
polcia. Os depoimentos dos prprios policiais, alm dos dados quantitativos,
revelam a dimenso do problema a ser enfrentado no processo de consolidao
da democracia brasileira, uma vez que qualquer ao por parte de agentes
estatais que viole direitos fundamentais inaceitvel em um regime dessa
natureza.
Em grande medida, a violncia policial um dos indicadores do modo
como se desenvolve a democracia brasileira. Se em alguns setores ocorreram
progressos inegveis, em outros permanecem prticas autoritrias, que
dificultam a efetivao de direitos de cidadania fundamentais e dos direitos
humanos. Os avanos no campo dos direitos civis introduzidos pela Constituio
de 1988
93
continuam inexistentes para a maioria da populao que no alcanou
efetivamente, apesar dos princpios formais, o status de cidadania atribudo aos
membros integrais da comunidade nos regimes democrticos.
94
Grande parte
das arbitrariedades dos policiais militares cometida contra suspeitos de aes
criminosas, pessoas sem culpa comprovada. Discriminao social leva
associao da populao pobre a essa categoria,
95
a quem no se faz valer os
direitos fundamentais previstos na Constituio. O mesmo problema apontado
em relao polcia civil do Rio de Janeiro, a qual, na medida em que ampara
suas aes na suposta oposio entre as categorias sociais de "trabalhadores"
e "marginais", associa segunda tanto o infrator da lei quanto os social e
economicamente marginalizados
96
- o desempregado, o negro, o pobre. Tambm
91
Ten-cel. ROZA, A. S. Violncia policial militar. CSP-I/1994 (4), p. 20.
92
A questo da reduo do nmero de mortes ser retomada adiante.
93
Constituio Federal, art. 5 , que determina basicamente o direito vida, liberdade,
igualdade, segurana e propriedade.
94
MARSHALL, T. H. Cidadania e Classe Social. In: Cidadania, Classe Social e Status. Rio de
Janeiro, Zahar Editores, 1967.
95
CALDEIRA, T. P.R. Direitos Humanos ou Privilgios de Bandidos? Novos Estudos/Cebrap, So
Paulo, 1991, n. 30.
96
LIMA, R. K. A Polcia da Cidade do Rio de Janeiro. Seus dilemas e paradoxos. Rio de Janeiro,
43
na tica da polcia a sociedade aparece composta por cidados, tratados de
acordo com as normas do Estado de Direito, e por aqueles que no so
reconhecidos como tais, contra quem incide toda espcie de ilegalidades.
Na letra da lei, conforme o artigo 144 da Constituio Federal, a
segurana pblica, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos,
exercida para a preservao da ordem pblica e da incolumidade das pessoas e
do patrimmio, atravs dos seguintes rgos: polcia federal, polcia rodoviria
federal, polcia ferroviria federal, polcias civis, polcias militares e corpos de
bombeiros militares. Responsvel pelo policiamento ostensivo e preventivo, a
PM deve atuar em contato direto com a populao com o objetivo de zelar pela
segurana pblica. As freqentes violaes integridade das pessoas pela
prpria instituio encarregada de garantir o direito segurana mostram como a
ordem legal muitas vezes descumprida pela PM e como a relao entre a
polcia e a populao ainda no corresponde s expectativas de uma sociedade
democrtica, em que os poderes pblicos devem ser exercidos no mbito das
leis que os regulam. Como poder pblico que transgride leis estabelecidas, a
polcia um dos sintomas da fragilidade da democracia brasileira, incapaz de
superar a sistemtica violao dos componentes liberais (direitos civis)
essenciais no Estado de Direito.
97
Polcia Militar do Estado do Rio de Janeiro, 1994, pp. 56-59.
97
ODONNELL, G. Sobre o Estado, a Democratizao e alguns problemas conceituais, Novos
Estudos/Cebrap, So Paulo, 1993, n 36.
44
Captulo 2 - Segurana Pblica e Democracia
Se o uso ilegal da violncia um problema reconhecido pelos prprios
membros da Polcia Militar, abordado pelos oficiais nas monografias, resta saber
as razes da conduta antidemocrtica da PM, passados mais de dez anos de
vigncia da nova Constituio. Com base nos dados apresentados no captulo
anterior, os quais revelam a dimenso da violncia da PM contra civis, possvel
formular a hiptese de que essa descaracterizao da funo constitucional da
instituio, responsvel pela segurana dos cidados, est relacionada
basicamente fragilidade ou mesmo inexistncia de uma concepo de
segurana pblica adequada ao Estado de Direito democrtico. O vnculo entre
polcias militares e exrcito e a atribuio de competncia Justia militar
estadual para processar e julgar policiais militares so dois fatores, talvez os
principais, que dificultam a democratizao da concepo de segurana pblica
no Brasil. Sem a pretenso de fornecer uma explicao acabada e exaustiva da
questo, pode-se afirmar que esses dois fatores esto diretamente ligados s
funes historicamente atribudas instituio policial brasileira e que eles tiveram
reflexos no funcionamento de sua organizao, uma vez que influenciaram e ainda
influenciam os rumos da segurana pblica no pas.
Para a formulao de uma concepo democrtica de segurana pblica,
pode-se tomar por base a discusso proposta por D. Monjardet a respeito do
artigo dedicado fora pblica na Declarao dos Direitos do Homem e do
Cidado (1789), considerando-se que o artigo enuncia, nos termos de E.
Piccard, tudo o que preciso saber, ou ao menos esperar da polcia em um
45
Estado de Direito.
98
A Declarao atribui fora pblica a funo primordial de
garantir os direitos do homem e do cidado, sendo esta a razo de sua existncia e
de seu mandato legtimo.
99
Desde ento, no pode ser outro o ncleo de uma
concepo democrtica de segurana pblica: trata-se de eleger como objetivo
essencial da instituio, em primeiro plano, a garantia de direitos, orientando o
desempenho das atividades policiais em funo desse objetivo preciso.
Na prtica, essa concepo de segurana pblica no vigora, em seu
sentido mais rigoroso, nem mesmo em democracias consolidadas, como no
caso francs. Comparando as prescries do cdigo da polcia na Frana com
os propsitos da Declarao, Monjardet observa a inverso que o cdigo
promove ao definir a finalidade da instituio policial: a garantia de direitos deixa
de constituir a funo essencial da polcia, passando a ser apenas uma exigncia
ou uma condio para a execuo de outros objetivos que lhe so conferidos.
Como afirma o autor, comentando essa inverso de valores, uma coisa confiar
instituio a garantia de direitos, o que asseguraria a ordem e a paz pblicas,
outra confiar-lhe a manuteno da ordem e da paz pblicas, sob a condio do
respeito aos direitos, como prescreve o cdigo.
100
No caso brasileiro, no h historicamente correspondncia entre os
propsitos da Declarao de Direitos e aqueles expressos nos textos legais
referentes s foras policiais. Como a prtica policial demonstra, nem mesmo o
respeito aos direitos do homem e do cidado foi efetivamente imposto como
uma condio para o exerccio da atividade policial. Duas razes contriburam
para a formao dessa concepo de segurana que dissociou os fins das
polcias militares do respeito aos direitos, colocando-os muitas vezes em
campos opostos no Brasil, como se ver a seguir.
98
PICCARD apud D. MONJARDET. Ce que fait la police, op. cit., p. 24. Segundo o Art. 12 da
Declarao dos Direitos do Homem e do Cidado: A garantia dos direitos do homem e do
cidado necessita de uma fora pblica; esta instituda para vantagem de todos, no para uso
particular daqueles a quem ela confiada.
99
MONJARDET, D. Ce que fait la police, op. cit., p. 24.
100
Idem, p. 23-27.
46
1 - Polcia e Exrcito
Pode-se associar a debilidade ou mesmo a inexistncia de uma
concepo de segurana pblica adequada ao Estado de Direito democrtico
vinculao histrica entre duas instituies com funes diferenciadas, as
polcias militares e o exrcito. O objetivo do exrcito garantir a defesa da Ptria
e os poderes constitucionais, o da polcia garantir a segurana pblica.
101
No
h proximidade, objetivamente, entre as atividades de cada uma dessas
instituies em um regime democrtico; polcia atri bui-se a funo
eminentemente civil de policiamento, distinta da atividade militar, finalidade do
exrcito.
Historicamente, o processo de especializao da polcia, ao tornar
exclusividade dessa instituio a tarefa de aplicar a fora fsica dentro de um
grupo social, significou o afastamento dos militares do trabalho de manuteno
da ordem no mbito domstico. Dessa perspectiva, o emprego de unidades
militares internamente representa uma especializao imperfeita da polcia.
102
No Brasil, embora a relao entre exrcito e polcia tenha se acentuado
durante o regime autoritrio de 1964, o vnculo histrico entre essas duas
instituies remonta a perodos anteriores. A retomada desse processo por meio
da legislao referente s foras policiais estaduais permite observar as
conseqncias dessa associao no mbito da segurana pblica. As primeiras
leis que relacionaram as foras policiais ao Exrcito datam do incio do sculo,
quando se estabeleceu a possibilidade de incorporao das polcias
militarizadas estaduais ao Exrcito Nacional:
As foras, no pertencentes ao Exrcito Nacional, que existirem
permanentemente organizadas, com quadros efetivos,
composio e instruo uniformes com (os) do Exrcito ativo,
101
Constituio Federal, artigos 142 e 144 respectivamente.
102
BAYLEY, D. Patterning of policing. A comparative international analysis, p. 40-41.
47
podero ser a ele incorporadas, no caso de mobilizao e por
ocasio das grandes manobras anuais.
(...) A Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros do Distrito
Federal, bem como as polcias estaduais que tiverem organizao
eficiente, a juzo do Estado Maior do Exrcito, sero
consideradas foras permanentemente organizadas podendo
ser incorporadas ao Exrcito Nacional em caso de mobilizao
deste e por ocasio das grandes manobras anuais.
103
Essas leis indicam que a vinculao das polcias s foras do poder central
vinha ocorrendo desde a Primeira Repblica, embora sua incorporao ao
Exrcito dependesse da anuncia do governador do Estado. Mesmo assim, esse
um perodo marcado pelo poder dos Estados e as polcias constituam uma
fora importante de seus governos: elas foram organizadas tanto para garantir a
autonomia das unidades federadas e impedir possveis intervenes do poder
central quanto para reprimir movimentos populares que viessem ameaar a
ordem social. A organizao da fora policial do Estado de So Paulo tambm
seguiu essas mesmas diretrizes. Aps a proclamao da Repblica, grandes
investimentos foram feitos no ento Corpo Policial Permanente,
104
que se tornou a
principal fora repressiva do Estado. Enquanto outras polcias foram criadas e
extintas no incio conturbado da Repblica, a Fora Pblica (a dos antigos
Permanentes, atual Polcia Militar) foi a nica que se manteve estruturada em
103
Respectivamente, Decreto n 11497 (23/2/1915), artigo 10, pargrafo 3 e Lei n 3216
(3/1/1917), artigo 8 . In: SOUZA, Benedito Celso de, A Polcia Militar na Constituio.
104
Segundo Alberto Motta Moraes, a origem das polcias militares remonta instituio, em 1809,
da Diviso Militar da Guarda Real de Polcia, dispositivo criado para assegurar a ordem pblica da
Corte. A partir da teriam surgido as polcias militares nas provncias, que se mantiveram com a
Repblica na maioria dos Estados (MORAES, A. M. Polcia: Problemas e Solues, p. 22).
Mais precisamente, a atual Polcia Militar do Estado de So Paulo originou-se em 1831 com a
criao da Guarda Municipal Permanente. A partir de ento, a fora policial paulista modificou seu
nome vrias vezes - Corpo Policial Permanente, Fora Pblica Estadual, Fora Policial, Fora
Pblica, Fora Pblica do Estado de So Paulo - at que em 1970 ocorreu a unificao das
polcias fardadas sob a denominao de Polcia Militar do Estado de So Paulo.
48
todos os perodos da histria brasileira. Na interpretao de H. Fernandes, a
militarizao foi fruto da poltica dos governadores e visava a imprimir fora
repressiva estadual os princpios de subordinao aos interesses polticos
civilistas de seus grupos dominantes.
105
Embora essas leis mostrem que havia possibilidade de incorporao das
foras policiais ao Exrcito, no se encontram referncias de que tenha ocorrido
na poca uma aproximao efetiva entre as duas instituies no Estado de So
Paulo. Durante o perodo caracterizado pela autonomia dos Estados, a Fora
Pblica funcionou como sustentculo do poder estadual, desempenhando seu
papel de instrumento do poder durante as eleies, na represso aos
movimentos populares e s greves.
106
Os governadores fizeram grandes
investimentos para profissionalizao da polcia, que dotada de aviao e
artilharia se constituiu em um pequeno exrcito. Entre esses investimentos,
destaca-se a vinda em 1906 da misso francesa, precursora das misses
militares estrangeiras no Brasil, ento contratada para instruir a Fora Pblica. O
modelo militarizado da atual PM remonta Primeira Repblica como
empreendimento dos governadores que iniciaram um processo de
profissionalizao com nfase na militarizao. Esse modelo no resultou de
interferncias do governo central nem do exrcito. Ao contrrio, as polcias
militares foram o maior obstculo expanso do poder do exrcito durante a
Primeira Repblica.
107
a partir de 1930 que ocorre um estreitamento das ligaes entre as
foras policiais e o exrcito, perodo em que se inicia um processo de submisso
dessas foras, particularmente a do Estado de So Paulo, ao governo central.
Aps a Revoluo de 1930, o governo decreta vrias leis centralizando todos os
assuntos relativos s foras policiais e determinando que fossem consideradas
105
FERNANDES, H. Poltica e Segurana. So Paulo, Alfa-Omega.
106
Vitor Nunes Leal considera a organizao policial um dos mais slidos sustentculos do
coronelismo durante a Primeira Repblica e destaca o papel desempenhado pela polcia militar
durante as eleies. Ver Coronelismo, Enxada e Voto, p. 145-146.
107
CARVALHO, J. M. As Foras Armadas na Primeira Repblica. In: FAUSTO, B. (org.). Histria
Geral da Civilizao Brasileira, p. 229-231.
49
reservas do exrcito, podendo ser mobilizadas e coordenadas pelo governo
federal. Essa l egislao passou a vincular as polcias militares estaduais ao
exrcito at que essa determinao se tornasse lei constitucional em 1934:
As Polcias Militares so consideradas reservas do Exrcito e
gozaro das mesmas vantagens a este atribudas, quando
mobilizadas ou a servio da Unio.
108
O governo federal aumentou o controle sobre as polcias estaduais e
dessa maneira diminuiu a influncia da Fora Pblica paulista como instrumento
poltico do Estado no mbito da federao. Tratava-se de tomar providncias
para reduzir o poder da fora policial que se havia mobilizado para defender a
ordem vigente quando eclodiu a Revoluo de 30 e que se voltou contra o poder
central durante a Revoluo Constitucionalista, em 1932. A partir de ento, o
governo federal publicou uma srie de leis e decretos visando a controlar as
polcias estaduais. Dentre eles se destaca a lei n 192, de 1936, que
reorganizava as polcias militares, determinando alm da competncia ordinria
de garantia da ordem pblica e segurana das instituies, a competncia de
atender a convocao do governo federal em caso de guerra externa ou grave
comoo intestina segundo a lei de mobilizao, reiterando sua condio de
reserva do exrcito prevista na Constituio de 1934.
109
A medida de vincular as polcias ao exrcito, como sua reserva, tinha
como objetivo o controle de foras cujo poderio era reconhecidamente grande. O
propsito do governo federal no consistia em aumentar a militarizao, mas em
submeter as foras policiais estaduais a seu domnio. Prova disso um decreto
de 1942
110
, que revela uma tentativa de dissoluo da Fora Policial de So
108
Constituio de 1934, artigo 167. A mesma Constituio atribuiu, em seu artigo 5 , a
competncia privativa da Unio para legislar sobre organizao, instruo, justia e garantias das
foras policiais estaduais e tambm sobre as condies de sua mobilizao em caso de guerra.
109
Lei federal n 192, de 17/1/1936, artigos 1 e 2. Essa lei vigoraria durante 31 anos, at ser
regovada pelo Decreto-lei 367/67.
110
Decreto-lei 12.755 (17/7/1942). As Guardas Policiais seriam institudas nos municpios
50
Paulo pelo interventor federal no Estado, ao determinar a criao de Guardas
Policiais que haveriam de substituir os destacamentos da Fora Policial e
passariam a executar os servios que lhe eram designados, ficando
subordinadas ao delegado de polcia. Dada a forte reao da corporao, o
decreto no entrou em vigor.
Se desde 1930 Vargas buscava um meio de controlar a fora paulista - e o
decreto de 1942 representa uma tentativa do governo de reduzir o poder da
Fora Pblica subordinando-a autoridade civil
111
-, as medidas de centralizao
dos assuntos referentes s polcias estaduais e a possibilidade de incorporao
ao Exrcito acabaram reforando o modelo militar das foras policiais. Com a
instaurao do Estado Novo, vrias polcias estaduais - entre elas a de So
Paulo - foram incorporadas ao exrcito nacional. A Fora Pblica ficou
subordinada diretamente ao interventor federal em So Paulo e passou a atuar
como fora auxiliar do governo ditatorial, reprimindo os poucos movimentos de
oposio ditadura.
112
A interventoria federal no Estado passou a fixar efetivo,
armamento, despesas e a organizao dessa e de outras corporaes policiais,
iniciativas que dependiam da aprovao do Presidente da Repblica.
113
Pela
primeira vez, adotou-se o regulamento disciplinar do exrcito na Fora Pblica do
Estado de So Paulo, fato que por si s bastante indicativo do alargamento de
padres militares dentro da fora policial.
114
Aps 1937, promoveu-se uma
paulistas, exceto nas cidades de So Paulo, Santos, Campinas e Ribeiro Preto.
111
DALLARI, D. A. O Pequeno Exrcito Paulista. So Paulo, Perspectiva, 1977, p. 72. O decreto de
1942 no significou propriamente desmilitarizao (pois as Guardas seriam comandadas por
oficiais ou graduados da Fora Policial, da qual receberiam instruo militar, fardamento e
armamento), mas subordinao da Fora Policial autoridade civil - o Delegado de Polcia.
(Decreto-lei 12755, de 17/7/1942, artigo 3 ). De qualquer forma, essa medida diminuiria o poder
da fora policial militar.
112
Ver DALLARI, D. A. O Pequeno Exrcito Paulista. So Paulo, Perspectiva, 1977, p. 67-72. No
novo contexto poltico, em que o Estado de So Paulo no apresenta mais resistncia ao poder
central, a Fora Pblica deixa de significar ameaa e passa a desempenhar um novo papel,
auxiliando o governo federal.
113
Decreto-lei 1202 (8/4/1939) e decreto-lei 5511 (21/5/43), que alterou o anterior, aumentando o
controle sobre os assuntos relativos polcia ao submet-los ao exame do Conselho
Administrativo (cujos membros eram nomeados pelo Presidente da Repblica).
114
O Decreto n 8764 de 29/11/1937 (do Interventor Federal no Estado de So Paulo) determinou
a adoo na Fora Pblica do regulamento disciplinar do exrcito que fora aprovado por decreto
federal em agosto de 1937. Quanto subordinao ao Interventor no Estado, ver decretos 8766
51
distoro doutrinria e as polcias militares estaduais sofreram mais um
treinamento militar que uma preparao policial. Na ocasio da decretao do
Estado Novo, as polcias se encontravam aquarteladas e foram instrudas,
uniformizadas e dotadas de armamentos como se fossem o prprio Exrcito.
115
A
Constituio de 1937 reafirmou a competncia da Unio para legislar sobre a
utilizao das foras policiais estaduais como reservas do Exrcito
116
e em 1943
foi elaborado um regulamento disciplinar para a fora pblica, que atualmente
est em vigor.
117
Em 1946, verificou-se pela primeira vez em lei constitucional a
definio da competncia das polcias militares para segurana interna e
manuteno da ordem, sendo mantida sua condio de reserva do Exrcito,
prevista nas Constituies anteriores:
As Polcias Militares, institudas para a segurana interna e a
manuteno da ordem nos Estados, nos Territrios e no Distrito
Federal, so consideradas como foras auxiliares, reserva do
Exrcito.
118
A maior nfase em sua condio de reserva do exrcito e sua obrigao
de atender convocao do governo federal, em prejuzo da atribuio de
policiamento, certamente se refletia na prtica policial. lamentvel que a
estrutura e a filosofia em que estavam assentadas as Corporaes, bem como a
doutrina tradicional de seu emprego, ministrada em suas Escolas de Formao e
Centros de Instruo prejudicassem, profundamente, a moderna idia explcita na
nova Constituio, continuando as Polcias Militares, na prtica, a executar
tarefas atribudas a Fora Terrestre e consideradas, ainda, como suas reservas
(29/11/1937); 1202 (8/4/1939) e 5511 (21/5/1943).
115
SOUZA, B. C. 1986. A Polcia Militar na Constituio. So Paulo, Livraria Editora Universitria de
Direito, p. 39.
116
Constituio de 1937, artigo 16, pargrafo 26.
117
Decreto 13657 (9/11/43).
118
Constituio de 1946, artigo 183. Esse mesmo artigo atribua ao pessoal das polcias militares
as mesmas vantagens atribudas ao pessoal do exrcito quando a corporao fosse mobilizada a
52
operacionais.
119
O textos constitucionais anteriores ao de 1946 no definem
outra competncia das polcias militares seno a de cumpri r as obrigaes de
reserva do Exrcito. E a lei federal 192/36, antes mesmo de definir suas
atribuies de policiamento, estabelece no artigo primeiro sua condio de
reserva do Exrcito.
Com a instaurao do regime autoritrio em 1964, a competncia das
polcias militares foi alargada e as relaes entre polcia e exrcito se
estreitaram. A partir de 1967, a legislao acentuou progressivamente a
subordinao das polcias militares ao poder federal, at que fossem submetidas
ao controle e coordenao do Ministrio do Exrcito, permanecendo sob forte
influncia da ideologia ento dominante. Nesse perodo, destacam-se os
decretos 317/67 e 667/69,
120
que reestruturaram a organizao policial e
explicitaram detalhadamente todos os assuntos referentes s polcias militares.
Em virtude da edio do decreto-lei 667/1969, que atribuiu exclusivamente s
PMs o policiamento ostensivo fardado, foram retiradas das ruas as Guardas
Civis, que havia longos anos, executavam muito bem esta tarefa.
121
Encarregou-
se a fora militarizada de exercer com exclusividade uma funo eminentemente
civil.
O mesmo decreto determinou que o Ministrio do Exrcito controlasse a
instruo militar das polcias militares atravs da Inspetoria Geral das Polcias
Militares.
122
Tais medidas demonstram o interesse do governo federal em
controlar diretamente as polcias militares, exatamente no perodo em que essas
foras foram engajadas, juntamente com outros organismos de segurana, no
combate oposio poltica considerada subversiva. As polcias militares, ao
lado dos trs ramos das Foras Armadas, integravam os rgos e organizaes
servio da Unio em tempo de guerra externa ou civil.
119
SENA, D. R. apud SOUZA, B. C. A Polcia Militar na Constituio, p. 52.
120
O decreto 317/67 revogou a lei federal 192/36; o decreto 667/69 substituiu o 317/67.
121
MORAES, A. M. Polcia: problemas e solues. Revista da Associao dos Delegados de Polcia
do Estado de So Paulo, 8, 1980, p. 129.
122
Decreto-lei 667/69, artigos 13 e 21. A Inspetoria Geral das Polcias Militares um rgo do
Estado-Maior do Exrcito. Esse decreto ainda est em vigor, com algumas alteraes.
53
diretamente responsveis pelas aes repressivas no mbito local, os quais
constituam "elemento relevante" do aparato repressivo do Estado montado a
partir de 1964.
123
Se at 1967 as polcias estaduais eram empregadas na
represso fsica atravs da Secretaria Estadual de Segurana Pblica, com a
reorganizao das foras policiais, em 1969, as polcias militares foram
diretamente envolvidas na represso dissenso popula r, sob controle
operacional do Exrcito. Cabe lembrar que a Polcia Militar foi criada como fora
independente em cada estado, com unidades de comando autnomas e
responsveis perante o governador. No Estado de Segurana Nacional, a Polcia
Militar foi subordinada ao Exrcito. Ela conta com suas prprias divises de
segunda seo. Cada polcia estadual, embora oficialmente independente do
Exrcito, controlada pelo Secretrio de Segurana Pblica, nomeado com
aprovao do governo federal. Desse modo, as polcias militares tambm so
em grande parte controladas pelo governo federal.
124
A fora policial militarizada foi integrada ao aparato repressivo do Estado
e seguiu as imposies do governo autoritrio para reprimir dissidentes polticos
e manter o controle social, sem nenhum respeito aos direitos civis,
evidentemente. Aps o golpe e durante a dcada de 70, o aparato estatal
empenhou-se em tomar medidas repressivas em nome da segurana nacional.
Tais medidas no se limitaram aos expurgos promovidos em rgos pblicos e
burocrticos para afastar funcionrios envolvidos em atividades consideradas
subversivas. A represso direta da populao logo foi defendida pelos crculos
militares linha-dura e assim foram realizadas operaes policial-militares de
deteno em massa, com bloqueio de ruas, buscas e revistas que resultavam em
violao de direitos, como espancamentos e tortura.
125
123
Alm desses rgos, Maria Helena Moreira Alves identifica a vasta rede de informao poltica
e os aparatos das foras armadas usados no controle poltico interno como elementos bsicos da
engrenagem do aparato repressivo. (Estado e oposio no Brasil - 1964-1984).
124
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984). 5 ed. Petrpolis, Vozes, (1984)
1989, p. 175-176.
125
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984), p. 59.
54
Em So Paulo, destacam-se as operaes militares promovidas pelas
foras de segurana a partir de 1975, que provocaram graves violaes, como a
morte do jornalista Vladimir Herzog e do metalrgico Manoel Fiel Filho, e a
violenta represso policial contra manifestaes estudantis. No contexto ps-Ato
institucional n. 5, a violncia da represso ameaava todos os membros da
sociedade civil, sem distino de classe.
126
Durante a transio, a continuidade
da represso policial contra os trabalhadores nas greves ocorridas entre 1978 e
1980 marcou os limites da abertura poltica: a liberalizao no se aplicava
classe trabalhadora. A represso, que por um perodo atingiu toda a sociedade,
voltou-se notadamente contra os metalrgicos organizados para desafiar a
poltica salarial.
127
No incio dos anos 80, em um contexto de crise econmica e social que
provocou diversas greves e protestos, o governador de oposio eleito em So
Paulo, Franco Montoro, logo sentiu o peso e o efeito da linha repressiva imposta
s foras policiais pelo governo central. Em razo de decreto federal promulgado
em 1983 aps a ecloso das greves, os governadores foram obrigados a
reprimir manifestaes para no perder o controle sobre suas polcias,
responsabilizando-se pelos atos de represso praticados nessas ocasies.
128
Em So Paulo, especialmente na regio do ABCD, a violncia policial marcou a
greve geral organizada em julho de 1983, quando mais de 800 pessoas foram
detidas, e muitas ficaram feridas nos espancamentos indiscriminados".
129
M. H.
M. Alves comenta a situao enfrentada pelos governos democraticamente
eleitos em relao s foras policiais estaduais, sobre tudo as polcias militares:
126
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984), p. 204-221.
127
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984), p. 256-261.
128
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984), p. 301-312. O decreto 88.540
(20/07/1983), promulgado na vspera de uma greve geral, ampliou os poderes do Executivo federal
para convocar as foras policiais militares estaduais, deixando os governadores de oposio em
situao difcil.
129
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984), p. 304.
55
Na realidade, o mais difcil fator administrativo para os governos de
oposio tem sido a implementao de uma poltica coerente para
as foras policiais, principalmente devido ao contexto de extrema
crise social e conseqente crescente violncia. A resistncia das
polcias locais e a influncia apenas parcial que os governos dos
Estados exercem sobre a Polcia Militar agravam a dificuldade no
trato de uma situao explosiva. De qualquer modo, o fato de que
mesmo sob governos democraticamente eleitos os desempregados
e os grevistas tenham sido detidos e espancados nas ruas provocou
srias crticas aos governos de oposio. (...) Por estarem inseridos
no sistema autoritrio, herdeiros de um aparelho administrativo
limitado e por vezes viciado, os governadores de oposio
enfrentaram srias dificuldades no controle de suas foras policiais e
no planejamento das finanas e programas econmicos dos seus
Estados.
130
Na avaliao de Alves, sob as amarras do autoritarismo, os governantes
adaptaram-se s estruturas administrativas e de poder em vigor, em vez de tentar
modific-las.
131
No caso de So Paulo, houve empenho por parte do governo
Montoro em reformar as polcias, mas a PM apresentou fortes resistncias,
chegando mesmo a boicotar sua poltica de segurana.
132
No processo de transio para a democracia, as polcias militares
continuaram empregando mtodos violentos e arbitrrios contra a populao no
combate criminalidade comum. A ideologia da segurana nacional exerceu
influncia sobre a atividade de policiamento e a representao do inimigo
interno, no novo contexto poltico, foi preenchida por criminosos comuns e
suspeitos.
133
Essa adaptao da ideologia de guerra contra o inimigo interno,
130
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984), p. 311-312.
131
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984), p. 311-312.
132
MINGARDI, G. Tiras, Gansos e Trutas. So Paulo, Scritta, 1991. Sobre o governo Montoro, ver
no prefcio o depoimento de Paulo Srgio Pinheiro.
133
PINHEIRO, P. S. 1982. Polcia e Crise Poltica: o caso das polcias militares. In: PAOLI, M.
C. et alii (org.). A Violncia Brasileira. So Paulo, Brasiliense, p. 64-67.
56
no momento em que as foras de segurana passaram a priorizar a luta contra a
criminalidade, manteve o carter violento da atuao policial no trato da
populao, agravado pela herana das prticas do regime autoritrio. O conceito
de segurana nacional, durante o autoritarismo, era bastante abrangente e
impedia a tipificao jurdica de uma conduta ilegal dos agentes da represso.
134
essa mesma polcia, integrante do aparato repressivo do Estado, que passou a
atuar na atividade de segurana pblica no contexto democrtico.
A violncia policial se manifesta como conseqncia direta da
incongruncia entre a concepo de segurana vigente no mbito dos
organismos policiais e as expectativas de democratizao. A bibliografia
demonstra que a orientao predominante da polcia militar tendia a valorizar o
policial violento, com premiaes a ocorrncias violentas e mensurao da
eficincia da corporao pelo nmero de bandidos mortos.
Desenvolveu-se
uma lgica perversa de produtividade para a qual a eliminao de marginais
constitua um dos atributos do trabalho policial. Se houvesse erro, se a ao
policial violasse direitos do cidado de bem, seria uma fatalidade, um risco da
atividade profissional.
135
Cabe ressaltar que a mensurao do trabalho policial
um problema universal e em razo da dificuldade de medir o trabalho preventivo
da polcia, valorizam-se as atividades repressivas que podem ser quantificadas,
como prises e flagrantes. No contexto do Brasil ps-autoritarismo, um vis
extremado dessa lgica repressiva transformou a eliminao de bandidos em
medida da eficcia policial na conteno da criminalidade. A lgica do
autoritarismo, que instrumentalizava a polcia com base na ideologia do inimigo
interno para servir a seus interesses, foi reelaborada pela organizao policial
como um mtodo de conteno da crescente criminalidade comum, como um
critrio de aferio do desempenho profissional. Dentro da organizao, os
efeitos dessa instrumentalizao da instituio policial pelo poder poltico
134
LAFER, C. O Sistema Poltico Brasileiro. So Paulo, Editora Perspectiva, 1975.
135
FERNANDES, H. No h mais canibais na nossa terra, comemos o ltimo ontem. Recife,
nov./1993 (mimeo). PINHEIRO, P. S. 1982. Polcia e crise poltica: o caso das polcias
militares. In: PAOLI, M. C. et alii (org.). A Violncia Brasileira. So Paulo, Brasiliense, p. 84-85.
BARCELLOS, C. 1993. Rota 66. Histria da polcia que mata. So Paulo, Globo.
57
autoritrio obviamente no desaparecem com a promulgao da Constituio de
1988, mesmo que os jovens policiais declarem com indignao: Ns
ingressamos na PM recentemente, no temos nada a ver com o que fizeram na
ditadura!.
Aps a abertura poltica, a permanncia, sem alteraes significativas, do
aparato legal elaborado durante o regime militar para reestruturao das polcias
e os mecanismos organizacionais viciados pela ideologia autoritria do o tom
da concepo de segurana pblica predominante. Os princpios constitucionais
estabelecidos em 1988 no foram suficientemente incorporados na ao policial
e a violncia ilegal persiste, agora voltada sobretudo contra cidados sem
nenhuma culpa formalizada, os "suspeitos".
2- A Justia Militar Estadual
O controle da atividade policial constitui elemento indispensvel de uma
concepo democrtica de segurana. No caso especfico da polcia, preciso
considerar que os riscos de desvios de suas finalidades so inerentes
instituio. A fora monopolizada pelo Estado e administrada pela polcia no
mbito interno pode ser desvirtuada em benefcio da autoridade poltica que a
comanda, assim como em funo dos interesses do grupo profissional ao qual
confiada. Como essas duas formas de desvio so estruturais, h necessidade de
estabelecer um controle igualmente estrutural sobre a instituio.
136
Em regimes autoritrios, em que flagrante a instrumentalizao da
polcia pela autoridade poltica para servir a fins repressivos, no cabe a idia de
controle social da instituio. J na maioria das democracias ocidentais, o
interesse legtimo em impedir tanto a instrumentalizao quanto os possveis
desvios provocados pela prpria corporao conduz a uma minuciosa
Agradeo ao Ministro Nelson Jobim, pela pesquisa sobre a legislao, que veio complementar
este trabalho.
136
Ver ELIAS, N. Violence and Civilization: the state monopoly of physical violence and its
infringement. MONJARDET, D. Ce que fait la police, p. 25.
58
regulamentao legal da atividade policial.
137
Impe-se um rigoroso sistema de
controle orga nizao cuja cultura profissional tem como um de seus traos mais
fortes a idia de que a lei, reverenciada em princpio, na prtica um obstculo
ao trabalho eficaz.
138
Pode-se deduzir que no trato da criminalidade que esse trao da cultura
policial, a tendncia de subestimar a lei em nome do desempenho profissional,
se revela mais forte. No caso brasileiro, a conduta margem da lei no combate
criminalidade comum muitas vezes reiterada na relao entre a polcia e
aqueles que no so considerados cidados plenos de direitos, o que amplia o
alvo das ilegalidades cometidas pela polcia e agrava o problema da violncia. A
instituio de mecanismos de controle e represso de comportamentos abusivos
e ilegais pois fundamental para coibir a violncia policial.
No Estado de So Paulo, Ministrio Pblico, Corregedoria, Justia militar
estadual e Ouvidoria da Polcia
139
constituem mecanismos de controle
institucional da Polcia Militar. O Ministrio Pblico possui a atribuio de controle
externo da polcia
140
, podendo acompanhar as investigaes que apuram crimes
de policiais militares. recente a regulamentao legal dessa atribuio prevista
na Constituio e no h sinais, por enquanto, de uma atuao conjunta da
instituio no sentido de tornar efetivo esse controle.
141
A Corregedoria um rgo de controle interno da prpria PM, que recebe
queixas contra policiais (queixas internas, dos policiais contra seus pares, e
externas, dos cidados contra policiais) e tem competncia para apurar crimes
militares, faltas disciplinares e realizar sindicncias.
142
As denncias que se
137
MONJARDET, D. Ce que fait la police, p. 22.
138
MONJARDET, D. Ce que fait la police, p. 27.
139
A Ouvidoria da Polcia foi criada recentemente no Estado de So Paulo. Ser abordada na
parte final deste estudo.
140
Constituio Federal, art. 129, inciso 7 .
141
Ver Human Rights Watch/Americas. Brutalidade Policial Urbana no Brasil, p. 26-27. Esse
relatrio indica que as denncias de homicdios cometidos pela polcia contra suspeitos
raramente so investigadas por promotores, seja pela dificuldade de coletar provas contra
policiais, seja pela omisso do Ministrio Pblico. Talvez a prpria estrutura da instituio seja
insuficiente para que esse trabalho se realize com sucesso.
142
Decreto 31.318 (23/3/90).
59
enquadram no mbito criminal so encaminhadas Justia militar estadual. Esta
instituio de controle judicial considerada, neste estudo, o principal rgo com
poder de responsabilizao dos integrantes da polcia militar. Trata-se de um foro
especial que faz parte do poder judicirio, assim como a Justia eleitoral e a
Justia do trabalho, competente para processar e julgar os policiais militares nos
crimes militares definidos em lei. De acordo com a legislao vigente, dentre os
crimes militares se incluem aqueles praticados por policiais militares contra civis
durante o exerccio da atividade de policiamento,
143
tais como homicdio culposo,
leso corporal e espancamento. At 1996 era considerado crime militar tambm
o homicdio doloso, quando a lei 9299//96 transferiu para a Justia comum a
competncia de processar e julgar policiais militares que cometessem esse
crime.
Limitao da competncia da Justia Militar Estadual
Desde o incio da redemocratizao, a violncia policial vem sendo
associada ao desempenho da Justia militar, na medida em que esta funcionaria
de forma corporativa e no puniria atos ilegais praticados contra civis
considerados bandidos ou suspeitos. Esses questionamentos sobre o
funcionamento da Justia militar motivaram a formulao de projetos de lei com
vistas a limitar sua competncia, transferindo os crimes cometidos por policiais
militares contra civis para a alada da Justia comum. Aps um longo perodo em
tramitao na Cmara Federal e no Senado, tais projetos resultaram na
aprovao da lei 9299/96, que reduziu a competncia da instituio, mas ficou
aqum da proposta original. A polarizao em torno da questo repercutiu
publicamente durante todo o processo de tramitao da lei (1992-1996). Sua
aprovao no foi pacfica, o projeto original sofreu alteraes substantivas e
durante esses anos travou-se uma disputa entre os que buscavam uma limitao
143
Constituio Federal, art. 125, pargrafo 4 ; Cdigo Penal Militar, art. 9 .
60
rigorosa da competncia da Justia militar estadual e os que procuravam impedir
a mudana.
Pela aprovao do projeto empenharam-se organizaes no
governamentais de defesa dos direitos humanos, polticos, intelectuais, juzes e o
prprio governo federal. Destacam-se as atuaes do ento deputado federal
Hlio Bicudo (PT), autor de projetos de lei e articulador das foras polticas no
mbito do poder legislativo; do governo federal, que reforou o projeto de Bicudo
mediante a ao do ministro da Justia e incluiu a proposta no Programa
Nacional de Direitos Humanos;
144
da Associao Juzes para a Democracia e de
alguns intelectuais, que a apoiaram publicamente. Manifestaram-se pela
perpetuao do modelo vigente polticos, policiais e juzes militares, que
armaram forte oposio e pressionaram o Congresso Nacional para modificar a
proposta, com o objetivo de reduzir seus efeitos sobre a Justia militar
145
.
Por um lado, sustenta-se que o funcionamento da Justia militar estadual
no corresponde aos padres de sistemas jurdicos democrticos.
146
Sua ampla
competncia, que compreende crimes tipicamente militares
147
e crimes
praticados por policiais contra civis, foi imposta pela Emenda Constitucional n 7,
de 13/4/1977. Essa larga atribuio, inexistente em outras democracias, vincula a
instituio ao regime autoritrio e constitui um privilgio injustificvel aos policiais
militares. Consiste em um mecanismo contrrio ao princpio da isonomia, pois ao
permitir um tratamento privilegiado aos militares, no reconhece a igualdade de
144
A reduo da competncia da Justia Militar aos crimes tipicamente militares uma das
metas do Programa Nacional de Direitos Humanos. Governo Fernando Henrique Cardoso. Braslia,
Presidncia da Repblica, Secretaria de Comunicao Social, Ministrio da Justia, 1996, p. 18.
145
Nesse perodo, destacam-se entre os principais defensores da Justia Militar o desembargador
lvaro Lazzarini (Desembargador do Tribunal de Justia-SP e professor da Academia de Polcia
Militar do Barro Branco); Getlio Corra, juiz auditor da Justia Militar de Santa Catarina; alguns
juzes militares e os parlamentares que defendem o lobby das polcias militares no Congresso.
146
As observaes na seqncia se baseiam em opinies publicadas na imprensa. Ver listagem
dos artigos pesquisados na Bibliografia.
147
Os crimes tipicamente ou propriamente militares so aqueles previstos unicamente no Cdigo
Penal Militar (Decreto-Lei 1001/69). So crimes que atentam contra a disciplina e a hierarquia
militares; entre outros, motim, revolta, insubordinao, desero, dormir em servio etc. Os
crimes impropriamente militares so aqueles previstos tanto no Cdigo Penal Militar quanto no
Cdigo Penal comum. No caso de cometer esses crimes, o militar submetido ao primeiro; o
civil, ao segundo.
61
todos perante a lei.
148
A Justia militar ainda seria permeada pelo corporativismo,
julgando rigorosamente os crimes que representam uma ameaa para a
organizao militar, como a corrupo e a indisciplina, e sendo complacente nos
casos de violncia praticada pelos policiais contra a populao. Como a polcia
investiga e julga seus prprios membros (a maioria dos juzes militar e a
investigao realizada por autoridades militares atravs do inqurito policial
militar), tem-se um sistema incapaz de assegurar o devido processo legal s
vtimas de policiais cr iminosos, dando margem impunidade e violncia. Por
fim, entende-se que a competncia da Justia militar, em um regime
democrtico, se limita ao processo e ao julgamento de infraes disciplinares e
crimes propriamente militares (diretamente relacionados atividade militar), no
compreendendo os delitos comuns dos policiais militares.
Por outro lado, procura-se mostrar que a Justia militar uma instituio
adequada normalidade democrtica. Contesta -se seu vnculo com o regime
autoritrio de 1964, visto ter sido criada na dcada de 30. O fato de a ampliao
de sua competncia ter ocorrido durante o ltimo regime autoritrio no
considerado significativo, pois a Constituio de 1988 manteve essa alterao,
consagrando democraticamente a competncia da Justia militar para processar
e julgar delitos de PMs cometidos em aes policiais. Contra o argumento de ser
a Justia militar um foro privilegiado, alega-se que o militar no um cidado
comum, e por isso possui prerrogativas funcionais, no privilgios. Os crimes
definidos em lei como militares seriam funcionais, considerando-se a
especialidade da funo dos servidores militares, cujo instrumento de trabalho
a arma e o respeito disciplina e hierarquia so obrigaes fundamentais da
profisso. As acusaes de corporativismo e impunidade no seriam
procedentes, em virtude do poder de fiscalizao do Ministrio Pblico e da
148
As justias militares pretendem conciliar conceitos irreconciliveis: o ideal de justia baseado
na igualdade e democracia, e a hierarquia militar, que por definio s pode basear-se na
antidemocracia da diferena entre o que manda e o que obedece, de cujo topo sai parte dos
juzes (CINTRA JR. Dirceu Aguiar Dias. Judicirio e Reforma. Folha de S. Paulo, 12/11/94). A
Associao Juzes para a Democracia tem uma posio diferenciada (e mais difcil de ser
concretizada) a respeito da JM. Em nome da existncia de um nico Judicirio para todos os
cidados, inclusive os militares, esses juzes defendem a extino de todas as Justias Militares
62
possibilidade de recorrer das decises s instncias superiores, Superior
Tribunal de Justia e Supremo Tribunal Federal. Argumenta-se que seus crticos
antes deveriam questionar a ao dos promotores e procuradores do Ministrio
Pblico em sua qualidade de fiscais da lei. Finalmente, atribuir Justia militar
apenas crimes propriamente militares provocaria o esvaziamento de sua
competncia e sobrecarregaria ainda mais as varas da Justia comum.
O tortuoso processo legislativo que resultou na aprovao da lei 9299/96
d a dimenso dessa disputa em torno da Justia militar. Os projetos de lei que
propunham mudanas nos Cdigos Penal Militar e de Processo Penal Militar,
com o propsito de restringir o conceito de crime militar, tramitaram entre 1992 e
1996. O projeto de lei 2801-B/92, resultante de proposta do relatrio final da
Comisso Parlamentar de Inqurito destinada a investigar o extermnio de
crianas e adolescentes
149
, foi apresentado em fevereiro de 1992. A comisso
apurou o freqente envolvimento de policiais militares em homicdios de crianas
e adolescentes e constatou que o julgamento desses policiais na Justia militar
prejudicado pelo corporativismo, contribuindo para a impunidade de policiais
criminosos. O projeto altera o artigo 9 do Cdigo Penal Militar e o artigo 82 do
Cdigo de Processo Penal Militar, remetendo Justia comum o julgamento de
crimes cometidos por agente militar contra civis em tempos de paz.
Em novembro de 1992, o deputado federal Hlio Bicudo (PT-SP)
apresentou o projeto de lei 3321/92,
150
com o objetivo de limitar a competncia da
Justia militar aos crimes tipicamente militares, transferindo para a Justia
comum o processo e o julgamento dos delitos praticados por policiais militares
contra civis em funo de policiamento. O projeto altera o artigo 9 do Cdigo
Penal Militar (Decreto-lei 1001/69), propondo a revogao da letra f, II, artigo 9
151
e o acrscimo de um pargrafo nico a esse artigo, seguindo os moldes da
- federal e estadual.
149
Presidida pela deputada federal Rita Camata (PMDB-ES).
150
Embora tenha como co-autor o deputado federal Cunha Bueno (PPB-SP), o projeto uma das
grandes causas do deputado federal Hlio Bicudo (PT-SP).
151
A letra f do artigo 9 do Cdigo Penal Militar define como crime militar aquele praticado por
militar que, mesmo fora de servio, use armamento de propriedade militar. Assim, um policial
63
smula 297 do Supremo Tribunal Federal: Oficiais e praas das milcias dos
Estados no exerccio de funo policial civil, como tal considerado todo e qualquer
servio de policiamento, no so considerados militares para efeitos penais, sendo
competente a Justia comum para julgar os crimes cometidos por ou contra eles.
Em 15 de novembro de 1992, o projeto de lei 3321/92 foi apensado ao projeto de
lei 2801/92. Dentre as emendas apresentadas no Plenrio da Cmara Federal
ao projeto de lei 2801/92, distingue-se a subemenda substitutiva elaborada pelo
relator da Comisso de Constituio e Justia, deputado Ibrahim Abi-Ackel
(PPB-MG), a qual determina que somente os crimes dolosos contra a vida no
sejam considerados crimes militares.
No decorrer da discusso em plenrio, em maio de 1993, foi apresentada
uma emenda para modificar o projeto 2801/92, aglutinando a ele a subemenda
substitutiva da Comisso de Constituio e Justia e Redao.
152
Essa emenda,
defendida pela liderana do PMDB, segue a proposta de Abi-Ackel e fixa a
competncia da Justia comum para processar e julgar policiais militares apenas
nos crimes dolosos contra a vida de civis. No caso desses crimes, as concluses
do inqurito policial militar so encaminhadas Justia comum, sendo a Justia
militar competente para processar e julgar os demais crimes previstos no Cdigo
de Processo Penal Militar. Permanecem sob jurisdio da Justia militar os
crimes de espancamento, leses corporais, homicdios culposos, prises ilegais,
tortura, extorso, estupro etc. Esse projeto de lei foi aprovado na Cmara Federal
em 19 de maio de 1993 e encaminhado ao Senado como projeto de lei da
Cmara n 102/93. Permaneceu em tramitao na Comisso de Constituio e
Justia do Senado at 1995.
Em junho de 1995, o senador Roberto Freire (PPS-PE) recuperou a
redao original do projeto em parecer apresentado Comisso de Constituio
e Justia do Senado. Como relator da comisso, o senador props um
militar que comete um crime comum, como assalto ou homicdio, com a arma da corporao
militar, julgado pela Justia Militar.
152
Emenda Aglutinativa ao Projeto de lei 2801-B/92: altera o artigo 9 do Cdigo Penal Militar e o
artigo 82 do Cdigo de Processo Penal Militar (maio de 1993).
64
Substitutivo ao Projeto de Lei da Cmara n 102/93, que define como crimes
comuns (no militares) aqueles cometidos por policiais militares no exerccio de
atividade de segurana pblica, contra civis, e aqueles praticados fora de servio
ou de cumprimento de misso. Estabelece a competncia da Justia comum
para julg-los e da Justia militar para julgar os crimes militares definidos em lei.
Em agosto de 1995, a Comisso de Constituio e Justia rejeitou o
parecer do relator por maioria de votos, sendo vencidos os votos dos senadores
Roberto Freire, Jos Eduardo Dutra e Ademir Andrade (14 x 3). Rejeitou-se o
substitutivo do relator Roberto Freire, que restitua a situao aos termos da
smula 297 do Supremo Tribunal Federal, e aprovou-se o texto na forma do
projeto 102/93 (que havia alterado o original, determinando a competncia da
Justia Comum apenas nos casos de crimes dolosos contra a vida de civis
cometidos por policiais militares). Nessa forma permaneceu o projeto no Senado
aguardando votao.
Em 30 de agosto de 1995, o deputado Hlio Bicudo entrou com novo
projeto de lei (899/95), abandonando o primeiro, que havia sido substancialmente
alterado no Senado. Com isso, dois projetos de lei a respeito da Justia militar
ficaram em tramitao: o projeto de lei 102/93 (do original 2801/92), j aprovado
na Cmara dos Deputados, determinando competente a Justia comum para
julgar apenas os homicdios dolosos cometidos por policiais militares contra a
vida de civis; e o projeto de lei 899/95, que transfere todos os crimes comuns
cometidos por policiais militares para a Justia comum, mantendo apenas os
crimes tipicamente militares na Justia militar. Este ltimo foi apoiado pelo
governo federal mediante ao do ento ministro da Justia, Nelson Jobim.
Em seu segundo projeto relativo Justia militar estadual ( 899/95), o
deputado Hlio Bicudo recupera novamente a concepo da smula 297 do
Supremo Tribunal Federal, transferindo para a Justia comum todos os crimes
comuns praticados por policiais militares contra civis (homicdios dolosos e
culposos, leses corporais, priso ilegal, corrupo, etc), estando ou no o
agente em servio. O projeto desmilitariza as infraes penais cometidas por
65
policiais militares ou bombeiros militares nas condies previstas no artigo 9 do
Cdigo Penal Militar, quando praticadas contra civil durante o exerccio de
policiamento e em atividades que no guardam relao com o servio policial
militar ou com o cumprimento de misso de igual natureza. Possibilita que os
inquritos instaurados para apurao dos crimes mencionados nessa lei sejam
avocados pelo Ministrio Pblico, a critrio do procurador-geral de Justia.
No Plenrio foram apresentadas trs emendas e o projeto original foi
novamente modificado atravs do Substitutivo ao Projeto de lei 899/95
(elaborado pelo relator da Comisso de Defesa Nacional, deputado Jos
Genono, em negociao com o ministro da Justia, Nelson Jobim), que retirou a
possibilidade de interveno do Ministrio Pblico nas investigaes e manteve
o inqurito nas mos da autoridade policial militar. Este substitutivo foi votado em
regime de urgncia urgentssima e aprovado na Cmara dos Deputados em 24
de janeiro de 1996. Na mesma data foi remetido ao Senado, onde foi identificado
como projeto de lei da Cmara 13/96.
No Senado, houve forte reao e a maioria dos senadores manifestou-se
contra o projeto. Em fevereiro de 1996, o senador Joel de Holanda (PFL-PE)
solicitou a tramitao conjunta dos projetos de lei 13/96 e 102/93. Em 9 de maio
de 1996, o Senado aprovou o projeto de lei 102/93 na forma de Substitutivo ao
Projeto de lei 13/96, apresentado pelo senador Geraldo Melo (PSDB-RN), com
modificaes substantivas. Esse substitutivo restringiu ainda mais as mudanas
propostas, pois alm de atribuir Justia comum apenas os crimes dolosos
contra a vida praticados por militares, em exerccio ou fora do exerccio da
funo, fez a ressalva de que, nos casos de excludentes de criminalidade (estrito
cumprimento do dever legal, legtima defesa, estado de necessidade e exerccio
regular do direito), mantm-se os crimes contra a vida no mbito da Justia
militar. Inclui no projeto todos os militares, das polcias estaduais e das foras
armadas, e determina que o inqurito policial seja realizado por autoridade
militar, sendo responsvel a Justia militar pelo encaminhamento dos autos
66
Justia comum. Ao aprovar substitutivo quase idntico ao projeto de lei 102/93, o
Senado descaracterizou novamente a proposta do deputado Hlio Bicudo.
Em 16 de julho de 1996, o projeto votado no Senado voltou Cmara dos
Deputados para nova apreciao e foi aprovado com algumas mudanas: a
Cmara conseguiu modificar uma das alteraes feitas pelos senadores ao
suprimir a possibilidade de o militar ser julgado pela Justia militar nos casos dos
excludentes de criminalidade. Alm disso, revogou a letra f, inciso II, artigo 9 do
Cdigo Penal Militar, que define como crime militar aquele praticado por militar
que, mesmo fora de servio, use armamento de propriedade militar. Em 7 de
agosto de 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou o projeto
aprovado pelo Congresso Nacional, como lei n 9.299/96. A lei resultou na
transferncia para a Justia comum apenas dos crimes cometidos por militares
(policiais e militares das Foras Armadas) quando dolosos contra a vida de civis e
quando praticados fora de servio com armamento militar. Manteve-se o inqurito
policial nas mos da autoridade militar e atribuiu-se Justia militar a
competncia de decidir a respeito da natureza do crime, se doloso ou culposo.
Nos casos de crimes dolosos, os autos sero encaminhados Justia comum
pela Justia militar.
Aps a sano da lei 9299/96, dois novos projetos foram encaminhados e
permanecem atualmente em tramitao. Em 17 de julho de 1996, o deputado
Hlio Bicudo reapresentou projeto de lei referente Justia militar, agora
identificado como 2189/96. Recuperando o contedo de seu projeto anterior
(899/95), estabelece a transferncia de todos os crimes comuns cometidos por
policiais militares para a Justia comum, exclui os militares das Fora Armadas e
determina a conduo dos inquritos pela polcia civil ou pelo Ministrio Pblico,
que poder avoc-los. Em 20 de agosto de 1996, foi enviado ao Congresso um
projeto do governo alterando a lei que acabara de sancionar, basicamente nos
mesmos termos do projeto apresentado pelo deputado Hlio Bicudo (2189/96). O
projeto do governo restringe a lei aos policiais militares, excluindo os militares
das Foras Armadas, e transfere para a Justia comum o julgamento de todo tipo
67
de homicdio (doloso e culposo) e leses corporais cometidos por policiais
militares contra civis.
A recuperao do debate pblico e do processo legislativo comprova o
dissenso em relao finalidade atribuda Justia milit ar no atual contexto
democrtico e em relao avaliao de seu desempenho como rgo
controlador da atividade policial. Da a necessidade de uma pesquisa sobre sua
origem jurdica, estrutura e organizao para esclarecer pontos controversos em
torno desse foro especial e verificar a relao entre seu funcionamento e a
violncia policial.
2.1- Origem da Justia Militar Estadual
A Justia militar (federal) tem sua origem mais remota na criao do
Conselho Supremo Militar e de Justia e dos Conselhos de Guerra, atravs do
Alvar de 1 de abril de 1808, aps a vinda da famlia real portuguesa ao Brasil.
A primeira lei constitucional que dispe sobre a Justia militar encontra-se na
Constituio de 1891, que transformou o Conselho Supremo Militar em Supremo
Tribunal Militar e assegurou o foro especial aos militares, embora no tenha
includo a Justia militar como rgo do Poder Judicirio. A Constituio de 1934
incorporou os juzes e tribunais militares ao Poder Judicirio, desvinculando-os
das foras armadas. At ento, a Justia militar estava inserida no mbito do
Poder Executivo.
A Justia militar estadual foi criada em 1936 e instituda no Estado de So
Paulo em 1937.
153
Essas leis determinavam que os policiais militares
respondessem Justia militar es tadual pelos crimes militares definidos em lei.
Como a principal fora policial paulista era militarizada, pode-se dizer que a
criao da Justia militar estadual apenas viabilizou a aplicao da norma
153
Lei federal 192/36 e lei estadual 2856/37. A lei federal vigorou at 1967, quando foi revogada
pelo Decreto-lei 317/67. Este decreto, assim como o que o substituiu - Decreto-lei 669/69 -
manteve a mesma competncia da JM estadual: processar e julgar os policiais militares nos
crimes definidos em lei como militares.
68
existente para as foras militares federais, segundo a qual os delitos militares
deveriam ser julgados em foro especial, aos policiais do Estado. Os crimes
militares eram definidos nos cdigos de Justia militar e cdigos penais
militares.
154
O que importa ressaltar que esses cdigos no incluam o
policiamento entre os crimes militares: a competncia da Justia militar estadual
se limitava aos crimes tipicamente militares: indisciplina, insubordinao, revolta,
desero etc.
Em 1962 foi aprovada uma lei federal (Lei 4162, de 4/12/1962) que alterou
a redao do Cdigo de Justia militar ento vigente (Decreto-Lei 925, de
2/12/1938) com o objetivo de ampliar a competncia da Justia militar. Em sua
redao original, esse Cdigo determinava a competncia do foro militar para
processar e julgar crimes definidos em lei como militares:
os militares e seus assemelhados, quando praticarem crime nos
recintos dos tribunais militares ou suas dependncias, nos lugares
onde estes funcionem, nas auditorias, nos quartis, navios,
aeronaves, embarcaes, reparties e estabelecimentos militares
e quando em servio ou comisso de natureza militar, ainda que
contra civis (artigo 88, letra l).
Ou seja, Justia militar cabia apenas processar e julgar os crimes
cometidos em servio de natureza militar, no qual no se inclui o policiamento,
uma atividade civil. Quando aprovada a lei em questo, introduziu-se a seguinte
alterao:
os militares e seus assemelhados quando praticarem crimes nos
recintos dos tribunais militares, auditorias ou suas dependncias nos
lugares onde funcionam, ou nos quartis, embarcaes, aeronaves,
reparties ou estabelecimentos militares, e quando em servio ou
154
Cdigo de Justia Militar de 1926 e Cdigo Penal da Armada de 1891, que foram substitudos
pelos Cdigo de Justia Militar de 1938 e Cdigo Penal Militar de 1944.
69
comisso, mesmo de natureza policial, ainda que contra civis ou em
prejuzo da administrao civil (artigo 88, letra l).
Essa modificao significou que os policiais no mais seriam submetidos
Justia comum, e sim Justia militar, quando praticassem crimes contra civis
em funo de policiamento. Nas palavras do prprio deputado federal que a
props, a justificativa dessa alterao era a seguinte:
Muito embora o servio precpuo das polcias militares seja o
servio policial, o Colendo Supremo Tribunal Federal em decises
reiteradas, tomando letra o limite de competncia estabelecido para
os crimes praticados quando em servio ou comisso de natureza
militar, tem afirmado que o foro militar incompetente quando o
delito cometido em servio de natureza policial, tornando, assim,
praticamente, quase nula a esfera de ao dos tribunais militares
dos Estados.
No estaria, evidentemente, na inteno do legislador constituinte a
criao de um foro especial para as Polcias Militares dos Estados
restrito ao processo e julgamento de crimes cometidos em servio
de natureza militar, uma vez que estes, sendo, como so, de rara e
difcil verificao contra civis, melhor se ajuizariam no foro militar
ordinrio
155
, por isso que as mesmas Polcias se consideram
foras auxiliares, reservas do Exrcito.
156
O legislador entendia que cabia aos tribunais militares estaduais
processar e julgar os crimes cometidos por policiais militares em funo de
policiamento. Ao exercer a atividade de policiamento, os policiais ficam
encarregados de manter a segurana pblica. Isso significa que, embora
155
Trata-se da Justia Militar Federal.
156
Justi ficativa do Projeto de lei 2457/60, elaborado pelo deputado federal Cunha Bueno em 1960.
70
militares, os policiais exercem uma atividade civil. Na viso do deputado, que no
levava em conta essa distino, a competncia de julgar apenas os crimes
propriamente militares restringia muito a esfera de atuao dos tribunais militares
estaduais. Contra a legislao existente at ento, visto que os tribunais militares
estaduais foram criados para julgar os delitos militares e no os crimes comuns
dos policiais militares, essa lei aumentou bastante a esfera de atuao dos
tribunais militares estaduais. Por essa razo, gerou muitos conflitos de jurisdio
entre a Justia comum e a Justia militar, at que o Supremo Tribunal Federal
editasse em 1963 uma smula fundamentada nesses conflitos de jurisdio
decidindo que:
oficiais e praas das milcias do Estados no exerccio de funo
policial civil no so considerados militares para efeitos penais,
sendo competente a Justia Comum para julgar os crimes
cometidos por ou contra eles.
157
Em todos os conflitos de jurisdio e em um habeas corpus que
fundamentaram esta resoluo do Supremo Tribunal Federal, a deciso dos
juzes foi unnime em atribuir Justia Comum a competncia para julgar crimes
cometidos por policiais militares em atividade civil. Em alguns casos, a prpria
Justia militar suscitava o conflito de jurisdio, declarando-se incompetente para
julgar o caso. H um conflito em que o presidente do Supremo Tribunal Federal
considerou inconstitucional a alnea l do artigo 88 do Cdigo da Justia militar
em sua parte final, em que atribui competncia Justia militar para julgar os
crimes cometidos por militares ou assemelhados em servio de natureza policial
contra civis.
A partir da edio dessa smula, os policiais militares que cometessem
crimes em funo de policiamento passaram a ser julgados pela Justia comum:
157
Smula 297 do Supremo Tribunal Federal. A smula consiste em um enunciado curto que
explicita a interpretao de um tribunal superior a respeito de determinada matr ia. No
necessariamente seguida em todos os casos que dizem respeito mesma matria.
71
os conflitos de jurisdio (CJ), peties de habeas corpus (HC), recursos de
habeas corpus (RHC) e recursos extraordinrios criminais (REC) referentes a
essa questo, encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, foram resolvidos
com base nesse entendimento.
158
Durante o regime militar, os decretos 667, de 2/6/1969 (alterado pelo D.
1072/69) e 66.862, de 8/7/1970
159
definiram como funes policiais militares as
atividades exercidas por policiais militares a servio da corporao, inclusive o
policiamento ostensivo,
160
colocando em questo a validade da smula 297 do
Supremo Tribunal Federal, que considerava o policiamento uma atividade de
natureza civil. A partir de ento, em alguns casos de crimes cometidos por
policiais militares em funo de policiamento, o Supremo Tribunal Federal
baseou-se na nova legislao e decidiu pela inaplicabilidade da smula 297:
considerou militares esses crimes e determinou competente para julg-los a
Justia militar.
161
Mas, na maioria dos casos, o Supremo manteve o entendimento
anterior, firmado pela jurisprudncia, de que crimes praticados por policiais
militares em funo de policiamento so crimes comuns e decidiu pela
aplicabilidade da smula 297, fixando a competncia da Justia comum para
julg-los.
162
158
Foi feita para esta pesquisa uma seleo do material que compreende os anos de 1970 a 1980
em revistas que editam a jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal: Revista Trimestral de
Jurisprudncia (RTJ) e Jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal (JSTF). Ver referncia completa
do material selecionado na Bibliografia.
159
O decreto 667 reorganizou as Polcias Militares e Corpos de Bombeiros estaduais e o decreto
66.862 (Regulamento para as Polcias Militares e Corpos de Bombeiros Militares) estabeleceu as
normas para sua aplicao.
160
Compreende toda ao policial em que os agentes sejam identificados de relance, seja pela
farda, pelo equipamento, armamento ou viatura: policiamento ostensivo normal (urbano e rural); de
trnsito; florestal e de mananciais; ferrovirio; rodovirio, nas estradas estaduais; porturio; fluvial
e lacustre; de radiopatrulha terrestre e area; de segurana externa dos estabelecimentos penais
do Estado (Decreto 66.862/70, artigo 2 , alnea 10 e 13).
161
Ver por exemplo HC 47.111 - SP (decidido em 7/10/69) e RHC 54.550 - SP (decidido em
1/6/76). Respectivamente em Revista dos Tribunais, n 424, p. 437-438 e JSTF n 2. p. 205-208.
162
O RHC 52.958 - SP (RTJ, n 72, p. 56-57) sintetiza o entendimento dominante no Supremo
Tribunal Federal: Crime praticado por policial militar no exerccio de funo civil, qual seja, a do
policiamento de trnsito. crime comum de competncia da Justia estadual ordinria e no da
Justia Militar. o entendimento uniforme do Supremo Tribunal, que considera vigente o verbete
297 da Smula mesmo depois que foram editados o Dl. 667/69, o Dl. 1072/69 e o Regulamento
aprovado pelo D. 66.862/70. No pormenor pertinente competnc ia no importam os textos de
72
Em 1977, a Emenda Constitucional n 7 (o pacote de abril) alterou a
Constituio de 1969, determinando nova redao ao artigo 144, pargrafo 1 ,
d):
"A lei poder criar, mediante proposta do Tribunal de Justia:
d) justia militar estadual, constituda em primeira instncia pelos
Conselhos de Justia, e, em segunda, pelo prprio Tribunal de
Justia, com competncia para processar e julgar, nos crimes
militares definidos em lei, os integrantes das polcias militares."
A redao anterior no inclua os integrantes das polcias militares:
"d) justia militar estadual de primeira instncia constituda pelos
Conselhos de Justia, que tero como rgos de segunda instncia
o prprio Tribunal de Justia."
Na verdade, essa alterao no era novidade, j constava em outras leis
anteriores: lei federal 192/36; lei estadual (SP) 2.856/37; decreto-lei 317/67 (art.
18); decreto-lei 667/69 (art. 19). Todas essas leis determinavam a competncia
do foro militar para processar e julgar o pessoal das Polcias Militares nos crimes
militares definidos em lei. A Emenda n 7 apenas repetiu essa redao no texto
constitucional. O que interessa ressaltar que, se o Supremo mantivesse sua
interpretao de acordo com a jurisprudncia firmada at ento - no considerar
militar o crime praticado por policial militar em funo de policiamento -, no
haveria alterao de competncia nem da Justia militar nem da Justia comum:
a primeira continuaria julgando os crimes propriamente militares e a segunda os
crimes comuns.
tais diplomas, mas, isto sim, a natureza da funo em cujo exerccio foi praticado o crime, funo
essa que civil e no militar, embora tenha o agente esta ltima qualidade. No mesmo sentido,
ver HC 52.329-RS, RHC 52.757-CE, HC 52.535-SP, REC 82.209-SP, RHC 54.313-SP, HC 54.207-
SP, RHC 54.310-SP.
73
A partir de 1977, a interpretao do Supremo Tribunal Federal inverteu a
jurisprudncia da Corte, passando a considerar militar o crime praticado por
policial militar em funo de policiamento. Com exceo de alguns julgados que
aplicaram a smula 297, a grande maioria das decises do Supremo
considerou-a incompatvel com a nova lei constitucional.
163
A smula 297 perdeu
a validade e os crimes praticados por policiais militares passaram a ser julgados
pela Justia militar em todos os casos previstos no Art. 9 do CPM, mesmo que
tais delitos ocorressem em funo de policiamento.
Encontra-se a explicao para essa ampliao da competncia da Justia
militar estadual em um voto do ento Ministro Xavier de Albuquerque, no
julgamento de um recurso de habeas corpus
164
, que merece ser reproduzido:
Estou convencido das razes de convenincia, h pouco
mencionadas pelo nobre Procurador-Geral, que tero inspirado a
nova redao dada a letra d, do pargrafo 1 , do artigo 144 da
Constituio, pela Emenda n 7, de 1977. E porque delas estou
agora convencido, a despeito de reiterados pronunciamentos
anteriores sobre a incompetncia da Justia Militar Estadual, e por
tambm aquiescer em interpretar teleologicamente o novo texto
constitucional, concluo pela competncia da Justia Castrense, nos
termos em que o fez o eminente Relator. Se interpretasse a norma
do ponto de vista sistemtico, teria boas razes para demonstrar
que no houve alterao do direito anterior, porque, se verdade
que a Constituio se modificou, tambm verdade que, a rigor, ela
apenas passou a dizer o que j se continha na legislao ordinria.
Mas, vejo nessa explicitao da Emenda Constitucional, um claro
propsito do constituinte, como h pouco ponderou o eminente
163
Ver nesse sentido RHC 55.946-SP, RHC 56.275-SP, RHC 56.049-SP, HC 56.579-SP, RHC
57.276-SP, RHC 57.293-PA, HC 57.334-SP, HC 57.663-SP, HC 58.131-MG, HC 58.345-8-SP, HC
58.663-5-PB.
164
Trata-se de caso de crime de concusso cometido em funo de policiamento. RHC 56.049-
SP (JSTF n 3, p. 204-208).
74
Procurador-Geral, e aquieso na considerao desse propsito para
dar minha adeso ao voto do eminente Relator
165
(grifos nossos).
O Supremo Tribunal Federal passou a interpretar a lei dessa forma,
legitimando o propsito do governo autoritrio de transferir para o mbito da
Justia militar os crimes praticados por policiais contra civis. As razes de
convenincia mencionadas pelo Procurador-Geral no foram reproduzidas no
texto, mas provavelmente dizem respeito s medidas tomadas pelo governo
autoritrio para afastar a possibilidade de os agentes da represso serem
submetidos Justia comum pelas arbitrari edades praticadas em nome do
regime militar. Que outro propsito poderia ter na poca o constituinte?
Outro exemplo que evidencia a inverso radical da jurisprudncia o caso
conhecido como Rota 66, crime de homicdio cometido por cinco policiais
militares contra trs jovens da classe alta paulistana, em 1975. Denunciados os
policiais na Justia comum e na Justia militar, a defesa impetrou recurso
extraordinrio criminal,
166
em abril de 1979, alegando incompetncia da Justia
comum. O Supremo decidiu pela aplicao da smula 297, uma vez que o fato
ocorrera antes da Emenda Constitucional n 7, e no aceitou o recurso. Em
outubro do mesmo ano, os acusados impetraram habeas corpus solicitando o
deslocamento do julgamento para a Justia militar, alegando novamente a
incompetncia da Justia comum para faz-lo. O Supremo deferiu o pedido,
contradizendo sua deciso anterior, conforme o voto do Ministro Relator:
Embora os fatos hajam ocorrido a 23/4/75, aplica-se-lhes a nova
regra constitucional de competncia, que tem incidncia imediata
167
.
165
O Relator resolveu que a smula 297 no mais subsistiria diante da nova regra constitucional.
Infelizmente, as palavras do nobre Procurador-Geral no foram reproduzidas.
166
REC 86.204-SP (JSTF, n 5, p. 214-217).
167
HC 57.334-SP (RTJ, n 91, p. 839-840).
75
O julgamento na Justia comum foi anulado e os autos encaminhados
Justia militar. Os mesmos ministros do Supremo Tribunal Federal que no
aceitaram o recurso, concederam meses depois o pedido de habeas corpus. A
deci so foi unnime em ambos os casos.
A Emenda Constitucional n 7 resultou na revogao da Smula 297 do
Supremo Tribunal Federal, que no considerava o policial na qualidade de militar,
para efeitos penais, quando praticasse o delito na funo de policiamento civil.
Como a Constituio de 1988 manteve essencialmente o que determinava a
Emenda do regime autoritrio, mantendo competente a Justia militar estadual
para processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares nos crimes
militares definidos em lei,
168
no tendo sido regulamentados esses crimes em
nova lei, os policiais militares permaneceram respondendo Justia militar pelos
crimes cometidos em funo de policiamento, em todos os casos previstos pelo
Cdigo Penal Militar de 1969, at que a lei 9.299 reduzisse parcialmente a
competncia desse foro em 1996. Essa lei alterou o artigo 9 do Cdigo Penal
Militar, retirando da alada da Justia militar os crimes cometidos por militares
(policiais militares e militares das Fora Armadas) quando dolosos contra a vida
de civis e quando praticados fora de servio com armamento militar. Os demais
crimes cometidos em funo de policiamento (homicdio culposo, leso corporal
etc) permanecem no mbito da Justia militar. Como j se viu, outros dois
projetos de lei que visam a reduzir a competncia da Justia militar aos crimes
propriamente militares, recuperando a essncia da smula 297, encontram-se
em tramitao no Congresso Nacional.
2.2 - Estrutura da Justia Militar Estadual
Segundo a Constituio Federal, a Justia militar estadual pode ser criada
por lei estadual mediante proposta do Tribunal de Justia, sendo constituda, em
primeiro grau de jurisdio, pelos Conselhos de Justia, e em segundo, pelo
168
Constituio Federal, art. 124.
76
prprio Tribunal de Justia ou por Tribunal de Justia Militar nos Estados cujo
efetivo da polcia militar ultrapassar vinte mil integrantes.
169
Na maioria dos
Estados brasileiros, a Justia militar limita-se ao primeiro grau de jurisdio
(Conselhos de Justia), correspondendo segunda instncia o pr prio Tribunal
de Justia
170
. Em So Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul foram criados
Tribunais de Justia Militar.
A Justia militar estadual integra o poder judicirio
171
e encarregada de
processar e julgar os policiais militares nos crimes militares definidos em lei,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos
oficiais e da graduao das praas.
172
Na primeira instncia, os processos so distribudos em quatro auditorias
militares, cada uma presidida por um juiz civil (juiz auditor). Cada auditoria forma
um Conselho de Justia Permanente (para julgamento de praas) e um Conselho
Especial de Justia (para julgamento de oficiais). Os conselhos so compostos
por cinco membros: um juiz auditor e quatro juzes militares, estes sorteados em
uma lista de oficiais da PM sem impedimentos, elaborada pela corporao. O
Conselho Especial de Justia formado somente no caso de processo contra
oficiais e seus juzes militares devem ser superiores ao ru na hierarquia, ou mais
antigos no caso de igualdade de postos. O Conselho Permanente tem atividade
contnua, mas seus juzes militares so renovados a cada trimestre.
Os auditores so juzes civis que ingressam na Justia militar mediante
concurso promovido pelo Tribunal de Justia Militar.
173
Do concurso, aberto a
civis, participam tambm ex-policiais formados em Direito. Em 1995, a maioria
dos juzes auditores era constituda por ex-policiais.
174
O juiz auditor instrui o
169
Constituio Federal, art. 125, pargrafo 3 .
170
Tribunal de Justia do Estado (cpula do Judicirio do Estado).
171
Constituio do Estado de So Paulo, art. 54, III.
172
Constituio Federal, art. 124, pargrafo 4 .
173
A Justia militar tem autonomia para realizar concurso de juzes auditores. Os aprovados so
nomeados pelo presidente do Tribunal de Justia Militar.
174
Entre 8 juzes auditores, 6 eram ex -policiais militares: 2 ex-capites na 1 auditoria, 1 ex-
tenente coronel e 1 civil, ex -procurador do Estado, na 2 auditoria, 1 ex-tenente e 1 ex -capito na
3 auditoria e 1 ex-capito e 1 civil na 4 auditoria.
77
processo - indica os procedimentos da audincia, esclarece dvidas, interroga
as partes etc. - e a deciso tomada por maioria de votos. A acusao feita
por promotores de justia do Ministrio Pblico, alocados na Justia militar. So
oito promotores, dois em cada auditoria, e um procurador de justia no Tribunal.
Os recursos so encaminhados ao Tribunal de Justia Militar, composto
por sete membros - quatro coronis da polcia militar e trs civis.
175
Os coronis
so indicados pela corporao e nomeados juzes militares pelo governador. As
vagas para civis so preenchidas por juzes auditores, promovidos da auditoria
para o Tribunal, e por um promotor ou advogado (vaga referente ao quinto
constitucional). Os juzes do Tribunal de Justia Militar e os auditores gozam dos
mesmos direitos, vantagens e vencimentos, e esto sujeitos s mesmas
proibies dos juzes dos Tribunais de Alada e dos juzes de direito,
respectivamente.
176
O presidente do Tribunal de Justia Militar um coronel,
eleito pelos juzes militares que compem a segunda instncia.
Tribunal de Justia Militar (2 instncia)
coronel
coronel coronel coronel juiz civil juiz civil advogado ou
promotor
Conselhos de Justia (permanentes ou especiais) das Auditorias Militares (4)
(1 instncia)
Pres. Conselho
oficial PM oficial PM
oficial PM
(superior)
oficial PM juiz civil
Observa-se em primeiro lugar que os Conselhos de Justia das Auditorias
e o Tribunal so compostos majoritariamente por juzes militares que no so
necessariamente bacharis em direito. A ausncia de formao jurdica como
critrio para a nomeao desses oficiais permite questionar o carter de um
processo judicial cuja deciso depender de seus votos. Se nos casos de crimes
tipicamente militares pode-se fundamentar a competncia desses juzes nos
175
Constituio do Estado de So Paulo, art. 80.
78
princpios de hierarquia e disciplina, basilares em uma corporao militar, no h
critrio que justifique sua competncia para julgar os crimes contra civis
cometidos por policiais em funo de policiamento.
Alm disso, a hierarquia militar, base dos procedimentos tanto na
corporao policial quanto na Justia militar, no se sustenta como critrio de
justia, haja vista que pode prejudicar a independncia do processo legal. Desde
a instaurao do inqurito policial militar para apurar indcios de crime militar at
o julgamento so oficiais de polcia militar, com posio hierrquica superior a do
indiciado, que realizam a maioria dos procedimentos. Dentre as dificuldades que
podem comprometer, em razo da estrutura hierrquica, o andamento do
processo, pode-se citar como exemplos situaes em que as testemunhas
policiais sejam hierarquicamente subordinadas ao acusado, em que oficiais
julguem seus pares nos conselhos especiais de justia etc.
177
Uma limitao do Conselho Especial (para julgamento de oficiais), cujos
juzes militares tm de ser superiores ao ru na hierarquia ou mais antigos no
caso de igualdade de postos, indica que a Justia militar, tal como est
estruturada, pode chegar a impasses. No caso do processo referente Casa de
Deteno do Carandiru, como no havia oficiais superiores para formar o
Conselho e julgar o coronel que comandou a tropa na ocasio da invaso do
presdio, foi necessria a vinda de oficiais da reserva ativa para que o coronel
pudesse ser julgado.
178
No se pode deixar de formular a hiptese de um
processo em que o ru seja oficial da mais alta e antiga patente, caso em que
no haveria juzes militares para julg-lo, comprovando os limites da hierarquia
como base de um sistema de justia. Uma posio mais radical afirmaria que a
impunidade est prevista na prpria estrutura da Justia militar, uma vez que no
considera a possibilidade de submeter os mais altos e antigos postos
hierrquicos ao processo legal. E esse no um problema apenas dessa
176
Constituio do Estado de So Paulo, art. 82.
177
ZAVERUCHA, J. A Justia Militar no Estado de Pernambuco Ps-Regime Militar: um legado
autoritrio, p. 25.
178
A informao de um promotor de justia da JM.
79
instituio, haja vista que a imunidade parlamentar tambm impede o julgamento
de crimes comuns cometidos pelos parlamentares, levando impunidade.
O acmulo de processos na Justia Militar fator de impunidade na
medida em que muitos crimes, como os de leso corporal, so prescritos.
179
certo que chama a ateno a prescrio de crimes mais graves, como o
homicdio. Entre os casos selecionados pelo Ministrio Pblico como exemplos
de impunidade no Tribunal de Justia Militar de So Paulo, destaca-se um caso
de homicdio cujo processo durou 18 anos e o ru, condenado a 12 anos de
recluso, permaneceu impune devido prescrio da pena ( declarada extinta
punibilidade do ru pela ocorrncia da prescrio da pena).
180
Alguns dados
sobre o andamento dos processos no Tribunal de Justia Militar do uma noo
do funcionamento desse foro.
181
Entre 1989 e 1991 o nmero de processos
abertos contra policiais aumentou (4.467 em 1989, 5.266 em 1990, 7.125 em
1991) e o nmero de processos julgados diminuiu (1.183 em 1989, 1.135 em
1990, 980 em 1991). de notar o acmulo de processos sobretudo em 1991,
ano em que a violncia policial s no foi mais intensa que em 1992, desde o
incio dos anos 80.
182
Entre janeiro e dezembro de 1995, 4.116 inquritos
policiais militares foram distribudos nas quatro Auditorias da Justia Militar. Os
resultados (condenaes, absolvies e prescries) daqueles encaminhados
3 Auditoria (344 IPMs) foram os seguintes:
IPMs distribudos na 3 Auditoria da Justia Militar em 1995
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez total
cond. 0 5 5 3 3 7 5 7 6 6 7 4 58
abs. 1 11 32 14 4 17 6 23 17 24 31 10 190
presc. 7 2 5 4 12 5 8 12 11 19 8 3 96
179
A lentido no problema especfico da Justia militar. Sabe-se que a morosidade da Justia
comum um problema que afeta toda a sociedade brasileira.
180
Processo 12.061/74. Justia Militar do Estado de So Paulo.
181
Os dados apresentados a seguir foram coletados na imprensa e informalmente em entrevistas
com promotores, pois no estavam disponveis para o pblico na ocasio da pesquisa.
182
Ver Quadro 1, no captulo 1.
80
total 8 18 42 21 19 29 19 42 34 49 46 17 344
No h base para associar o grande nmero de absolvies impunidade.
Observa-se apenas que, nessa pequena amostra, as prescries, fator de
impunidade tanto na Justia comum quanto na militar, ocorreram em 28% dos
casos. Outras fontes do indicaes de maior empenho na apurao dos ilcitos
considerados mais graves pela corporao, sendo punidos de maneira mais
rigorosa os crimes propriamente militares.
183
Pode-se considerar que essa lgica
favorece a impunidade de policiais militares que cometem crimes contra civis,
em vista da maior preocupao com a manuteno da disciplina e da hierarquia
do que em estabelecer um efetivo controle judicial sobre todas as aes policiais,
sobretudo aquelas que afetam diretamente a sociedade.
Ao transferir o processo e o julgamento de crimes dolosos cometidos por
policiais militares contra a vida de civis para a Justia comum, a lei 9299/96
introduziu avanos, ampliando o controle sobre a polcia. Crimes de policiais
militares indiscutivelmente reconhecidos como dolosos, como o caso da Favela
Naval
184
, certamente so encaminhados Justia comum. Mas pertinente
questionar se sero afetados por essa lei os casos annimos de violncia
policial, que resultam em mortes de civis e podem ser includos entre as
justificativas de resistncia priso, mantidos sob a competncia da Justia
militar como crimes culposos. Como se viu, a lei no aboliu o inqurito policial
183
Em entrevista, um promotor da Justia Militar observou que os inquritos policiais mili tares
sobre crimes tipicamente militares so mais completos do que inquritos sobre os demais
crimes. Em entrevista, o ouvidor da polcia de So Paulo referiu-se a uma pesquisa no publicada
do Centro Santo Dias de Direitos Humanos em que foram analisados 380 processos da Justia
Militar do Estado de So Paulo, metade sobre crimes propriamente militares e metade sobre
crimes contra civis (crimes contra a vida, espancamento, tortura etc.). Segundo o ouvidor,
verificou-se menor ndice de punio nos casos de crimes cometidos contra civis (85% de
absolvies) e maior nos casos de crimes propriamente militares (85% de condenaes).
184
Trata-se de um caso bastante conhecido, em que um grupo de policiais militares foi flagrado
por uma cmera filmadora agredindo fisica e moralmente e extorquindo cidados abordados na
Favela Naval, em Diadema (SP), no ano de 1997. O resultado mais grave dessa ao foi o
homicdio de um dos abordados. A cena foi exibida exaustivamente na mdia brasileira e o caso
tornou-se um escndalo nacional, com repercusso internacional.
81
militar, os policiais militares permanecem conduzindo as investigaes e com
base nessa pea que a Justia militar decide a natureza do crime, se culposo ou
doloso, enviando apenas os ltimos Justia comum. ainda l imitado o controle
judicial civil sobre a polcia, embora este seja um mecanismo essencial para
evitar a imunidade de agentes estatais ao poder legal dos cidados e uma
situao de impotncia
185
por parte destes diante das possveis arbitrariedades
cometidas por aqueles agentes.
Essas observaes, que apontam a inadequao da estrutura e do
funcionamento da Justia militar aos padres de um sistema jurdico
democrtico, parecem relevantes diante do fato de o Brasil se encontrar entre os
pases que possuem uma ampla jurisdio militar sobre a sociedade civil,
incluindo o julgamento de civis em tempo de paz (Justia militar federal) e o de
policiais militares que cometem crimes contra civis em funo de policiamento
(Justia militar estadual).
186
Em sistemas formalmente democrticos, em situao
de paz, no h razo jurdica para a Justia militar subtrair competncias da
Justia comum. Os tribunais militares normalmente ampliam o alcance de sua
jurisdio em regimes ditatoriais ou autoritrios, no raramente para garantir
impunidade aos militares envolvidos em ilicitudes.
187
Como os regimes
democrticos tendem a abolir os tribunais militares ou a restringir o campo de
jurisdio militar a crimes tipicamente militares,
188
espera-se que em um contexto
de transio para a democracia sejam efetuadas tais alteraes. Na Espanha, a
restrio da jurisdio militar a seu quadro estritamente militar foi realizada
durante a reforma do sistema policial aps a redemocratizao, reforma
185
COOK, W. W. Hofelds Contributions to the Science of Law. In: Fundamental Legal
Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, Greenwood, 1978.
186
Sobre a submisso de civis Justia militar federal, durante e aps o regime autoritrio, ver
PEREIRA, A. O Monstro Algemado? Violncia do Estado e Represso Legal no Brasil. In:
ZAVERUCHA, J. (org.). Democracia e Instituies Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX. Recife,
Ed. Bargao, 1998, p.13-61; ZAVERUCHA, J. A Justia Militar no Estado de Pernambuco Ps-
Regime Militar: um legado autoritrio (mimeo).
187
DALLARI, D. A. Justia Militar: privilgio corporativo. In: O Poder dos Juzes. So Paulo,
Saraiva, 1996, p. 133-135.
188
ZAVERUCHA, J. A Justia Militar no Estado de Pernambuco Ps-Regime Militar: um legado
autoritrio, p. 2 (mimeo.).
82
considerada um dos pontos cruciais desse processo.
189
No Brasil, a Constituio
de 1988 no introduziu avanos no campo da segurana, pois manteve clusulas
que perpetuaram traos autoritrios de instituies como a polcia e a justia
militares. Estas, por sua vez, acabaram ganhando um verniz democrtico ao
serem sancionadas pela Constituio.
190
No caso da Justia militar estadual, pode-se ver claramente sua vinculao
com o regime autoritrio de 1964 mediante a recuperao das leis que a
instituram. Criada em 1936, durante a maior parte de sua existncia teve sua
competncia limitada ao julgamento de crimes propriamente militares. Sua atual
competncia para julgar crimes de policiais militares em funo de policiamento
civil um resqucio autoritrio que permaneceu na Constituio de 1988, mas
no foi o regime militar que estabeleceu pela primeira vez essa exceo. Houve
um precedente em 1962, com a aprovao da lei federal 4162 durante o governo
de Joo Goulart. O Supremo Tribunal Federal anulou o efeito dessa lei em 1963,
ao editar a smula que retirava da Justia militar e atribua Justia comum a
competncia para julgar policiais militares que cometessem crimes em funo de
policiamento, reiterando em suas decises a natureza civil dessa atividade j
nessa poca. Esse entendimento vigorou at 1977, quando o Supremo Tribunal
Federal inverteu a interpretao de sua jurisprudncia com base na Emenda
Constitucional n 7 e ampliou novamente a competncia da Justia Militar. Essa
modificao ocorreu em um contexto em que as polcias militares foram
empregadas como parte do aparato repressivo do Estado. A ampla definio de
crime militar, que no regime autoritrio serviu tanto para manter os militares
envolvidos na represso imunes legislao ordinria quanto para intimidar
civis,
191
permanece praticamente a mesma aps a democratizao. A essa
189
BALLB, M. Les Dfis du Systme Pluraliste en Espagne. Les Cahiers de Scurit Interieure.
190
ZAVERUCHA, J. A Constituio Brasileira de 1988 e seu legado autoritrio: formalizando a
democracia mas retirando a essncia. In: ZAVERUCHA, J. (org.). Democracia e Instituies
Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX. Recife, Ed. Bargao, 1998, p. 116; 146-147.
191
ZAVERUCHA, J. A Justia Militar no Estado de Pernambuco Ps-Regime Militar: um legado
autoritrio, p. 9.
83
legislao esto submetidos os policiais militares na maioria dos crimes
previstos no Cdigo Penal Militar. Comentando a situao, J. Zaverucha pondera:
Que o regime autoritrio tenha procurado julgar os membros das
foras de represso, a includos os policiais militares, em tribunais
militares compreensvel por se tratar de uma hbil manobra
institucional, com o intuito de regulamentar e legitimar a represso
poltica. Surpreendente que, decorridos mais de dez anos do fim do
regime militar, tenhamos hoje em dia uma justia militar estadual
que funcione quase nos moldes preconizados pelo General
Geisel.
192
O mesmo problema ocorre em relao ao vnculo entre polcias militares e
exrcito. A Constituio de 1988 ratificou as determinaes das Constituies
anteriores, mantendo as polcias militares como foras auxiliares, reserva do
exrcito.
193
Manteve-se o controle parcial do exrcito sobre as polcias por meio
da Inspetoria Geral das Polcias Militares.
Nas democracias, em tempo de paz, normalmente o exrcito que
intervm como fora auxiliar das polcias em situaes em que estas se mostram
insuficientes para manter a ordem interna. Nesse caso, todas as legislaes
prevem o recurso s foras armadas para que at uem momentaneamente como
polcia.
194
No Brasil, seguindo essa tendncia, a lei complementar n 69 (1991)
estabelece a possibilidade de interveno das foras armadas em assuntos
internos, desde que as foras policiais se mostrem incapazes de assegurar a paz
social.
195
Assim, parece haver uma contradio entre esta lei e a competncia
atribuda s polcias militares de atender a convocao e mobilizao do governo
192
ZAVERUCHA, J. A Justia Militar no Estado de Pernambuco Ps-Regime Militar: um legado
autoritrio, p. 31.
193
Constituio Federal, art. 144, 6 .
194
MONJARDET, D. Ce que fait la police, p. 19.
195
ZAVERUCHA, J. A Constituio Brasileira de 1988 e seu legado autoritrio: formalizando a
democracia mas retirando a essncia. In: ZAVERUCHA, J. (org.). Democracia e Instituies
84
federal para reprimir grave perturbao da ordem ou ameaa de sua irrupo,
ficando subordinadas ao exrcito nessa ocasio.
196
Ou seja, as polcias tornam-
se foras auxiliares do exrcito e este intervm em questes de ordem interna,
quando somente em caso de guerra as foras policiais deveriam tornar-se
auxiliares do exrcito.
197
Considerando que esse vnculo se aprofunda durante perodos
autoritrios, de se esperar que sua continuidade em regimes democrticos
dificulte a realizao de mudanas dentro da corporao policial. Um exemplo de
como essa subordinao prejudica a democratizao da polcia ocorreu durante
a transio, no primeiro governo estadual eleito. No incio do governo Montoro, a
nomeao do comandante da PM teve de ser feita de modo a no provocar o
veto do Ministrio do Exrcito. Tal restrio impossibilitou a escolha de um oficial
mais afinado com as propostas do grupo reformador dentro da secretaria de
segurana.
198
Exemplo mais recente se refere Polcia Militar do Rio de Janeiro,
que, aps questionar o uso da doutrina militar no exerccio de policiamento,
recebeu uma visita do comandante da Inspetoria Geral das Polcias Militares.
199
Encerraram-se as crticas que poderiam difundir dentro da corporao uma
discusso sobre o carter civil da atividade policial, ampliando assim as
possibilidades de democratizar uma concepo de segurana pblica ainda to
arraigada no autoritarismo.
Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX. Recife, Ed. Bargao, 1998, p. 129.
196
Decreto-lei 667/69, art. 3 , d.
197
ZAVERUCHA, J. A Constituio Brasileira de 1988 e seu legado autoritrio: formalizando a
democracia mas retirando a essncia. In: ZAVERUCHA, J. (org.). Democracia e Instituies
Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX. Recife, Ed. Bargao, 1998, p. 131.
198
MINGARDI, G. Tiras, Gansos e Trutas. So Paulo, Scritta, 1991, p. 87 e 104. O Exrcito poderia
vetar a indicao do governo, caso no a aprovasse.
199
ZAVERUCHA, J. A Constituio Brasileira de 1988 e seu legado autoritrio: formalizando a
democracia mas retirando a essncia. In: ZAVERUCHA, J. (org.). Democracia e Instituies
Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX. Recife, Ed. Bargao, 1998, p. 132.
85
Consideraes Finais: Mudanas em Rumo?
Procurou-se indicar, mediante uma abordagem histrica da legislao, a
ausncia de razes para que se pudesse desenvolver uma concepo de
segurana pblica democrtica no Brasil. Se por um lado a Constituio de
1988, ao avanar no campo dos direitos civis, pde estabelecer condies
essenciais para o desenvolvimento de uma nova concepo de segurana que
no devem ser ignoradas, por outro no chegou a introduzir mudanas
significativas para abolir instituies que ao longo da histria brasileira tm
mantido a organizao policial aliada sobretudo aos fins do Estado, instituies
em geral incompatveis com as finalidades sociais atribudas polcia em
regimes democrticos. Mesmo centrando o enfoque na permanncia de
estruturas prejudiciais democratizao da polcia, como sua vinculao ao
exrcito e a submisso jurisdio militar, no se pode deixar de levar em conta
que mudanas relevantes vm ocorrendo na Polcia Militar do Estado de So
Paulo.
No mbito da prpria corporao policial tambm se manifesta a
percepo de uma inadequao nova ordem democrtica da concepo de
segurana pblica vigente. Dentre as monografias elaboradas por oficiais
dedicadas ques to da violncia policial, verifica-se uma srie de trabalhos cujos
temas revelam uma preocupao com o relacionamento entre polcia e
sociedade e com o papel desempenhado pela polcia militar aps a nova ordem
constitucional. De maneira sucinta, as consideraes de um oficial sobre os
problemas operacionais que se seguiram dissociao do conceito de
segurana da figura do Estado aps 1988 e do conseqente despreparo da
corporao para exercer a atividade de segurana pblica no contexto
86
democrtico reproduz o enfoque desses trabalhos. Em seus termos, ocorreu
desde ento uma desvinculao do conceito de segurana da figura jurdica do
Estado, passando a estar atrelado ao cidado, com a conseqente ausncia de
cultura da Corporao no trato dos problemas de insegurana diretamente com o
cidado. A partir dessa constatao, o oficial passa a reclamar mudanas no
padro de relacionamento entre o policial e o cidado, com o objetivo de adaptar
a atividade policial militar s exigncias da ordem democrtica e acabar com o
esteretipo do policial do passado (...) que levou a polcia a ser temida pela
classe mais simples e ignorada pela mais abastada.
200
Se por um lado esses trabalhos monogrficos indicam uma razovel
difuso no meio oficial da noo de que a polcia, antes de 1988, fazia a
segurana do Estado, e aps a Constituio passou a fazer a segurana do
cidado, por outro preciso identificar as iniciativas que demonstram o
significado prtico e o alcance dessa mudana de concepo. No se trata de
avaliar, por ora, todas as transformaes ocorridas na PM de So Paulo a partir
de 1988 esse seria tema para uma outra pesquisa -, apenas mencionar
algumas medidas recentes que vm se destacando por direcionar o trabalho
policial ao respeito aos direitos humanos. Trata-se de mudanas promovidas a
partir de 1995 por iniciativa do governo Covas e da PM, que dizem respeito ao
treinamento policial militar e ao controle da violncia policial. Em suma, as
respostas da corporao aos desafios impostos pela nova ordem constitucional
tm se concentrado na rea da formao e do treinamento policiais, enquanto o
governo vem procurando instituir mecanismos de controle da atividade policial.
Mudanas no Treinamento (1997-1998)
Em dezembro de 1997, o comando-geral da PM apresentou uma nova
proposta de policiamento baseada na concepo de policiamento comunitrio,
no somente como estratgia de preveno das infraes ordem pblica, mas
200
Ten. Cel. CARDOSO, A. C. Desenvolvimento da Polcia Comunitria. CSP/1994, p. 14.
87
como modelo para que a PM se torne uma polcia de proteo da dignidade
humana.
201
Uma Comisso de Assessoramento para Implantao do
Policiamento Comunitrio, integrada por entidades representativas da sociedade
civil e por oficiais da PM, vem se reunindo regularmente desde ento para
formular propostas, apresentar estudos, acompanhar e avaliar o trabalho
desenvolvido. O discurso oficial passou a divulgar esse novo papel atribudo PM
na imprensa, em boletins informativos da corporao e em documentos internos.
Em um documento elaborado para regular a implantao do policiamento
comunitrio, o comando geral estabeleceu metas para uma futura polcia de
proteo dos direitos da cidadania e da dignidade humana.
202
Publicado em 1998, o Programa de Implantao da Polcia Comunitria
prope como objetivo geral da nova concepo de policiament o a promoo de
uma poltica pblica de segurana, atravs da participao e da colaborao de
todos os setores da sociedade civil organizada e do poder pblico -
especialmente a polcia - protegendo e promovendo a vida, a liberdade, a igualdade e
a digni dade de todas as pessoas (grifos nossos). Alm de enumerar as diretrizes
de uma poltica de segurana baseada no policiamento comunitrio, como a
valorizao de estratgias preventivas de policiamento e o estabelecimento de
canais que possibilitem a aproximao entre polcia e comunidade, o programa
visa a desenvolver no policial valores democrticos, particularmente o respeito
ao Estado de Direito, e prepar-lo para utilizar-se democraticamente da fora
que a lei lhe concede, como ltimo recurso na administrao de conflitos.
203
Esse
novo projeto de policiamento comunitrio resultou em um programa de
requalificao profissional dos policiais militares envolvendo trs reas: direitos
humanos, policiamento comunitrio e tcnica de tiro.
201
CAMARGO, C. A. Polcia da Dignidade Humana e Preveno Comunitria. So Paulo,
www.polmil.sp.gov.br, 1 dez. 1997, p. 1. O autor era, na ocasio, o comandante-geral da PM.
202
Nota de Instruo n PM3-004/02/97, p. 2.
203
Programa de Implantao da Polcia Comunitria. Governo do Estado de So Paulo, Secretaria
de Segurana Pblica, Polcia Militar do Estado de So Paulo e Comisso de Implantao da
Polcia Comunitria. So Paulo, [1998], p. 5-6.
88
A disciplina policiamento comunitrio foi introduzida em todos os
currculos da corporao, tornando-se matria dos cursos de formao de
oficiais e praas. Foram promovidos estgios sobre direitos humanos e
policiamento comunitrio com o objetivo de preparar os policiais militares que
compem o corpo docente da PM e policiais de outras unidades para torn-los
agentes multiplicadores da nova concepo da polcia dentro da corporao. O
estgio de policiamento comunitrio foi ministrado por oficiais e por civis,
representantes de entidades como o Conselho Estadual da Pessoa Humana e
Ncleo de Estudos da Violncia/USP.
204
O estgio promovido pela seo
brasileira da Anistia Internacional foi muito bem avaliado pelos policiais que
participaram e pela Diretoria de Ensino da PM.
205
Em relao tcnica de tiro,
passou-se a treinar o policial a dar poucos tiros, observando-se que no passado,
ao contrrio, o policial era treinado para dar muitos tiros. Foram tipificadas
situaes que justificam ou no o uso letal da arma de fogo e passou-se a
valorizar o policial que atirasse de acordo com esses parmetros.
206
Introduziram-
se tambm cursos sobre o uso de armas no letais.
Tais iniciativas representam uma nova postura institucional a respeito dos
fins a que deve servir a polcia. Pela pri meira vez ao que tudo indica - o
discurso oficial da PM vai explicitamente ao encontro dos anseios da Declarao
de Direitos (1789). Em consonncia poltica de respeito aos direitos humanos
promovida pelo governo, a defesa de direitos foi introduzida no discurso oficial da
corporao e a atividade policial vinculada proteo de direitos do cidado. De
uma perspectiva histrica, no havia condies, durante o governo Montoro, para
que iniciativas desse porte surgissem dentro da PM, de onde vinham fortes
204
A partir de maro de 1998, os agentes multiplicadores passaram a ministrar cursos e estgios
de policiamento comunitrio para oficiais e praas. A propsito, 16.963 policiais realizaram
cursos ou estgios sobre policiamento comunitrio no primeiro semestre de 1998 (MESQUITA
NETO, P. Policiamento Comunitrio: a experincia em So Paulo. Relatrio de pesquisa. NEV/USP,
1998, p. 55-56).
205
Segundo o ento diretor de ensino: Sua linguagem e didtica produziram um resultado
positivo, procurando mostrar o papel essencial na garantia de direitos e desfazer a idia de que
polcia e direitos humanos so antagnicos. NEV/CEE. Democracia e Direitos Humanos. Esses
estgios ocorreram em dezembro de 1997 e janeiro de 1998.
206
NEV/CEE. Democracia e Direitos Humanos.
89
resistncias contra as reformas pretendidas. A poltica de segurana dos dois
governos seguintes Qurcia e Fleury - no estabeleceu diretrizes para adaptar
a PM s expectativas democrticas. Durante o governo Fleury, que fora secretrio
de segurana pblica de Qurcia, propagou-se a ideologia de que bandido bom
bandido morto e viu-se a maior escalada da violncia policial de todo o
perodo da redemocratizao, culminando na morte de mais de 1300 civis em
1992, alm dos 111 presos da Casa de Deteno do Carandiru.
207
As recentes mudanas surgiram em um contexto de crise do sistema de
segurana pblica no Estado de So Paulo, em que a sociedade civil, a
imprensa e o governo vinham pressionando a polcia por reformas que
garantissem profissionalismo e competncia no controle da criminalidade e na
manuteno da ordem e do respeito aos direitos humanos.
208
A PM foi
particularmente afetada pelo caso de violncia policial ocorrido em Diadema, na
Favela Naval, quando imagens impressionantes de policiais militares extorquindo
e espancando cidados, atirando contra um deles, provocando sua morte, foram
amplamente divulgadas na mdia televisiva, sobretudo na rede Globo, no primeiro
semestre de 1997. No final desse mesmo ano, foi lanado o projeto de
implantao do policiamento comunitrio, cujos propsitos esto declaradamente
voltados para a constituio de uma concepo de segurana pblica mais
democrtica em So Paulo.
No possvel, neste momento, fazer uma avaliao precisa do alcance
das mudanas propostas, nem at que ponto elas so representativas do
conjunto da corporao policial, visto tratar-se de um processo cujos resultados
sero percebidos apenas a mdio ou longo prazo. Certamente h dificuldade de
apreender o hiato existente entre o discurso dos oficiais e a prtica da base,
lembrando que a corporao contm aproximadamente 5.000 oficiais e mais de
70.000 praas. Episdios recentes, em que policiais militares declararam ser
207
No governo Fleury, destaca-se a atuao do secretrio de segurana pblica Pedro Franco de
Campos (era o secretrio na ocasio do massacre do Carandiru), cujo discurso incentivava a
violncia policial.
208
MESQUITA NETO, P. Policiamento Comunitrio: a experincia em So Paulo. Relatrio de
pesquisa. NEV/USP, 1998, p. vii.
90
prtica comum e consentida por superiores hierrquicos atrasar o socorro de
bandidos feridos em confrontos com a polcia, deixando-os morrer no caminho
para o hospital, indicam que mudanas na formao no tm reflexo imediato na
prtica policial. Denncias contra um tenente-coronel que fazia apologia da
violncia policial durante a orientao a seus subordinados demonstram que no
h consenso sequer no meio oficial.
209
O fato de tais denncias terem sido feitas,
em contrapartida, pelos prprios soldados contra seu comandante, mostra que a
nova concepo vem surtindo algum efeito, lembrando que a rgida hierarquia
militar dificulta atitudes como o desafio a um superior com a segunda maior
patente da corporao.
Controle da polcia
Duas inovaes propostas pelo governo estadual merecem destaque: a
criao da Ouvidoria da Polcia do Estado de So Paulo e do PROAR
(Programa de Acompanhamento de Policiais Envolvidos em Ocorrncias de Alto
Risco).
Criada em janeiro de 1995 pelo decreto n 39.900, a Ouvidoria foi
instalada em novembro do mesmo ano, no gabinete do secretrio de segurana
pblica, e institucionalizada permanentemente com a aprovao da lei 826/97.
Tem atribuio de receber queixas e denncias da populao contra policiais
(civis e militares) e de policiais contra abusos cometidos por outros policiais. Os
casos so encaminhados aos rgos das polcias militar e civil competentes
para tomar as providncias cabveis, como as corregedorias e outras unidades,
dependendo da natureza da medida reclamada. As reclamaes variam desde
queixas de falta de policiamento at denncias de extorso, corrupo,
homicdio, etc. A Ouvidoria prioriza o monitoramento de casos relacionados
integridade fsica do cidado, como abuso de autoridade, tortura e homicdio
210
e
209
Folha de S. Paulo, 10/10/1999.
210
Relatrio Anual de Prestao de Contas, 1997. Ouvidoria da Polcia do Estado de So Paulo, p.
9.
91
publica um balano de todo o atendimento realizado em relatrios trimestrais e
anuais. Ao estabelecer um canal direito com a populao, a Ouvidoria constitui o
espao institucional da sociedade civil no setor da segurana pblica
211
e exerce
um papel de fiscalizao dos rgos policiais competentes para apurar as
infraes de seus integrantes. No caso da PM, a maioria das denncias
encaminhada corregedoria (53,09% em 1997),
212
as quais podem resultar em
punies administrativas ou indiciamentos penais.
O PROAR um programa destinado a acompanhar policiais militares
envolvidos em ocorrncias fatais, com objetivo de dar-lhes assistncia
psicolgica e inibir o uso excessivo ou ilegal da fora fsica nas aes policiais.
Esses policiais so removidos da rea onde houve a ocorrncia e alocados em
outros servios, normalmente para fazer policiamento a p na rea central da
cidade, e devem ser submetidos a assistncia psicolgica durante o
afastamento. Um programa similar, implantado logo aps o massacre do
Carandiru, em outubro de 1992, suspendeu da ativa durante 30 dias os policiais
envolvidos em tiroteios fatais e os submeteu a treinamento, assistncia
psicolgica e religiosa.
213
H uma relao entre a diminuio de mortes de civis e policiais militares
em confrontos e a vigncia desses programas. Aps o episdio do Carandiru,
que gerou forte presso interna e externa contra a violncia policial, a reduo de
ocorrncias violentas na rea metropolitana de So Paulo foi expressiva: de
1.190 civis mortos em 1992 para 243 em 1993, 333 em 1994 e 331 em 1995 (ver
Quadro 2, cap. 1). Essa diferena indica que a reduo da violncia policial
antes uma questo de poltica de segurana pblica que uma contingncia do
aumento da criminalidade no pas. Para todo o Estado de So Paulo, verifica-se
tambm uma reduo em relao aos anos de 1991 e 1992, que registraram
mais de um milhar de mortes pela polcia:
211
Relatrio Anual de Prestao de Contas, 1996. Ouvidoria da Polcia do Estado de So Paulo, p.
9.
212
Relatrio Anual de Prestao de Contas, 1997. Ouvidoria da Polcia do Estado de So Paulo., p.
25.
92
Ano Civis mortos por PMs
1993 402
1994 519
1995 618
1996 398
1997 435
Fonte: MESQUITA NETO, P. Policiamento Comunitrio: a experincia em So Paulo. Relatrio de
pesquisa. NEV/USP, 1998, p. 121.
A partir de 1997 h uma classificao mais precisa das ocorrncias fatais
e as mortes de civis por policiais militares passam a ser registradas como
homicdios ou como resultantes de resistncia priso. Nos anos anteriores,
dispe-se apenas do nmero total de mortes de civis pela polcia. Em 1997
foram registradas 322 ocorrncias de resistncia priso seguida de morte, das
quais 264 ocorreram durante o servio policial e 58 fora de servio; e 83
homicdios cometidos por policiais militares, 21 em servio e 62 durante a folga,
em um total de 405 ocorrncias fatais (excluem-se 30 mortes ocorridas em
acidentes de trnsito provocados por policiais militares). Tal classificao ao
menos introduz nos dados oficiais uma distino entre as mortes resultantes de
aes no cumprimento do dever legal e os homicdios cometidos por policiais
militares, a despeito da dificuldade prtica de diferenciar esses tipos de
ocorrncias, como se viu no Captulo 1.
Observa-se ainda que, nos ltimos anos, paralelamente reduo do
nmero de civis mortos, houve um aumento do nmero de civis feridos em aes
policiais, superando o de mortes. Isso revela uma aproximao da ao policial
militar do padro de tiroteios em confrontaes reais, os quais resultam
normalmente em um nmero maior de feridos.
214
O PROAR sofreu resistncia da base da corporao, a ponto de sua
extino ter sido includa em planos de candidatos a deputado estadual nas
213
HUMAN RIGHTS WATCH/AMERICAS. Brutalidade Policial Urbana no Brasil, p. 53.
214
Chevigny, P. The Edge of Knife, 1994.
93
eleies de 1998. As principais crticas ao programa foram listadas em relatrio
elaborado pelo Comando de Policiamento Metropolitano em setembro de 1996,
aps ouvir os comandantes das unidades policiais. Critica-se o longo perodo de
afastamento (6 meses) e considera-se que o estgio de policiamento a p na
rea central, alm de desgastante, no atinge nenhum objetivo. Sugere-se que o
programa seja desenvolvido sem remover o policial de sua rea de atuao.
Alega-se que, em razo do programa, os policiais fazem corpo mole e
demoram para chegar aos locais da ocorrncia intencionalmente, pois se
sentem tolhidos para trabalhar; e ainda que o horrio do programa prejudica o
bico dos policiais.
215
A maioria das crticas parece resultar das dificuldades que o programa
impe ao bico dos policiais militares, atividade extra-oficial amplamente
praticada pelos integrantes da corporao, sobretudo os praas, embora
proibida. Ao retirar os policiais de suas atividades rotineiras, o PROAR altera
uma escala de trabalho qual est adaptado o bico. O argumento de que o
programa inibe a ao polici al no tem fundamento, pois os dados indicam um
aumento da atuao da polcia: de 1997 para 1998 cresceu o nmero de prises
em flagrante, de armas apreendidas e de buscas.
216
Esse argumento antes
revelador de uma cultura policial que resiste limitao d o uso da fora em seu
trabalho rotineiro.
Por um lado, preciso reconhecer a validade desses mecanismos de
controle assim como das iniciativas da PM no campo da formao e do
treinamento. As mudanas no campo da formao e do treinamento esto em
andamento e merecem ser avaliadas a mdio prazo. So mais palpveis as
conquistas da Ouvidoria e do PROAR quanto implementao do controle
necessrio para uma polcia democrtica. A ao fiscalizadora da Ouvidoria
constitui um meio de garantir mais transparncia nos procedimentos internos de
215
Ten. Cel. ALLEGRETTI, R. Estudo da Validade de Programa Assistencial para Policiais Militares
envolvidos em ocorrncias graves. CSP-II/96 (16), p. 55.
216
Em Busca da Verdadeira Preveno, p. 1-2 (Publicao da Polcia Militar do Estado de So
Paulo); Ten. Cel. ALLEGRETTI, R. Estudo da Validade de Programa Assistencial para Policiais
Militares envolvidos em ocorrncias graves. CSP-II/96 (16).
94
apurao das condutas desviantes, coibindo atitudes corporativas que podem
resultar em impunidade. O PROAR de alguma forma funcionou como um controle
do uso da fora pelos policiais, se tomarmos como base de comparao os
nmeros de ocorrncias fatais em 1991 e 1992. Cabe ressaltar que o recurso
violncia fatal em So Paulo ainda superior ao de outras grandes metrpoles
de pases democrticos, como se viu no Captulo 1.
Por outro, embora relevantes, essas mudanas no so suficientes para
garantir o desenvolvimento de uma concepo democrtica de segurana
pblica. As resistncias ao PROAR mostram os limites de uma programa que,
por no ter aceitao dentro da corporao, sobretudo entre os policiais
encarregados de executar o trabalho operacional, pode ser extinto com a eleio
de um governo cuja poltica de segurana pblica no priorize a conteno da
violncia policial. Como no foram rompidas estruturas como a da Justia militar
estadual, os mecanismos de controle da polcia ainda so limitados. Medidas
que visam a estabelecer um controle efetivo da atividade policial, principalmente
aquelas diretamente voltadas conteno da violncia da PM, sofrem forte
resistncia da maioria da corporao. Como se viu, o projeto de lei que ampliaria
o controle sobre a PM submetendo-a jurisdio comum foi amplamente
combatido pelo lobby das polcias militares no Congresso. Da mesma forma, a
despeito das significativas mudanas em andamento na rea da formao e do
treinamento policiais, destacando-se a grande reduo da carga de matrias
militares nos currculos a partir de 1997, permanece o vnculo entre polcias
militares e exrcito, respaldado pela Constituio Federal. Por fim, verificam-se
avanos pontuais, sem a ruptura de estruturas que historicamente inviabilizaram a
democratizao da instituio policial militar.
95
Bibliografia e fontes pesquisadas
1. Livros e artigos
ADORNO, S. Consolidao democrtica e polticas de segurana pblica no
Brasil: rupturas e continuidades. In: ZAVERUCHA, J. (org.) Democracia e
Instituies Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX. Recife, Ed. Bargao.
ALVES, M. H. M. Estado e oposio no Brasil (1964-1984). 5 ed. Petrpolis,
Vozes, (1984) 1989.
AMERICAS WATCH. 1987. Violncia Policial no Brasil: Execues Sumrias e
Tortura em So Paulo e Rio de Janeiro. So Paulo, Americas Watch
Comittee.
AMERICAS WATCH/NCLEO DE ESTUDOS DA VIOLNCIA/USP. 1993.
Violncia Policial Urbana no Brasil: Mortes e Tortura pela Polcia em So Paulo
e no Rio de Janeiro nos ltimos Cinco Anos, 1987-1992. So Paulo,
NEV/USP.
ASSUMPO, E. 1996. O Estatuto Militar da Polcia de Ordem Pblica. In: A
Fora Policial. So Paulo: Polcia Militar do Estado de So Paulo, 9, p.
111-116.
ARAJO, B. (org.). 1997. A Situao Atual das Polcias Militares no Brasil.
Comeando por So Paulo. So Paulo, Naippe/USP.
BALLB, M. 1992. La Guardia Civil. In: Les Cahiers de la Scurit Intrieure.
Paris: La Documentation Franaise, 11, p. 159-166.
_____ 1991. Les Dfis du Systme Pluraliste en Espagne. In: Les Cahiers de la
Scurit Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 7, p. 121-128.
BARACHO, J. A. O. 1987. "Constituio e Segurana Pblica", In: Revista de
Informao Legislativa. 24 (94): 79-108.
BARCELLOS, C. 1993. ROTA 66. Histria da polcia que mata. So Paulo, Globo.
96
BAYLEY, D. 1985. Patterning of policing. A comparative international analysis. News
Brunswick, Rutgers University Press.
BENEVIDES, M. V. 1983. Violncia, Povo e Polcia. So Paulo, Brasiliense.
_____ 1985. No Fio da Navalha in: Temas IMESC. So Paulo, 2 (2).
_____ 1994. Cidadania e Democracia in: Lua Nova. Revista de Cultura e Poltica.
So Paulo, Cedec, 33.
BICUDO, H. 1994. Violncia: o Brasil Cruel e sem Maquiagem. So Paulo,
Moderna (Coleo Polmica).
BOBBIO, N. 1986. O Futuro da Democracia. Uma Defesa das Regras do Jogo. So
Paulo, Paz e Terra.
_____ 1988. Liberalismo e Democracia. So Paulo, Brasiliense.
_____ 1992. Estado, Governo, Sociedade. Para uma teoria geral da poltica. So
Paulo, Paz e Terra.
_____ 1992. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro. Ed. Campus.
BONNET, B. 1993. Ladaptation du Modle Franais de Police aux Demandes
Locales de Scurit. In: Les Cahiers de la Scurit Intrieure. Paris: La
Documentation Franaise, 13, p. 103-108.
BRETAS, M. L. 1992. La Dmocratie et lavenir des Polices Militaires au Brsil.
In: Les Cahiers de la Scurit Intrieure. Paris: La Documentation Franaise,
11, p. 167-172.
_____ 1997. A Gerra nas Ruas: povo e polcia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de
Janeiro: Arquivo Nacional.
BRODEUR, J. P. 1992. La Gendarmerie Royale du Canada. In: Les Cahiers de la
Scurit Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 11, p. 173-185.
BRUNETEAUX, P. 1992. La Spcificit de la Gendarmerie Apprhende dans le
Cadre de la Formation des Sous-Officiers. In: Les Cahiers de la Scurit
Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 11, p. 93-102.
BUENO, P. W. O. 1996. Polcias Militarizadas para qu? In: A Fora Policial. So
Paulo: Polcia Militar do Estado de So Paulo, 9, p. 105-109.
_____ 1995. Foro Especial para Policiais Militares. In: A Fora Policial. So
Paulo: Polcia Militar do Estado de So Paulo, 7, p. 95-100.
97
CALDEIRA, T. P. R. e HOLSTON, J. 1995. Cidadania, Justia e Direito: Limites e
Perspectivas da Democratizao Brasileira. Caxambu, XIX Encontro Anual
da ANPOCS.
CALDEIRA, T. P. R. 1991. Direitos Humanos ou Privilgios de Bandidos? in:
Novos Estudos Cebrap, 30.
_____1992. City of Walls: Crime, Segregation, and Citizenship in So Paulo.
Dissertation in Anthropology in the Graduate Division of the University of
California at Berkeley.
CAMARGO, C. A. Polcia da Dignidade Humana e Preveno Comunitria. So
Paulo, www.polmil.sp.gov.br, 1 dez. 1997.
CARVALHO, J. M. 1978. As Foras Armadas na Primeira Repblica: o Poder
Desestabilizador. In: FAUSTO, B. (org.) Histria Geral da Civilizao
Brasileira. Rio de Janeiro, Difel, III, vol. 2.
CHEVIGNY, P. 1994. The Edge of the Knife: Police Violence and Accountability in Six
Cities of the Americas.
COELHO, E. C. 1976. Em Busca de Identidade. O Exrcito e a Poltica na
Sociedade Brasileira. Rio de Janeiro, Forense-Universitria.
_____ 1985. A Instituio Militar no Brasil: Um Ensaio Bibliogrfico in: BIB, Rio
de Janeiro, n. 19.
CARDIA, N. 1995. Direitos Humanos: ausncia de cidadania e excluso moral. So
Paulo: Comisso de Justia e Paz de So Paulo.
COMPARATO, F. C. 1981. Segurana e Democracia, In: LAMOUNIER, B.;
WEFFORT, F.; BENEVIDES, M. V. (org.) Direito, Cidadania e Participao.
So Paulo, T.A.Queiroz.
_____ 1993. A Nova Cidadania in: Lua Nova. Revista de Cultura e Poltica. So
Paulo, Cedec/Marco Zero, 28/29.
COOK, W. W. 1978. Hofelds Contributions to the Science of Law, In:
Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning. Greenwood.
DALLARI, D. de Abreu. 1977. O Pequeno Exrcito Paulista. So Paulo,
Perspectiva.
_____ 1996. Justia Militar: privilgio corporativo. In: O Poder dos Juzes. So
Paulo, Saraiva.
98
_____ 1996. A polcia e as garantias de liberdade. In: MORAES, B. B. (org). O
Papel da Polcia no Regime Democrtico, So Paulo, Magerar.
DISSEL, A. 1997. Police Accountability Structures and Oversight Mechanisms.
Center for the Study of Violence and Reconciliation. South Africa. (Paper).
DONNICI, V. 1984. A Criminalidade no Brasil. Meio Milnio de Represso. Rio de
Janeiro, Editora Forense.
DOSSIERS. 1991. La Formation aux Mtiers de la Scurit Publique. In: Les
Cahiers de la Scurit Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 7, p.
187-208.
ELIAS, N. 1988. Violence and Civilization: the state monopoly of physical violence
and its infringement. In: KEANE, J. (ed.) Civil Society and the State. New
European Perspectives, London, New York: Verso.
FEIGUIN, D., LIMA, R. "Tempo de violncia: medo e insegurana em So Paulo".
In: So Paulo em perspectiva, SP, vol. 9, n 2, abr./jun. 1995.
FERNANDES, H. 1974. Poltica e Segurana. So Paulo, Alfa-Omega.
_____ 1989. Rondas Cidade: uma Coreografia do Poder in: Tempo Social.
Revista de Sociologia, So Paulo, USP, 1 (2).
_____ 1993. No h mais canibais em nossa terra, comemos o ltimo ontem
(mimeo).
FIJNAUT, C. 1991. Dmocratie et Structure du Systme de Police en Europe. In:
Les Cahiers de la Scurit Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 7,
p. 111-116.
FILOCRE, L. A.; CABRAL, J.; CAMARGO, O. e SILVEIRA, O. L. "A Justia Militar
Estadual e a Constituinte. Aspectos Fundamentais: Objees e
Respostas" (mimeo).
FISCHER, R. M. 1985. O Direito da Populao Segurana: Cidadania e Violncia
Urbana. Petrpolis, Vozes; So Paulo, CEDEC.
GABALDN, L. G. 1996. La policia y el uso de la fuerza en Venezuela. In:
WALDMANN, P. (org.) Justicia en la calle. Ensayos sobre la policia en
America Latina. Colombia. Fondatin Konrad Adenauer.
GODINHO, G. 1976. Histria da Justia Militar do Estado de So Paulo. So Paulo,
Imprensa Oficial do Estado.
99
GRECCO. Abordagem policial. A Fora Policial. Polcia Militar do Estado de
So Paulo.
GREW, J. 1993. Le Contrle Externe de la Police en Irland du Nord: origines,
fonctionnement, effets. In: Les Cahiers de la Scurit Intrieure. Paris: La
Documentation Franaise, 14, p. 57-65.
HALL, M. e PINHEIRO, P. S. 1985. Alargando a Histria da Classe Operria:
Organizao Lutas e Controle.
HUMAN RIGHTS WATCH. 1994. Final Justice: Police and Death Squad Homicides
of Adolescents in Brasil. Human Rights Watch/Americas. New York,
Washisgton, Los Angeles, London.
_____ 1997. Brutalidade Policial Urbana no Brasil. Nova Iorque, Washington,
Londres, Bruxelas, Rio de Janeiro.
LAFER, C. 1975. O Sistema Poltico Brasileiro. So Paulo, Editora Perspectiva.
LEAL, V. N. 1948. Coronelismo, Enxada e Voto. Rio de Janeiro, Revista Forense.
LE DOUSSAL, R. 1993. La Prvention des Fautes Professionnelles: une nouvelle
approche du contrle interne de la police. In: Les Cahiers de la Scurit
Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 14, p. 49-56.
LAZZARINI, A. 1990. "A Constituio de 1988 e as Infraes Penais Militares", In:
Revista de Informao Legislativa. 27 (108): 147-154.
_____ 1991. "Segurana Pblica e Aperfeioamento da Polcia no Brasil", In:
Revista Forense. 87 (316): 3-34.
_____ 1993. "A Justia Milittar Estadual", In: Revista de Informao Legislativa. 30
(118): 53-60.
LIMA, R. K. 1994. A Polcia da Cidade do Rio de Janeiro. Seus Dilemas e Paradoxos.
Rio de Janeiro, Ed. Polcia Militar do Rio de Janeiro.
LESING, N. 1996. Realidad y perspectivas de la policia en America Latina.
Resumen y reflecin. In: WALDMANN, P. (org.) Justicia en la calle. Ensayos
sobre la policia en America Latina. Colombia. Fondatin Konrad Adenauer.
Mapa de risco da violncia: cidade de So Paulo, SP, Cedec, 1996.
MARSHALL, T. H. 1967. Cidadania e Classe Social, In: Cidadania, Classe Social
e Status. Rio de Janeiro, Zahar Editores.
100
MELLO JORGE, M. H. P. 1998. Adolescentes e jovens como vtimas. In:
PINHEIRO, P. S. et al. (org.). So Paulo sem medo: um diagnstico da
violncia urbana. Rio de Janeiro, Garamond.
MESQUITA NETO, P. 1998. Policiamento Comunitrio: a experincia em So Paulo.
Relatrio de pesquisa. NEV/USP.
MINGARDI, G. 1992. Tiras, Gansos e Trutas. So Paulo, Scritta Ed.
_____ 1998. O Estado o o crime organizado. So Paulo, Instituto Brasileiro de
Cincias Criminais.
MIQUELINI FILHO, P. 1994. Programa de Qualidade Total na PMESP. In: A
Fora Policial. So Paulo: Polcia Militar do Estado de So Paulo, 10, p.
57-63.
MONET, J. C. 1993. La Ncessaire Adaptation de la Police dans les
Dmocraties Occidentales: rapport gnral. In: Les Cahiers de la Scurit
Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 13, p. 183-199.
MONJARDET, D. 1996. Ce que fait la police: sociologie de la force publique. Paris:
La Dcouverte.
_____ 1993. Le Modle Franais de Police. In: Les Cahiers de la Scurit
Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 13, p. 61-82.
MORAES, A. M. 1980. "Polcia: Problemas e Solues", In: Revista da Associao
dos Delegados de Polcia do Estado de So Paulo. 8 (14).
NCLEO DE ESTUDOS DA VIOLNCIA e COMISSO TEOTONIO VILELA, ed.
final Tlio Kahn. 1993. Os Direitos Humanos no Brasil. So Paulo,
NEV/CTV.
NCLEO DE ESTUDOS DA VIOLNCIA e COMUNIDADE ECONMICA
EUROPIA. Democracia e Direitos Humanos. So Paulo, 1998.
OCQUETEAU, F. 1997. A Expanso da Segurana Privada na Frana. In:
Tempo Social. Revista de Sociologia da USP. So Paulo, USP, FFLCH, 9
(1).
ODONNELL, G. 1991. Democracia Delegativa in: Novos Estudos Cebrap, 31.
_____ 1993. Sobre o Estado, a Democratizao e alguns problemas
conceituais in: Novos Estudos Cebrap, 36.
101
OUTRIVE, L. V.; MORIN, J. P. 1992. La Dmilitarization de la Gendarmerie
Belge. In: Les Cahiers de la Scurit Intrieure. Paris: La Documentation
Franaise, 11, p. 125-138.
PAIXO, A. L. 1982. A Organizao Policial numa rea Metropolitana. In:
Dados. Revista de Cincias Sociais. Rio de Janeiro, vol. 25, n. 1.
PAOLI, M. C., PINHEIRO, P. S. BENEVIDES, M. V., DAMATTA, R. 1982. A
Violncia Brasileira. So Paulo, Brasiliense.
PEIXOTO, A. G. 1989. "A Justia Militar na Nova Constituio Brasileira", In:
Revista de Informao Legislativa. 26 (101): 43-46.
PEREIRA, A. 1998. O Monstro Algemado? Violncia do Estado e Represso
Legal no Brasil. In: ZAVERUCHA, J. (org.). Democracia e Instituies
Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX. Recife, Ed. Bargao.
PICARD, E.; RICHARDOT, M.; WATIN-AUGOUARD, M. 1992. Gendarmerie-
police: une dualit en dbat. In: Les Cahiers de la Scurit Intrieure. Paris:
La Documentation Franaise, 11, p. 189-209.
PINHEIRO, P. S., ADORNO, S., CARDIA, N. Continuidade Autoritria e Construo
da Democracia. Projeto Integrado de Pesquisa. So Paulo, NEV/USP.
PINHEIRO, P. S. Direitos Humanos no Ano que Passou: Avanos e
Continuidades. In: Os Direitos Humanos no Brasil. Universidade de So
Paulo, Ncleo de Estudos da Violncia e Comisso Teotnio Vilela, So
Paulo, NEV/CTV, 1995.
PINHEIRO, P. S., IZUMINO, E. e FERNANDES, M. C. 1991. "Violncia Fatal:
conflitos policiais em So Paulo", In: Revista USP. So Paulo, 9: 95-112.
PINHEIRO, P. S. E SADER, E. 1985. O controle da polcia no processo de
transio democrtica no Brasil in: Temas IMESC. So Paulo, 2 (2).
PINHEIRO, P. S. 1979. Violncia do Estado e Classes Populares in: Separata da
Revista Dados, 22.
PINHEIRO, P. S. Polcia e crise poltica. In: PAOLI, M. C. et. alii (org.). A violncia
brasileira. So Paulo, Brasiliense, 1982.
_____ 1981. Violncia e Cultura in: LAMOUNIER, B.; WEFFORT, F.;
BENEVIDES, M. V. (org.) Direito, Cidadania e Participao. So Paulo, T. A.
Queiroz.
_____ 1991. Autoritarismo e Transio, In: Revista USP. So Paulo, 9: 45-56.
102
_____ 1983. Violncia sem controle e militarizao da polcia in: Novos Estudos
Cebrap, So Paulo, vol. 2, n. 1.
REIS, F. W. e ODONNELL, G. (orgs.). 1988. A Democracia no Brasil. Dilemas e
Perspectivas. So Paulo, Vrtice, Ed. Revista dos Tribunais.
REIS, F. W. 1988. Direitos Humanos e Sociologia do Poder in: Lua Nova. Cultura
e Poltica, Cedec/Marco Zero, 15.
RIEDMANN, A. 1996. La reforma policial en Colombia". In: WALDMANN, P.
(org.) Justicia en la calle. Ensayos sobre la policia en America Latina.
Colombia. Fondatin Konrad Adenauer.
ROSENN, K. S. 1990. Brazils New Constitution: An Exercise in Transient
Constitutionalism for a Transitional Society, In: The American Journal of
Comparative Law. 38 (4).
SERRAT, Matheus Monte. 1988. "A Justia Militar", In: Revista de Processo. 15
(57): 211-219.
SKOGAN, W. G. 1993. La Police Communautaire aux tats-Unis. In: Les Cahiers
de la Scurit Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 13, p. 121-
149.
SOUZA, B. C. 1986. A Polcia Militar na Constituio. So Paulo, Livraria e Editora
Universitria de Direito.
SOUZA, L. A. F. 1992. So Paulo, Polcia Urbana e Ordem DIsciplinar: a polcia civil
e a ordem social na Primeira Repblica. Dissertao de Mestrado,
Departamento de Sociologia, Universidade de So Paulo.
TELLES, A. C. S. 1989/1991. "Justia Militar, In: Revista do Superior Tribunal
Militar. 11/13: 9-23.
VAN MAANEN, J. 1992. Coment devient-on policier?. In: Les Cahiers de la
Scurit Intrieure. Paris: La Documentation Franaise, 11, p. 291-313
(Chronique trangre).
WEBER, M. 1944. Los Tipos de Dominacin in: Economia y Sociedad. Mxico,
Fondo de Cultura, vol. 1.
_____ 1944. El Estado racional como asociacin de dominio institucional con el
monopolio del poder legtimo in: Economia y Sociedad. Mxico, Fondo de
Cultura, vol. 2.
_____ 1967. A Poltica como Vocao In: Cincia e Poltica: Duas Vocaes.
So Paulo, Cultrix.
103
WALDMANN, P. 1996. Justicia en la Calle. Ensayos sobre la Policia en America
Latina. Colombia. Fondatin Konrad Adenauer.
WEFFORT, F. 1992. Qual Democracia? So Paulo, Companhia das Letras.
ZAVERUCHA, J. A Constituio Brasileira de 1988 e seu legado autoritrio:
formalizando a democracia mas retirando a essncia. In: ZAVERUCHA, J.
(org.). Democracia e Instituies Polticas Brasileiras no Final do Sculo XX.
Recife, Ed. Bargao, 1998.
_____ "A Justia Militar no Estado de Pernambuco Ps-Regime Militar: um
legado autoritrio" (mimeo.).
104
2. Artigos publicados na imprensa
BICUDO, H. Crimes militares e crimes de militares.In: Folha de S. Paulo, (8/4/93,
p.1-3).
_____ A Violncia Policial e a Justia. In: Folha de S. Paulo (18/5/93, p. 1-3).
_____ Justia Militar e impunidade. In: Folha de S. Paulo (3/3/95, p. 1-3).
_____ Justia Militar e corporativismo. In: Folha de S. Paulo (23/5/95, p. 1-3).
_____ Ainda a Justia Militar da PM. In: Folha de S. Paulo (6/9/95, p. 1-3).
_____ Policiais e Justia Comum. In: Folha de S. Paulo (30/1/96, p. 1-3).
_____ O Senado e a Justia das PMs. In: Folha de S. Paulo (13/5/96, p. 1-3).
_____ Problema ainda no resolvido. In: Folha de S. Paulo (13/8/96, p. 1-3).
_____ Justia igual para todos. In: Jornal da Tarde (9/8/96).
CINTRA JR. D. A. D. Judicirio e Reforma. Folha de S. Paulo, 12/11/94.
CORRA, G. Ideologia e mentiras contra a Justia Militar. In: Folha de S. Paulo
(30/1/96, p. 1-3).
_____A Justia Militar no banco dos rus. In: Folha de S. Paulo (2/4/95, p. 3-2).
_____As f alcias contra a Justia Militar. In: Folha de S. Paulo (14/5/95, p.3-2).
_____ Os nefelibatas, os filsofos e a Justia Militar. In: Folha de S. Paulo
(29/9/95, p. 1-3).
_____ Benefcio duvidoso. In: Jornal da Tarde (9/8/96).
_____ Equvocos da i mprensa e de outros. In: Folha de S. Paulo (9/9/96, p. 1-3).
_____ Uma nova Justia Militar. In: Folha de S. Paulo (20/5/96, p. 1-3).
DIRCEU, J. Justia Militar e impunidade. In: Folha de S. Paulo (7/6/96, p.1-3).
LAZZARINI, A. A Justia Militar Estadual.In: Folha de S. Paulo (4/4/93, p.1-3).
_____ O policial como vtima. In: Folha de S. Paulo (26/2/94, p. 3-2).
105
_______ Mudana na Justia. In: Folha de S. Paulo (23/5/96, p. 3-2).
NEVES, A. A. Contra a honra, no. In: Folha de S. Paulo (11/5/95, p. 1-3).
_____ Por favor, mudem o disco. In: Folha de S. Paulo (1/6/95, p. 1-3).
PINHEIRO, P. S. Impunidade e pobreza. In: Folha de S. Paulo (15/4/93, p. 1-3).
_____ Fim da impunidade. In: Folha de S. Paulo (31/5/93, p. 1-3).
_____ Massacres e conluio. In: Folha de S. Paulo (29/7/93, p. 1-3).
_____ Violncia e reviso. In: Folha de S. Paulo (9/3/94, p. 1-3).
ROMANO, R. Juzes, democracia, imprensa.. In: Folha de S. Paulo (18/5/95, p.
1-3).
ROSAS, H. A Justia (do) Militar Estadual.In: Folha de S. Paulo (22/4/94, p. 3-2).
SADER. E. Justia igual para todos. In: Folha de S. Paulo (3/5/94, p. 3-2).
3. Peridicos
Publicao Oficial da Associao Juzes para a Democracia. So Paulo, ano 3, n 4
(jan/95), n 5 (jul/95), n 6(dez/95).
106
4. Monografias da Polcia Militar
Ten.cel. ALLEGRETTI, R. Estudo da validade de programa assistencial para policiais
militares envolvidos em ocorrncias graves. CSP-II/96.
Ten.cel. CARDOSO, A.C. Desenvolvimento da Polcia Comunitria. CSP/1994.
Cap. COSTA. Nelson Jos. Ao Policial Militar Legtima na Polcia Militar. CAO
I/90.
Cap. CRUZ, S. B. Reflexo sobre a Violncia Policial Militar. CAO I/92.
Cap. GOMES, A. Crimes praticados por policiais militares: providncias imediatas.
CAO-III/89.
Ten.cel. LOPES, Jos Sampaio. Violncia Social Urbana. As Ocorrncias de Morte
e as Alteraes Sociais Produzidas no Cidado Policial Militar. CSP I/95.
Cap. LUZ, W. A. A violncia policial militar. CAO-I/92.
Cap. OLIVEIRA, J. A. E a Polcia Militar violenta? CAO-I/92.
Cap. PIRES, A. C. Violncia Policial. Estudo de Casos. CAO-I/86.
Maj. SILVA, J. E. Violncia Policial Militar. CSP I/89.
Cap. SILVA, J. O. Apontamentos para um possvel manual de procedimentos no
caso de morte do policial militar. CAO-I/96.
Cap. Fem. SOUZA, E. O. A. A violncia praticada pelo policial militar. CAO-I/96.
Maj. SOUZA, J. M. A Violncia Policial contra o Policial. CSP I/94.
107
5. Jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal
5.1 - Fontes consultadas:
Revista Trimestral de Jurisprudncia - 1972 a 1980
Revista de Jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal - 1979 a 1980
Revista dos Tribunais, n 424 (1969)
5.2 - Material selecionado:
Revista Trimestral de Jurisprudncia (RTJ):
- Recursos de Habeas Corpus:
RHC 50.571 - MG (RTJ/65)
RHC 52.958 - SP (RTJ/72)
RHC 50.577 - MG (RTJ/65)
RHC 49.042 - SP (RTJ/59)
RHC 53.742 - RJ (RTJ/77)
RHC 54.313 - SP (RTJ/78)
RHC 52.757 - CE (RTJ/75)
RHC 55.888 - MG (RTJ/85)
RHC 55.946 - SP (RTJ/89)
RHC 53.091 - MG (RTJ/79)
- Conflitos de Jurisdio:
CJ 5.780 - MG (RTJ/63)
CJ 5.984 - RS (RTJ/78)
- Habeas Corpus:
HC 52.879 - GB (RTJ/72)
HC 52.329 - RS (RTJ/71)
HC 52.535 - SP (RTJ/71)
HC 54.207 - SP (RTJ/78)
HC 56.275 - SP (RTJ/87)
HC 56.241 - SP (RTJ/88)
HC 56.579 - SP (RTJ/89)
HC 57.334 - SP (RTJ/91)
HC 55.617 - RJ (RTJ/91)
- Recursos Extraordinrios Criminais:
REC 84.592 - SP (RTJ/79)
REC 82.2O9 - SP (RTJ/81)
REC 86.968 - SP (RTJ/81)
Revista de Jurisprudncia do Supremo Tribunal Federal (JSTF):
- Recursos de Habeas Corpus:
RHC 54.310 - SP (JSTF/7)
RHC 54.550 - SP (JSTF/2)
RHC 54.979 - MA (JSTF/7)
RHC 55.304 - SP (JSTF/2)
RHC 56.049 - SP (JSTF/3)
RHC 57.276 - SP (JSTF/13)
RHC 57.293 - PA (JSTF/14)
RHC 57.540 - RS (JSTF/16)
RHC 57.916 - RS (JSTF/22)
RHC 58.260-5 - PR (JSTF/28)
- Conflitos de Jurisdio:
CJ 6.155 - SP (JSTF/5)
- Habeas Corpus:
HC 53.560 - GO (JSTF/1)
HC 55.781 - RS (JSTF/4)
HC 55.903 - PR (JSTF/4)
HC 56.157 - SP (JSTF/6)
HC 57.235 - DF (JSTF/13)
HC 57.547 - MA (JSTF/16)
HC 57.663 - SP (JSTF/19)
HC 58.131 - MG (JSTF/24)
HC 58.102-1 - AC (JSTF/27)
HC 58.663-5 - PB (JSTF/33)
HC 58.345-8 - SP (JSTF/28)
- Recursos Extraordinrios Criminais:
REC 86.204 - SP (JSTF/5)
Revista dos Tribunais:
Habeas Corpus 47.111 - SP (RT/424).
108
6. Legislao e documentos consultados
ACQUVIVA, M.C. (org). 1992. Cdigo Penal Militar. So Paulo, Rideel.
CAMPANHOLE, A. e H.. 1992. Constituies do Brasil. So Paulo, Editora Atlas.
COLEO DAS LEIS DA REPBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL:
1891, 1899, 1926, 1931, 1932, 1934, 1944.
DELMANTO, C. Cdigo Penal Comentado, So Paulo, Renovar, 3 ed. 1991.
DIRIO DE JUSTIA DA UNIO: 9/7/1962 (121), 25/11/1963 (222).
DIRIO DO CONGRESSO NACIONAL: 22/11/1960.
DIRIO OFICIAL DO ESTADO DE SO PAULO: 27/12/1957 (291).
LEX - COLETNEA DE LEGISLAO E JURISPRUDNCIA. Legislao
Federal e do Estado de So Paulo: 1937 a 1993. So Paulo, Lex Editora.
MIRABETI, J.F. 1992. Jurisdio e Competncia. In: Cdigo de Processo Penal.
So Paulo, Atlas.
POLCIA MILITAR DO ESTADO DE SO PAULO. 1992. Coletnea de Legislao.
So Paulo.
PROCESSO 12.061/74 da Justia Militar do Estado de So Paulo.
PROGRAMA DE IMPLANTAO DA POLCIA COMUNITRIA. Governo do
Estado de So Paulo, Secretaria de Segurana Pblica, Polcia Militar do
Estado de So Paulo e Comisso de Implantao da Polcia Comunitria.
So Paulo, [1998].
PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS. Governo Fernando
Henrique Cardoso. Braslia, Presidncia da Repblica, Secretaria de
Comunicao Social, Ministrio da Justia, 1996.
PROJETOS DE LEI: 199/36 (So Paulo), 2045/57 (So Paulo), 2457/60
(Federal).
RELATRIO ANUAL DE PRESTAO DE CONTAS, 1997. Ouvidoria da Polcia
do Estado de So Paulo.
RELATRIO ANUAL DE PRESTAO DE CONTAS, 1996. Ouvidoria da Polcia
do Estado de So Paulo.
109
Você também pode gostar
- Teste de LippDocumento2 páginasTeste de Lippsiddharthapvt87% (23)
- O Uso Da Violência Contra o Estado Ilegal - Vladimir SafatleDocumento9 páginasO Uso Da Violência Contra o Estado Ilegal - Vladimir SafatlePedro DavoglioAinda não há avaliações
- Para Que Serve A PsicanáliseDocumento33 páginasPara Que Serve A PsicanáliseTed Albuquerque100% (1)
- Educação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasNo EverandEducação em perspectiva crítica: inquietudes, análises e experiênciasAinda não há avaliações
- Psicossomática Um Estudo Histórico e EpistemológicoDocumento11 páginasPsicossomática Um Estudo Histórico e EpistemológicoPedro R. CoutinhoAinda não há avaliações
- Projeto Musical - Dudu PDFDocumento5 páginasProjeto Musical - Dudu PDFRenata Gonçalves0% (1)
- As Emoções em SkinnerDocumento28 páginasAs Emoções em SkinnermacacopaquinhoAinda não há avaliações
- Curso Justiça RestaurativaDocumento2 páginasCurso Justiça RestaurativaGrupo Educacional RsAinda não há avaliações
- Loic Wacquant - Mapear o Campo ArtísticoDocumento7 páginasLoic Wacquant - Mapear o Campo ArtísticoFernanda AbreuAinda não há avaliações
- Livro Das Cançoes PDFDocumento130 páginasLivro Das Cançoes PDFJuninho ArantesAinda não há avaliações
- Criminalização Da Miséria A Imagens Do Terror - Gizlene NederDocumento10 páginasCriminalização Da Miséria A Imagens Do Terror - Gizlene NederDeborah MarquesAinda não há avaliações
- Funga AlafiaDocumento12 páginasFunga AlafiaEstêvão Maciel100% (1)
- Economia de RondôniaDocumento7 páginasEconomia de RondôniaVINICIUS DANTAS SILVEIRAAinda não há avaliações
- O Direito Nas Teorias de Bourdieu e LuhmannDocumento21 páginasO Direito Nas Teorias de Bourdieu e LuhmannLourenço De Miranda Freire NetoAinda não há avaliações
- Dialogo, Mediação e Justiça RestaurativaDocumento173 páginasDialogo, Mediação e Justiça RestaurativamarcelopelizzoliAinda não há avaliações
- Vera Telles Pobreza CidadaniaDocumento14 páginasVera Telles Pobreza CidadaniarodolfoarrudaAinda não há avaliações
- Antonio L. Paixao - A Organização Policial Numa Área MetropolitanaDocumento12 páginasAntonio L. Paixao - A Organização Policial Numa Área MetropolitanaEstêvão BarrosAinda não há avaliações
- BOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais Da CiênciaDocumento43 páginasBOURDIEU, Pierre. Os Usos Sociais Da CiênciaDenise EldochyAinda não há avaliações
- 01.ead.0045 50LD PDFDocumento100 páginas01.ead.0045 50LD PDFJulioAinda não há avaliações
- Políticas Públicas para A EJADocumento59 páginasPolíticas Públicas para A EJAnewtonsrgioAinda não há avaliações
- Mediaçao Socio-CulturalDocumento144 páginasMediaçao Socio-CulturalacccruzAinda não há avaliações
- Educação Pobreza e Desigualdade Social - UnB - Vol 1Documento235 páginasEducação Pobreza e Desigualdade Social - UnB - Vol 1Marco CostenaroAinda não há avaliações
- Nobre Et Al (2019) Vozes - Imagens e Resistencias Nas Ruas PDFDocumento622 páginasNobre Et Al (2019) Vozes - Imagens e Resistencias Nas Ruas PDFIana RibeiroAinda não há avaliações
- Loïc Wacquant - Esclarecer o HabitusDocumento6 páginasLoïc Wacquant - Esclarecer o HabitusJosé Luiz Soares100% (1)
- Cartilha Medidas Socioeducativas - MPMGDocumento48 páginasCartilha Medidas Socioeducativas - MPMGLeopoldo LopesAinda não há avaliações
- Escola Pública, Açao Dialogica e Açao Comunicativa: A Radicalidade Democrática em Paulo Freire e Jurgen Habermas - Bianco Zalmora GarciaDocumento207 páginasEscola Pública, Açao Dialogica e Açao Comunicativa: A Radicalidade Democrática em Paulo Freire e Jurgen Habermas - Bianco Zalmora GarciaBianco Zamora GarciaAinda não há avaliações
- Da Patologização Dos Afetos À Medicalização Da TristezaDocumento308 páginasDa Patologização Dos Afetos À Medicalização Da TristezaJulia BragaAinda não há avaliações
- Legado Livros Moacir Gadotti Pensamento Pedagogico BrasileiroDocumento172 páginasLegado Livros Moacir Gadotti Pensamento Pedagogico BrasileiroÉrica Cruz100% (1)
- Imaginar para Encontrar A RealidadeDocumento57 páginasImaginar para Encontrar A RealidadeROBIMBSAinda não há avaliações
- Fotografia & História Por Boris KossoyDocumento5 páginasFotografia & História Por Boris Kossoymagadcv0% (2)
- Livro Sociologia Dos Desastres Versao EletronicaDocumento282 páginasLivro Sociologia Dos Desastres Versao EletronicaJulio RochaAinda não há avaliações
- CALIMAN Livro "Paradigmas Da Exclusão Social" 2008Documento369 páginasCALIMAN Livro "Paradigmas Da Exclusão Social" 2008Geraldo CalimanAinda não há avaliações
- Tempo e Presença - Agosto/setembro de 1989Documento67 páginasTempo e Presença - Agosto/setembro de 1989Instituto Socioambiental100% (2)
- O Que É Saúde - Naormar de Almeida Filho PDFDocumento16 páginasO Que É Saúde - Naormar de Almeida Filho PDFcecibarukiAinda não há avaliações
- Antropologia Velhice - GuitaDocumento11 páginasAntropologia Velhice - Guitaleontut100% (2)
- BRABO. Direitos Humanos, Educação - 50 Anos Do Golpe Militar PDFDocumento231 páginasBRABO. Direitos Humanos, Educação - 50 Anos Do Golpe Militar PDFRick Afonso-RochaAinda não há avaliações
- CASTEL, R. A Insegurança SocialDocumento49 páginasCASTEL, R. A Insegurança SocialAdriano de O.Ainda não há avaliações
- Grandes Correstes HistoriográficasDocumento2 páginasGrandes Correstes Historiográficasapi-3839133100% (2)
- PDFDocumento308 páginasPDFEnzo PassosAinda não há avaliações
- MOTTA, Fernando PEREIRA, Luiz Bresser - Introdução À Organização BurocráticaDocumento22 páginasMOTTA, Fernando PEREIRA, Luiz Bresser - Introdução À Organização BurocráticaCharles Pilger100% (1)
- Violência e Mal Estar Na SociedadeDocumento137 páginasViolência e Mal Estar Na SociedadejoanaAinda não há avaliações
- As Coletividades AnormaisDocumento210 páginasAs Coletividades AnormaisjulialdtAinda não há avaliações
- Orientação Educacional e o Adolescente - Cida SanchesDocumento123 páginasOrientação Educacional e o Adolescente - Cida SanchesFabricio Spricigo100% (1)
- O Estado Do Direito No Estado de Direito: Por Uma Ecologia de Suas PossibilidadesDocumento24 páginasO Estado Do Direito No Estado de Direito: Por Uma Ecologia de Suas PossibilidadesWálber Araujo CarneiroAinda não há avaliações
- Botelho. Circulação de Ideias e Construção NacionalDocumento29 páginasBotelho. Circulação de Ideias e Construção NacionalRenato RibeiroAinda não há avaliações
- Afonso Albuquerque - Um Outro Quarto PoderDocumento36 páginasAfonso Albuquerque - Um Outro Quarto PoderMarina BragaAinda não há avaliações
- A Democracia Pode Ser Assim: História, Formas E PossibilidadesDocumento104 páginasA Democracia Pode Ser Assim: História, Formas E Possibilidadesyagogierlini2167Ainda não há avaliações
- Antropologia IntroducaoDocumento28 páginasAntropologia Introducaokatiaregina0511100% (2)
- Guita Grin Debert. Velho, Terceira Idade, Idoso Ou Aposentado. Revista Coletiva. 2011Documento4 páginasGuita Grin Debert. Velho, Terceira Idade, Idoso Ou Aposentado. Revista Coletiva. 2011mar-23423Ainda não há avaliações
- Reforma Política No BrasilDocumento272 páginasReforma Política No Brasilapi-3732963100% (2)
- Debates sobre Educação, Ciência e MuseusNo EverandDebates sobre Educação, Ciência e MuseusAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- Martín-Baró & Klaus Holzkamp: um encontro necessário para a psicologiaNo EverandMartín-Baró & Klaus Holzkamp: um encontro necessário para a psicologiaAinda não há avaliações
- As Adolescências Periféricas:: Uma Pesquisa-Ação Integral/TranspessoalNo EverandAs Adolescências Periféricas:: Uma Pesquisa-Ação Integral/TranspessoalAinda não há avaliações
- Ganchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroNo EverandGanchos, Tachos e Biscates: jovens, trabalho e futuroAinda não há avaliações
- Políticas Públicas de Qualificação Profissional & EJA: Dilemas e Perspectivas IINo EverandPolíticas Públicas de Qualificação Profissional & EJA: Dilemas e Perspectivas IIAinda não há avaliações
- Direitos humanos em tempos de barbárie: Questionar o presente para garantir o futuroNo EverandDireitos humanos em tempos de barbárie: Questionar o presente para garantir o futuroAinda não há avaliações
- Proletários das Secas: Experiências nas Fronteiras do Trabalho (1877-1919)No EverandProletários das Secas: Experiências nas Fronteiras do Trabalho (1877-1919)Ainda não há avaliações
- Ficha de Controle de Doenças ExantemáticasDocumento2 páginasFicha de Controle de Doenças ExantemáticasIsaacQueirozAinda não há avaliações
- Curso 228543 Aula 05 D89a CompletoDocumento127 páginasCurso 228543 Aula 05 D89a CompletoSterphane VitóriaAinda não há avaliações
- Agnes Grey - Anne Brontë - 2014Documento216 páginasAgnes Grey - Anne Brontë - 2014Francisco Chagas Jr.Ainda não há avaliações
- Gologia Na Região de BarueDocumento6 páginasGologia Na Região de BarueVercinio Teodoro VtbAinda não há avaliações
- Contabilidade - Nível 4Documento187 páginasContabilidade - Nível 4carolinaAinda não há avaliações
- PGR 2 R Construtora - IconhaDocumento41 páginasPGR 2 R Construtora - IconhaGiovani Lapa100% (6)
- WN© - Medicina Legal Esquematizado - Todos BimestresDocumento18 páginasWN© - Medicina Legal Esquematizado - Todos BimestresGiovanni MonteiroAinda não há avaliações
- FibromialgiaDocumento16 páginasFibromialgiaCelina LagoAinda não há avaliações
- 281 PDFsam DJ7507 2022-DISPONIBILIZADODocumento10 páginas281 PDFsam DJ7507 2022-DISPONIBILIZADOPedro AugustoAinda não há avaliações
- Geografia 5° AnoDocumento3 páginasGeografia 5° AnoMaely PethOvick75% (4)
- Norisk 23Documento40 páginasNorisk 23Ivan CarlosAinda não há avaliações
- Como Fazer A Obra de Deus - EDIR MACEDODocumento78 páginasComo Fazer A Obra de Deus - EDIR MACEDOHudson RodriguesAinda não há avaliações
- Contrato - MaurícioDocumento7 páginasContrato - MaurícioAlan F. BritoAinda não há avaliações
- Félix Ravaisson - Ensaio Sobre A Metafísica de AristótelesDocumento11 páginasFélix Ravaisson - Ensaio Sobre A Metafísica de AristótelesMarkotooAinda não há avaliações
- Curso Basico DepilacaoDocumento23 páginasCurso Basico DepilacaoJulissa Mello100% (1)
- Síndrome MetabólicaDocumento27 páginasSíndrome MetabólicaFabiana Martins Curvelo100% (1)
- Apresentação TDM J.CarvalhoDocumento63 páginasApresentação TDM J.CarvalhoElidio MunliaAinda não há avaliações
- Tese AutaquiasDocumento111 páginasTese AutaquiasFernando CaminhaAinda não há avaliações
- Teoria Dos NumerosDocumento114 páginasTeoria Dos NumerosJoao Massingarela100% (2)
- Em Prep-Ficha Aglom-Popul EuropaDocumento2 páginasEm Prep-Ficha Aglom-Popul EuropaRaquel Moreira100% (1)
- Avaliação Mensal de História, TéoDocumento5 páginasAvaliação Mensal de História, TéoSimone SorrentinoAinda não há avaliações
- Determinação Organoclorado em AlimentoDocumento7 páginasDeterminação Organoclorado em AlimentoLetícia MenezesAinda não há avaliações
- Witness Lee 2 Corintios PDFDocumento40 páginasWitness Lee 2 Corintios PDFLevi Abraão RodriguesAinda não há avaliações
- Vocabulario Ortografico Da Lingua Portuguesa 1943Documento9 páginasVocabulario Ortografico Da Lingua Portuguesa 1943LILIAN NOLASCO HOFFMANN IRALAAinda não há avaliações
- Nicho Adulto Mulher - Exemplo Produto Orgasmo GarantidoDocumento10 páginasNicho Adulto Mulher - Exemplo Produto Orgasmo GarantidoYasminAinda não há avaliações
- Protocolo Gestacao GemelarDocumento9 páginasProtocolo Gestacao GemelarMicheleWerneckAinda não há avaliações
- Curso 191428 Aula 09 0b0a SimplificadoDocumento100 páginasCurso 191428 Aula 09 0b0a SimplificadoSerei ServidorAinda não há avaliações
- 7.1-CTPS CarlosDocumento4 páginas7.1-CTPS CarlosMarcos BertoldoAinda não há avaliações
- O Ceu A Pedra e A Terra Os Cistercienses PDFDocumento148 páginasO Ceu A Pedra e A Terra Os Cistercienses PDFRodolfo Nogueira CruzAinda não há avaliações