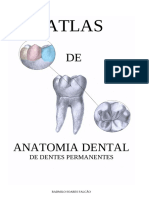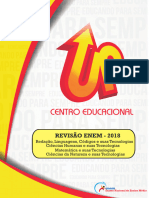Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Kripke
Kripke
Enviado por
fabriciomoledoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Kripke
Kripke
Enviado por
fabriciomoledoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
"#$
Nomeao e Necessidade
114
Saul Kripke
Passo finalmente a uma discusso algo ligeira da aplicao das consideraes
anteriores tese da identidade. Os tericos da identidade tm-se preocupado com
diversos tipos distintos de identificaes: de uma pessoa com o seu corpo, de uma
sensao particular (ou acontecimento ou estado de ter a sensao) com um estado
cerebral particular (a dor de Jones s 06:00 foi a sua estimulao das fibras-C
nesse momento), e de tipos de estados mentais com os tipos de estados fsicos
correspondentes (a dor a estimulao das fibras-C). Cada um destes e doutros
tipos de identificao na literatura apresenta problemas analticos, apropriadamente
levantados por crticos cartesianos, que no podem ser evitados por um simples
apelo a uma alegada confuso de sinonmia com identidade. Devo mencionar que
no h evidentemente qualquer impedimento bvio, pelo menos (digo-o
cautelosamente) nenhum que devesse ocorrer a qualquer pensador inteligente
numa primeira reflexo mesmo antes da hora de dormir, a que se defenda algumas
teses de identidade ao mesmo tempo que se duvida de outras ou se as nega. Por
exemplo, alguns filsofos aceitaram a identidade de sensaes particulares com
estados cerebrais particulares negando ao mesmo tempo a possibilidade de
identidades entre tipos mentais e fsicos
115
. Concentrar-me-ei primariamente nas
identidades tipo-tipo, e os filsofos em causa estaro portanto imunes a grande
parte da discusso; mas mencionarei brevemente os outros tipos de identidades.
Descartes, e outros depois dele, argumentaram que uma pessoa ou mente
distinta do seu corpo, dado que a mente poderia existir sem o corpo. Poderia
igualmente ter chegado mesma concluso a partir da premissa de que o corpo
114
Excerto.
##%
Thomas Nagel e Donald Davidson so exemplos notveis. As suas perspectivas so muito interessantes e
gostaria de as poder discutir em maior detalhe. duvidoso que tais filsofos desejem denominar-se
materialistas. Davidson em particular fundamenta a defesa da sua verso da teoria da identidade na suposta
impossibilidade de correlacionar propriedades psicolgicas com propriedades fsicas. O argumento contra a
identificao espcime-espcime no texto aplica-se a estas perspectivas.
"#&
podia ter existido sem a mente
116
. A nica resposta que considero simplesmente
inadmissvel aqui a resposta que aceita alegremente a premissa cartesiana ao
mesmo tempo que nega a concluso cartesiana. Seja Descartes um nome, ou
designador rgido, de uma certa pessoa, e seja B um designador rgido do seu
corpo. Ento se Descartes fosse idntico a B, a suposta identidade, sendo uma
identidade entre dois designadores rgidos, seria necessria, e Descartes no
poderia existir sem B e B no poderia existir sem Descartes. O caso no de todo
comparvel ao alegado anlogo, a identidade do primeiro Director Geral dos
Correios com o inventor dos culos bifocais. certo que esta identidade se verifica
apesar do facto de que poderia ter havido um primeiro Director Geral dos Correios
mesmo que os culos bifocais nunca tivessem sido inventados. A razo que o
inventor dos culos bifocais no um designador rgido; um mundo no qual
ningum inventou os culos bifocais no ipso facto um mundo no qual Franklin
no existiu. A alegada analogia portanto desfaz-se; um filsofo que deseja refutar a
concluso cartesiana tem de refutar a premissa cartesiana, e a ltima tarefa no
trivial.
Seja A o nome de uma sensao de dor particular, e B o nome do estado
cerebral correspondente, ou do estado cerebral que um dado terico da identidade
deseja identificar com A. primeira vista, pareceria pelo menos logicamente
possvel B ter existido (o crebro de Jones poderia ter-se encontrado exactamente
naquele estado no momento em causa) sem que Jones sentisse qualquer dor, e
assim sem a presena de A. Mais uma vez, o terico da identidade no pode admitir
alegremente a possibilidade e avanar a partir da; a coerncia, e o princpio da
necessidade de identidades que usam designadores rgidos, excluem qualquer via
##'
Evidentemente, o corpo existe sem a mente e presumivelmente sem a pessoa, quando o corpo um
cadver. Esta considerao, se aceite, mostraria j que uma pessoa e o seu corpo so coisas distintas. (Ver David
Wiggins, On Being at the Same Place at the Same Time, Philosophical Review, vol. 77 (1968), pp. 90-95.) De
igual modo, pode-se argumentar que uma esttua no o pedao de matria do qual composta. No ltimo
caso, todavia, poder-se-ia afirmar, ao invs, que aquela nada alm deste; e poder-se-ia experimentar o
mesmo dispositivo para a relao entre a pessoa e o corpo. As dificuldades no texto no surgiriam ento da
mesma forma, mas surgiriam dificuldades anlogas. Uma teoria de que uma pessoa nada alm do seu corpo do
modo como uma esttua nada alm da matria de que composta, teria de sustentar que (necessariamente)
uma pessoa existe se, e s se, o seu corpo existe e tem uma certa organizao fsica adicional. Tal tese estaria
sujeita a dificuldades modais semelhantes s que afligem a tese da identidade comum, e o mesmo se aplicaria a
anlogos sugeridos para se substituir identificao dos estados mentais com estados fsicos. Tem de se deixar a
discusso suplementar deste assunto para outro local. Outra perspectiva que no discutirei, embora me sinta
pouco inclinado a aceit-la e nem sequer esteja certo de que foi estabelecida com genuna clareza, a chamada
perspectiva dos estados funcionais de conceitos psicolgicos.
""(
semelhante. Se A e B fossem idnticos, a identidade teria de ser necessria.
Dificilmente se pode fugir dificuldade argumentando que embora B no pudesse
existir sem A, ser uma dor apenas uma propriedade contingente de A, e que
portanto a presena de B sem dor no indica a presena de B sem A. Poder algum
caso de essncia ser mais bvio do que o facto de que ser uma dor uma
propriedade necessria de cada dor? O terico da identidade que deseja adoptar a
estratgia em causa tem mesmo de argumentar que ser uma sensao uma
propriedade contingente de A, pois primeira vista pareceria logicamente possvel
que B podia existir sem qualquer sensao com a qual poderia ser plausivelmente
identificado. Considere uma dor particular, ou outra sensao, que outrora teve.
Considera de todo plausvel que essa mesma sensao podia ter existido sem ser
uma sensao, da mesma maneira que um certo inventor (Franklin) podia ter
existido sem ser um invento?
Menciono esta estratgia porque me parece que muitos tericos da identidade a
adoptam. Estes tericos, dada a sua crena de que a suposta identidade de um
estado cerebral com o estado mental correspondente deve ser ser analisada de
acordo com o modelo da identidade contingente de Benjamin Franklin com o
inventor dos culos bifocais, apercebem-se que tal como a sua actividade
contingente tornou Benjamin Franklin o inventor dos culos bifocais, assim uma
propriedade contingente do estado cerebral tem de a tornar uma dor. Geralmente,
desejam que esta propriedade seja formulvel em linguagem fsica ou pelo menos
tpico-neutra [topic-neutral], de modo que o materialista no possa ser acusado
de postular propriedades no fsicas irredutveis. Uma perspectiva tpica a de que
ser uma dor, como propriedade de um estado fsico, tem de ser analisada em
termos do papel causal do estado
1173
, em termos dos estmulos caractersticos (p.
ex., picadas) que a causam e do comportamento caracterstico que causa. No
entrarei nos detalhes de tais anlises, ainda que habitualmente as considere
defeituosas por razes especficas, alm das consideraes modais gerais que
discuto aqui. Tudo o que tenho de observar aqui que o papel causal do estado
fsico considerado pelos tericos em causa como uma propriedade contingente do
estado, e portanto supe-se que uma propriedade contingente do estado o ser de
""#
Por exemplo, David Armstrong, A Materialist Theory of the Mind, Londres e Nova Iorque, 1968, ver a
recenso por Thomas Nagel, Philosophical Review 79 (1970), pp. 394-403; e David Lewis, An Argument for
the Identity Theory, The Journal of Philosophy, pp. 17-25.
""#
todo um estado mental, para no falar em que seja algo to especfico como uma
dor. Repetindo, esta noo parece-me auto-evidentemente absurda. Redunda na
perspectiva de que a prpria dor que tenho agora podia ter existido sem ser de todo
um estado mental.
No discuti o problema inverso, que mais prximo da considerao cartesiana
original nomeadamente que tal como parece que o estado cerebral podia ter
existido sem qualquer dor, assim parece que a dor poderia ter existido sem o estado
cerebral correspondente. Note-se que ser um estado cerebral evidentemente uma
propriedade essencial de B (o estado cerebral). De facto, mais ainda verdade: no
s ser um estado cerebral, mas inclusivamente ser um estado cerebral de um tipo
especfico uma propriedade essencial de B. A configurao de clulas cerebrais
cuja presena num dado momento constitui a presena de B nesse momento
essencial para B, e na sua ausncia B no teria existido. Assim algum que deseja
afirmar que o estado cerebral e a dor so idnticos tem de argumentar que a dor A
no poderia ter existido sem um tipo muito especfico de configurao de molculas.
Se A = B, a identidade de A com B necessria, e qualquer propriedade essencial
de um tem de ser uma propriedade essencial do outro. Algum que deseja defender
uma tese de identidade no pode simplesmente aceitar as intuies cartesianas de
que A pode existir sem B, de que B pode existir sem A, de que a presena
correlativa de seja o que for com propriedades mentais meramente contingente
para B, e que a presena correlativa de quaisquer propriedades fsicas especficas
meramente contingente para A. Tem de eliminar explicativamente estas intuies,
mostrando como so ilusrias. Esta tarefa pode no ser impossvel; vimos acima
como algumas coisas que parecem contingentes afinal revelam-se, examinadas
mais de perto, necessrias. A tarefa, todavia, no evidentemente brincadeira de
crianas, e veremos mais frente como isto por vezes difcil.
O ltimo tipo de identidade, aquele que afirmei teria a maior ateno, o gnero
de identidade tipo-tipo exemplificada pela identificao da dor com a estimulao
das fibras-C. Estas identificaes so supostamente anlogas com identificaes
cientficas tipo-tipo como a identidade do calor com o movimento molecular, da gua
com o hidrxido de hidrognio, etc. Consideremos, por exemplo, a analogia que
supostamente se verifica entre a identificao materialista e a do calor com o
movimento molecular; ambas as identificaes identificam dois tipos de fenmenos.
A perspectiva habitual sustenta que a identificao do calor com o movimento
"""
molecular e a da dor com a estimulao das fibras-C so ambas contingentes.
Vimos acima que como calor e movimento molecular so ambos designadores
rgidos, a identificao dos fenmenos que nomeiam necessria. E quanto a dor
e estimulao das fibras-C? Deveria ser claro, pela discusso prvia de que
dor um designador rgido do tipo ou fenmeno designa: se algo uma dor -o
essencialmente, e parece absurdo supor que a dor poderia ser um fenmeno
completamente diferente daquele que . O mesmo se aplica ao termo estimulao
de fibras-C, na condio de fibras-C ser um designador rgido, como aqui
suporei. (A suposio algo arriscada, dado que praticamente nada sei sobre
fibras-C, excepto que se diz que a sua estimulao est correlacionada com a
dor
118
. O aspecto no importante; se fibras-C no um designador rgido,
substitua-se-lhe simplesmente um que seja, ou que supostamente seja usado como
designador rgido no contexto presente.) Assim a identidade da dor com a
estimulao de fibras-C, se verdadeira, tem de ser necessria.
At agora a analogia entre a identificao do calor com o movimento molecular e
a dor com a estimulao das fibras-C no falhou; apenas se mostrou o oposto
daquilo que habitualmente se pensa ambas, se verdadeiras, tm de ser
necessrias. Isto significa que o terico da identidade est comprometido com a
perspectiva de que no poderia haver uma estimulao das fibras-C que no fosse
uma dor nem uma dor que no fosse uma estimulao das fibras-C. Estas
consequncias so decerto surpreendentes e contra-intuitivas, mas no rejeitemos
demasiado apressadamente o terico da identidade. Poder ele talvez mostrar que
a possibilidade aparente de a dor no ser afinal estimulao das fibras-C, ou de
haver uma instncia de um dos fenmenos que no uma instncia do outro, uma
iluso do mesmo gnero que a iluso de que a gua poderia no ser hidrxido de
118
Fiquei surpreso por descobrir que pelo menos um ouvinte perspicaz tomou o meu uso de termos como
correlacionado com, correspondente a, etc., como incorrendo j em petio de princpio contra a tese da
identidade. A tese da identidade, segundo afirma, no a tese de que dores e estados cerebrais esto
correlacionados, mas antes que so idnticos. Assim toda a minha discusso pressupe a posio anti-
materialista que me proponho provar. Embora ficasse surpreso por ouvir uma objeco que concede to pouca
inteligncia ao argumento, procurei especialmente evitar o termo correlacionado que parece dar origem
objeco. No obstante, para obviar aos equvocos, passo a explicar o meu uso. Pressupondo, pelo menos para
fins de argumentao, que as descobertas cientificas se deram de tal modo que no refutam o materialismo
partida, tanto o dualista como o teorizador da identidade concordam que h uma correlao ou correspondncia
entre estados mentais e estados fsicos. O dualista sustenta que a relao de correlao em causa irreflexiva;
o teorizador da identidade sustenta que simplesmente um caso especial da relao de identidade. Termos como
correlao e correspondncia podem ser usados de um modo neutro, sem pressupor qual das partes tem
razo.
"")
hidrognio, ou de que o calor poderia no ter sido movimento molecular? Se sim,
ter refutado o cartesiano, no, como na anlise convencional, aceitando a sua
premissa ao mesmo tempo que expe a falcia do seu argumento, mas antes pelo
inverso enquanto o argumento cartesiano, dada a sua premissa da contingncia
da identificao, admitidamente produz a sua concluso, a premissa vai ser exposta
como superficialmente plausvel mas falsa.
No considero provvel que o terico da identidade seja bem-sucedido nesse
empreendimento. Quero argumentar que, pelo menos, no se pode interpretar o
caso como sendo anlogo ao da identificao cientfica do gnero habitual, como
exemplificada pela identidade do calor e do movimento molecular. Qual foi a
estratgia usada acima para lidar com a aparente contingncia de certos casos do
necessrio a posteriori? A estratgia foi argumentar que embora a prpria afirmao
seja necessria, algum poderia, qualitativamente falando, estar na mesma situao
epistmica que a original, e em tal situao uma afirmao qualitativamente anloga
poderia ser falsa. No caso de identidades entre dois designadores rgidos, pode-se
fazer uma aproximao da estratgia por uma mais simples: consideremos como as
referncias dos designadores so determinadas; se estas coincidirem apenas
contingentemente, este facto que d afirmao original a sua iluso de
contingncia. No caso do calor e do movimento molecular, o modo como estes dois
paradigmas funcionam simples. Quando algum diz, imprecisamente, que o calor
poderia afinal no ser movimento molecular, o que verdade naquilo que diz que
algum poderia ter sentido um fenmeno da mesma maneira que sentimos o calor,
ou seja, senti-lo por meio da sua produo da sensao a que chamamos a
sensao de calor (chamemos-lhe S), ainda que esse fenmeno no fosse
movimento molecular. Quer dizer, alm disso, que o planeta podia ser habitado por
criaturas que no tinham S quando estivessem na presena do movimento
molecular, embora talvez o tivessem na presena de outra coisa. Tais criaturas
estariam, em alguma sentido qualitativo, na mesma situao epistmica em que
estamos, poderiam usar um designador rgido para o fenmeno que causa a
sensao S neles (o designador rgido poderia at ser calor), no entanto no seria
movimento molecular (e portanto no seria calor!) o que causava a sensao.
Poder dizer-se de igual modo algo para eliminar explicativamente o sentimento
de que a identidade da dor e da estimulao das fibras-C, se uma descoberta
cientfica, poderia afinal ser de outra maneira? No vejo que tal analogia seja
""*
possvel. No caso da aparente possibilidade de que o movimento molecular poderia
ter existido na ausncia de calor, o que parecia realmente possvel que o
movimento molecular tivesse existido sem ser sentido como calor, ou seja, podia ter
existido sem produzir a sensao S, a sensao de calor. Nos seres sensientes
apropriados ser analogamente possvel que a estimulao das fibras-C tivesse
existido sem ser sentida como dor? Se isto possvel, ento a estimulao das
fibras-C pode ela prpria existir sem dor, dado que para a estimulao das fibras-C,
existir sem ser sentida como dor existir sem que haja alguma dor. Tal situao
estaria em manifesta contradio com a suposta identidade necessria da dor e do
estado fsico correspondente, e o anlogo se aplica a qualquer estado fsico que
pudesse ser identificado com um estado mental correspondente. A dificuldade que
o terico da identidade no defende que o estado fsico apenas produz o estado
mental, mas antes deseja que os dois sejam idnticos e portanto a fortiori
necessariamente co-ocorrentes. No caso do movimento molecular e do calor h
algo, nomeadamente, a sensao de calor, que intermediria ao fenmeno
externo e ao observador. No caso mental-fsico nenhum intermedirio semelhante
possvel, visto que aqui o fenmeno fsico supostamente idntico com o prprio
fenmeno interno. Algum pode estar na mesma situao epistmica em que
estaria se houvesse calor, mesmo na ausncia do calor, simplesmente tendo a
sensao de calor; e mesmo na presena do calor, pode ter o mesmo indcio que
teria na ausncia de calor simplesmente no tendo a sensao S. Nenhuma
possibilidade semelhante existe no caso da dor e de outros fenmenos mentais.
Estar na mesma situao epistmica que se verificaria se se tivesse uma dor ter
uma dor; estar na mesma situao epistmica que se verificaria na ausncia de uma
dor no ter uma dor. A aparente contingncia da conexo entre o estado mental e
o estado cerebral correspondente no pode ser explicada por um gnero de anlogo
qualitativo como no caso do calor.
Acabmos de analisar a situao em termos da noo de uma situao
epistmica qualitativamente idntica. A dificuldade que a noo de uma situao
epistmica qualitativamente idntica a uma em que o observador teve uma
sensao S simplesmente uma situao em que o observador teve essa
sensao. Pode-se defender a mesma ideia em termos da noo daquilo que
discrimina a referncia de um designador rgido. No caso da identidade do calor
com o movimento molecular a considerao importante foi que embora calor seja
""%
um designador rgido, a referncia desse designador foi determinada por uma
propriedade acidental do referente, nomeadamente a propriedade de produzir em
ns a sensao S. portanto possvel que um fenmeno fosse rigidamente
designado da mesma maneira que um fenmeno de calor, com a sua referncia
tambm discriminada por meio da sensao S, sem que esse fenmeno fosse o
calor e logo sem ser movimento molecular. A dor, por outro lado, no discriminada
por uma das suas propriedades acidentais; ao invs, discriminada pela
propriedade de ser de ser ela prpria dor, pela sua qualidade fenomenolgica
imediata. Assim a dor, ao contrrio do calor, no s rigidamente designada por
dor como a referncia do designador determinada por uma propriedade
essencial do referente. Assim no possvel afirmar que embora a dor seja
necessariamente idntica com um certo estado fsico, um certo fenmeno pode ser
discriminado da mesma maneira que discriminamos a dor sem a correlacionar a
esse estado fsico. Se qualquer fenmeno discriminado exactamente da mesma
maneira que discriminamos a dor, ento esse fenmeno dor.
Talvez se possa tornar mais vvido o mesmo aspecto sem tal referncia
especfica ao aparato tcnico nestas palestras. Suponha-se que imaginamos Deus a
criar o mundo; do que precisa Ele de fazer para fazer que se verifique a identidade
do calor e do movimento molecular? Aqui pareceria que tudo o que Ele precisa fazer
criar o calor, ou seja, o prprio movimento molecular. Se as molculas de ar na
Terra forem suficientemente agitadas, se houver um fogo ardente, ento a Terra
ser quente mesmo se no houver observadores para ver isto. Deus criou a luz (e
assim criou correntes de fotes, segundo a presente doutrina cientfica) antes de ter
criado observadores humanos e animais; e o mesmo presumivelmente se aplica ao
calor. Como ento nos parece que a identidade do movimento molecular com o
calor um facto cientfico substancial, que a mera criao do movimento molecular
ainda deixa a Deus a tarefa adicional de tornar o movimento molecular em calor?
Este sentimento deveras ilusrio, mas o que uma tarefa substancial a tarefa de
fazer o movimento molecular ser sentido como calor. Para fazer isto Ele tem de criar
alguns seres sensientes? para garantir que o movimento molecular produz a
sensao S neles. S depois de ter feito isto haver seres que podem descobrir que
a frase O calor o movimento das molculas exprime uma verdade a posteriori
precisamente do mesmo modo que fazemos.
""'
E quanto ao caso da estimulao das fibras-C? Para criar este fenmeno,
pareceria que Deus s precisa de criar seres com fibras-C capazes do tipo
apropriado de estimulao fsica; quer os seres sejam conscientes ou no
irrelevante aqui. Pareceria, contudo, que para fazer a estimulao das fibras-C
corresponder dor, ou ser sentida como dor, Deus tem de fazer algo alm da mera
criao da estimulao das fibras-C; tem de permitir que as criaturas sintam a
estimulao das fibras-C como dor, e no como ccegas, ou como calor, ou como
nada, como aparentemente tambm estaria no mbito dos Seus poderes fazer. Se
estas coisas esto de facto no mbito dos Seus poderes, a relao entre a dor que
Deus cria e a estimulao das fibras-C no pode ser de identidade. Pois a ser
assim, a estimulao podia existir sem a dor; e como dor e estimulao das
fibras-C so rgidos, este facto indica que a relao entre os dois fenmenos no
a de identidade. Deus teve de realizar algum trabalho, alm de fazer o prprio
homem, para fazer um certo homem ser o inventor dos culos bifocais; o homem
podia muito bem existir sem inventar algo semelhante. O mesmo no se pode dizer
da dor; se o fenmeno existe sequer, nenhum trabalho adicional seria exigido para o
converter em dor.
Em suma, a correspondncia entre um estado cerebral e um estado mental
parece ter um certo elemento bvio de contingncia. Vimos que a identidade no
uma relao que se possa verificar contingentemente entre objectos. Logo, se a
tese da identidade estivesse correcta, o elemento de contingncia no residiria na
relao entre os estados mentais e fsicos. No pode residir, como no caso do calor
e do movimento molecular, na relao entre o fenmeno (= calor = movimento
molecular) e o modo como se o sente ou como aparece (sensao S), visto que no
caso dos fenmenos mentais no h aparncia para l do prprio fenmeno
mental.
Aqui temos vindo a sublinhar a possibilidade, ou aparente possibilidade, de um
estado fsico sem o estado mental correspondente. A possibilidade inversa, o estado
mental (dor) sem o estado fsico (estimulao das fibras-C) tambm apresenta
problemas aos tericos da identidade que no podem ser resolvidos por apelo
analogia com o calor e o movimento molecular.
Discuti mais brevemente problemas semelhantes que se colocam a perspectivas
que equacionam o eu com o corpo, e acontecimentos mentais particulares com
acontecimentos fsicos particulares, sem discutir possveis movimentos contrrios
""+
to detalhadamente como no caso tipo-tipo. Basta dizer que suspeito que as
consideraes avanadas indicam que o terico que quer identificar vrios
acontecimentos mentais e fsicos particulares enfrentar problemas razoavelmente
semelhantes aos enfrentados pelo torico tipo-tipo; tambm ele ser incapaz de
apelar aos alegados anlogos cannicos.
Que as jogadas e analogias habituais no esto disponveis para resolver os
problemas do terico da identidade no constitui, evidentemente, prova de que
nenhumas jogadas esto disponveis. Certamente no posso discutir todas as
possibilidades aqui. Suspeito, todavia, que as consideraes presentes contam
fortemente contra as formas habituais de materialismo. O materialismo, segundo
penso, tem de sustentar que uma descrio fsica do mundo uma descrio
completa do mundo, que quaisquer factos mentais so ontologicamente
dependentes de factos fsicos no sentido directo de se seguir deles por
necessidade. Nenhum terico da identidade me parece ter argumentado
convincentemente contra a perspectiva intuitiva de que isto no o caso
1195.
##&
Tendo exprimido estas dvidas sobre a teoria da identidade no texto, devo sublinhar duas coisas: primeiro, os
tericos da identidade apresentaram argumentos positivos a favor da sua perspectiva, aos quais seguramente no
respondi aqui. Alguns destes argumentos parecem-me fracos ou baseados em preconceitos ideolgicos, mas
outros parecem-me argumentos muito persuasivos a que de momento sou incapaz de responder
convincentemente. Segundo, a rejeio da tese da identidade no envolve a aceitao do dualismo cartesiano.
Na verdade, a minha perspectiva de que uma pessoa no poderia ter vindo de um espermatozide e ovo
diferentes daqueles em que efectivamente teve origem sugere implicitamente uma rejeio da imagem
cartesiana. Se tivssemos uma ideia clara da alma ou da mente como uma entidade independente, subsistente,
espiritual, por que teria esta de ter alguma conexo necessria com objectos materiais particulares, tais como um
espermatozide particular ou um ovo particular? Um dualista convicto pode pensar que as minhas perspectivas
sobre espermatozides e ovos incorrem em petio de princpio contra Descartes. Tenderia a argumentar no
outro sentido; o facto de ser difcil imaginar-me com uma origem diferente do espermatozide e ovo que
estiveram efectivamente na minha origem parece-me indicar que no temos tal concepo clara de uma alma ou
eu. Em todo o caso, a noo de Descartes parece ter-se tornado dbia desde a crtica humiana da noo de um eu
cartesiano. Considero o problema mente-corpo muito em aberto e extremamente confuso.
""$
O materialismo e os qualia: a lacuna explicativa
Joseph Levine
Em Naming and Necessity
1201
e Identity and Necessity
1212
, Kripke apresenta uma
verso do argumento cartesiano contra o materialismo. O seu argumento envolve
duas afirmaes centrais: primeiro, que todas as afirmaes de identidade que
usam designadores rgidos em ambos os lados do sinal de identidade, se que so
de todo verdadeiras, so verdadeiras em todos os mundos possveis em que esses
termos referem; segundo, que as afirmaes de identidade psicofsica so
concebivelmente falsas, e logo, pela primeira afirmao, efectivamente falsas.
O meu objectivo neste artigo transformar o argumento metafsico de Kripke num
argumento epistemolgico. A minha ideia geral a seguinte. Kripke apoia-se numa
intuio particular no que respeita experincia consciente para sustentar a sua
segunda afirmao. Creio que esta intuio importante, quando muito pela sua
obstinada resistncia dissoluo filosfica. Mas no creio que esta intuio
sustente a tese metafsica que Kripke defende nomeadamente, que as
afirmaes de identidade psicofsica tm de ser falsas. Ao invs, penso que
sustenta uma tese epistemolgica intimamente relacionada com essa
nomeadamente, que as afirmaes de identidade psicofsica deixam uma lacuna
explicativa importante, e, como corolrio, que no temos modo algum de determinar
exactamente que afirmaes de identidade psicofsica so verdadeiras
122
.
3
No se
pode concluir a falsidade do materialismo a partir da minha verso do argumento, o
que faz dela um ataque mais fraco que o de Kripke. No obstante, constitui, se
estiver correcta, um problema para o materialismo, o qual capta melhor, segundo
120
Saul Kripke, Naming and Necessity, reimpresso em Semantics of Natural Language, 2 edio, org.
Donald Davidson e Gilbert Harman, D. Reidel Publishing Co., 1972.
121
Saul Kripke, Identity and Necessity, reimpresso em Naming, Necessity and Natural Kinds, org. Stephen
Schwartz, Cornell U. Press, 1977.
122
O meu argumento neste artigo sofre a influncia de Thomas Nagel no seu artigo What is it Like to Be a
Bat? [Como Ser um Morcego?, na presente antologia] (reimpresso em Readings in the Philosophy of
Psychology, volume 1, org. Ned Block, Harvard U. Press, 1980), como os leitores familiarizados com o artigo
de Nagel constataro medida que este se desenvolve.
""&
penso, o desconforto que muitos filsofos sentem no que diz respeito a essa
doutrina.
Apresentarei este argumento epistemolgico comeando pelo prprio argumento
de Kripke e extraindo a intuio subjacente. Para ser breve, vou pressupor que o
leitor conhece a posio geral de Kripke no que respeita necessidade e teoria da
referncia, concentrando-me apenas no argumento contra o materialismo. Para
comear, suponhamos que estamos a lidar com uma teoria fisicalista da identidade
dos tipos. Ou seja, o nosso materialista est comprometido com afirmaes do
gnero:
1) A dor o disparar das fibras-C
Segundo a teoria geral de Kripke, se 1) de todo verdadeira necessariamente
verdadeira. O mesmo, evidentemente, se passa com a seguinte afirmao:
2) O calor o movimento das molculas.
Ou seja, se 2) de todo verdadeira necessariamente verdadeira. At aqui tudo
bem.
O problema surge quando reparamos que nas duas afirmaes h uma
contingncia apercebida. Ou seja, parece concebvel serem falsas. Se so
necessariamente verdadeiras, todavia, isso significa que no h mundo possvel em
que so falsas. Assim, imaginar o calor sem o movimento das molculas, ou a dor
sem o disparar de fibras-C, tem de ser a imaginao de um mundo logicamente
impossvel. No entanto estas suposies parecem bastante coerentes. Kripke
responde que a contingncia apercebida em 2) pode ser explicativamente eliminada
de um modo satisfatrio, mas que no se pode fazer isso no caso de 1). Assim, h
uma diferena importante entre identidades psicofsicas e outras identidades
tericas, e esta diferena torna implausvel a crena nas anteriores.
A diferena entre os dois casos a seguinte. Quando parece plausvel que 2)
contingente, podemo-nos livrar desta noo reparando que em vez de imaginar o
calor sem o movimento das molculas, o que estamos realmente a imaginar um
fenmeno que afecta os nossos sentidos do modo como o calor efectivamente o faz,
mas que no seja movimento de molculas. A afirmao verdadeiramente
contingente no 2) mas
")(
2.1) O fenmeno de que temos experincia atravs das sensaes de calor e frio,
que responsvel pela expanso e contraco do mercrio nos termmetros, que
faz alguns gases subir e outros descer, etc., o movimento das molculas.
Todavia, este gnero de explicao no funcionar com 1). Quando imaginamos
um mundo possvel em que um fenmeno objecto de experincia enquanto dor
mas no h qualquer estimulao de fibras-C, esse um mundo possvel em que
h dor sem que haja quaisquer fibras-C. Isto assim, argumenta Kripke, pela
simples razo de que a experincia de dor, a sensao de dor, conta como dor em
si. No podemos distinguir aqui, como podemos com o calor, entre o modo como
nos aparece e o prprio fenmeno. Assim, no temos uma boa explicao para a
nossa intuio de que 1) contingente, a menos que abdiquemos completamente
da verdade de 1).
Ora, h vrias respostas disponveis ao materialista. Antes de mais, a perspectiva
materialista mais popular hoje em dia o funcionalismo, o qual no est
comprometido sequer com a verdade contingente de afirmaes como 1). Em vez
de identificar tipos de estados mentais com tipos de estados fsicos, o funcionalismo
identifica os anteriores com tipos de estados funcionais ou, como Boyd lhes chama,
estados configuracionais.
1234
Os estados funcionais so mais abstractos do que
os estados fsicos, e so capazes de realizao numa ampla variedade de
constituies fsicas. Em termos da metfora computacional, que est por trs de
muitas perspectivas funcionalistas, a nossa vida mental uma questo do modo
como estamos programados, do nosso software, ao passo que a fisiologia uma
questo do nosso hardware. Nesta perspectiva, a intuio de que a dor podia existir
sem fibras-C explicada em termos da realizabilidade mltipla dos estados mentais.
Este dilema particular, portanto, no parece surgir para os materialistas
funcionalistas.
Todavia, esta resposta no serve. Antes de mais, pode-se tambm construir um
argumento ao estilo kripkiano contra as afirmaes de identidade funcionalistas.
#")
Richard Boyd, Materialism Without Reductionism, reimpresso em Readings in the Philosophy of
Psychology, volume 1.
")#
Ned Block, em Dificuldades no Funcionalismo
1245
, constri de facto esse
argumento. Pede-nos para imaginarmos qualquer descrio funcionalista completa
da dor (embebida, evidentemente, numa teoria fisiolgica funcionalista relativamente
completa). Embora no faamos ainda a mnima ideia do que seria esta descrio,
na medida em que uma descrio funcionalista, sabemos aproximadamente que
forma tomaria. Chamemos F a esta descrio funcionalista. Ento o
funcionalismo implica a seguinte afirmao:
3) Estar com dores estar no estado F.
Mais uma vez, segundo a teoria da referncia de Kripke, 3) necessariamente
verdadeira, se que verdadeira. Maias uma vez, parece imaginvel que em algum
mundo possvel (talvez mesmo no mundo efectivo) 3) seja falsa. Block procura
persuadir-nos disto descrevendo uma situao em que um objecto est em F mas
duvidoso que esteja com dores. Por exemplo, suponhamos que F era satisfeita por
toda a nao chinesa o que dada a natureza das descries funcionais
logicamente possvel. Repare-se que tudo o que o argumento exige que seja
possvel que toda a nao chinesa, ao mesmo tempo que realiza F, no esteja com
dores. Isto seguramente parece possvel.
Alm do mais, alguns defensores do funcionalismo regressaram ao fisicalismo
reducionista sobre qualia, em grande medida como resposta a consideraes como
as que foram apresentadas por Block. A ideia a seguinte. O que o exemplo de
Block parece indicar que as descries funcionais so simplesmente demasiado
abstractas para captar as caractersticas essenciais das experincias sensoriais
qualitativas. O chamado argumento do espectro invertido que envolve a
hiptese de duas pessoas poderem partilhar descries funcionais e no entanto ter
experincia de qualia visuais diferentes ao observar o mesmo objecto tambm
sublinha a abstraco excessiva das descries funcionais. Um modo, proposto por
alguns funcionalistas, de lidar com este problema regressar a uma teoria fisicalista
da identidade dos tipos para qualia sensoriais, ou pelo menos para tipos particulares
de qualia sensoriais
125
.
6
O fundamental da ltima proposta o seguinte. Ao passo
que para ser consciente (para ter qualia de todo) suficiente que uma entidade
124
Ned Block, Troubles with Functionalism, reimpresso em Readings in the Philosophy of Psychology,
volume 1.
125
Cf. Sydney Shoemaker, The Inverted Spectrum, The Journal of Philosophy, volume LXXIX, n7, Julho de
1982.
")"
realize a descrio funcional apropriada, o modo particular como se tem experincia
de um estado qualitativo determinado pela natureza da realizao fsica. Pelo que
se ao olhar para uma ma McIntosh madura, tenho experincia da qualidade visual
normalmente associada com olhar para mas McIntosh maduras, e o meu amigo
invertido tem experincia da qualidade normalmente associada com olhar para
pepinos maduros, isto tem a ver com a diferena nas nossas realizaes fsicas do
mesmo estado funcional. Evidentemente que se adoptamos esta posio o
argumento original de Kripke aplica-se.
At agora, portanto, vemos que a passagem para o funcionalismo no
proporciona aos materialistas um modo de evitar o dilema colocado por Kripke: ou
engolem o sapo e negam que 1), ou 3), sejam contingentes, ou abdicam do
materialismo. Bom, e que tal engolir o sapo? Por que no afirmar simplesmente que,
apesar da intuio, afirmaes como 1) e 3) no so contingentes? Na verdade, o
prprio Kripke, ao sublinhar o abismo entre a possibilidade epistemolgica e a
possibilidade metafsica, pode at aparentemente dar ao materialista as munies
de que precisa para atacar a legitimidade do apelo a esta intuio. Pois parece
intuitivamente tratar-se de uma mera questo epistemolgica, se que de uma
questo se trata. Como a possibilidade epistemolgica no suficiente para a
possibilidade metafsica, o facto de aquilo que intuitivamente contingente mostrar-
se afinal metafisicamente necessrio no nos deveria incomodar muito. o que
seria de esperar.
Claro que no final de contas apenas podemos manter-nos firmes e dizer isso
mesmo. por isso que no penso que o argumento de Kripke inteiramente bem-
sucedido. Contudo, penso que a resistncia intuitiva ao materialismo apresentada
por Kripke (e por Block) no deve ser afastada como uma mera questo de
epistemologia. Embora seja claramente uma questo epistemolgica, penso que
esta resistncia intuitiva ao materialismo nos devia preocupar muito. Mas antes de
poder defender esta afirmao, a intuio em causa precisa de ser clarificada.
Antes de mais, regressemos nossa lista de afirmaes. O que quero fazer
observar mais atentamente a diferena entre a afirmao 2) por um lado, e
afirmaes como 1) e 3) por outro. Uma diferena entre elas, em que j reparmos,
o facto de a contingncia apercebida de 2) poder ser eliminada explicativamente
enquanto a contingncia apercebida das outras no pode. Mas quero centrar-me
noutra diferena, que segundo penso subjaz primeira. A afirmao 2), segundo
"))
creio, exprime uma identidade que plenamente explicativa, sem que algo de
crucial fique de fora. Por outro lado, afirmaes como 1) e 3) parecem deixar sem
explicao algo de crucial, h uma lacuna na substncia explicativa destas
afirmaes. esta lacuna explicativa, segundo creio, a responsvel pela sua
vulnerabilidade a objeces kripkianas. Permitam-me que explique o que quero
dizer com lacuna explicativa.
O que h de explicativo em 2)? A frase 2) afirma que o calor o movimento das
molculas. A fora explicativa desta afirmao captada em afirmaes como 2)
atrs. A frase 2) diz-nos por que mecanismo se realizam as funes causais que
associamos ao calor. explicativa no sentido de que o nosso conhecimento da
qumica e da fsica torna inteligvel como algo como o movimento das molculas
pode desempenhar o papel causal que associamos ao calor. Alm disso, antes de
descobrirmos a natureza essencial do calor, o seu papel causal, captado em
afirmaes como 2), esgotava a noo que tnhamos dele. Uma vez que
compreendemos como este papel causal desempenhado nada mais h que
precisemos compreender.
Ora, qual a situao em 1)? O que explicado ao descobrir-se que a dor o
disparar de fibras-C? Bom, poder-se-ia afirmar que na verdade se explica bastante.
Se acreditamos que parte do conceito que se exprime pelo termo dor o de um
estado que desempenha um certo papel causal na nossa interaco com o
ambiente (p. ex., alerta-nos para uma leso, faz-nos procurar evitar situaes que
acreditamos resultar em dor, etc.), 2), explica os mecanismos subjacentes
execuo destas funes. Assim, por exemplo, se a penetrao da pele por um
objecto metlico afiado excita certas terminaes nervosas, que por sua vez excitam
as fibras-C, o que ir ento accionar diversos mecanismos evitativos, o papel causal
da dor foi explicado.
Claro que esta precisamente a histria funcionalista. H evidentemente algo de
correcto nela. Na verdade, sentimos que o papel causal da dor crucial para o
conceito que temos dela, e que descobrir o mecanismo fsico pelo qual este papel
causal se efectua explica uma faceta importante do que h para explicar acerca da
dor. Todavia, h mais no nosso conceito de dor do que apenas o seu papel causal,
h o seu carcter qualitativo, o modo como sentida; e o que a descoberta do
disparar das fibras-C deixa inexplicado a razo por que sentimos a dor como a
sentimos! Pois parece nada haver no disparar das fibras-C que a ajuste
")*
naturalmente nas propriedades fenomnicas da dor, tanto quanto se ajustaria a
qualquer outro conjunto de propriedades fenomnicas. Ao contrrio do seu papel
funcional, a identificao do lado qualitativo da dor com o disparar de fibras-C (ou
alguma propriedade do disparar de fibras-C) deixa em completo mistrio a ligao
entre isso e aquilo com que o identificamos. Poder-se-ia dizer que transforma num
mero facto bruto o modo como sentimos a dor.
Talvez seja mais fcil perceber a minha ideia se o exemplo apresentado envolver
a viso. Consideremos mais uma vez o que ver verde e vermelho. A histria fsica
envolve discurso sobre os vrios comprimentos de onda detectveis pela retina, e
os receptores e processadores que os discriminam. Chamemos R histria fsica
de ver vermelho e G histria fsica de ver verde. A minha afirmao a
seguinte. Quando consideramos o carcter qualitativo das nossas experincias
visuais ao olhar para mas McIntosh maduras, por oposio a olhar para pepinos
maduros, a diferena no explicada por apelo a G e a R. Pois R no explica
realmente por que tenho um tipo de experincia qualitativa o tipo que tenho ao
olhar para mas McIntosh e no o outro. Como indcio a favor disto, note-se que
parece to fcil imaginar G como imaginar R subjacentes experincia qualitativa
que est de facto associada a R. O inverso, evidentemente, tambm parece
inteiramente imaginvel.
Devia ser evidente, pelo que foi dito, que de nada serve identificarmos
efectivamente os qualia com os seus papis funcionais. Em primeiro lugar, como
referi acima, alguns funcionalistas resistem a isto e preferem adoptar uma forma de
fisicalismo de tipos para qualia. Pelo que quando procuram a essncia de como
estar num determinado estado funcional, afirmam que temos de procurar a essncia
da realizao fsica. Em segundo lugar, mesmo que no tomemos esse caminho,
parece ainda que podemos perguntar por que o tipo de estado que realiza a funo
desempenhada pela dor, seja qual for a sua base fsica, devia ser sentido do
mesmo modo que a dor. A pergunta anloga a respeito do calor no parece
interessante. Se algum pergunta por que razo o movimento das molculas
desempenha o papel fsico que desempenha, pode-se responder apropriadamente
que uma compreenso da qumica e da fsica tudo o que preciso para responder
a essa pergunta. Se se objecta que as propriedades fenomnicas que associamos
ao calor no so explicadas pela identificao com o movimento das molculas,
visto que ser o movimento das molculas parece compatvel com todo o gnero de
")%
propriedades fenomnicas, isto reduz-se simplesmente ao problema em causa. Pois
so precisamente as propriedades fenomnicas como para ns estar em
determinados estados mentais (incluindo estados perceptuais) que parecem
resistir s explicaes fsicas (incluindo as funcionais).
Claro que a afirmao de que 1) e 3) deixam uma lacuna explicativa, ao contrrio
do que sucede com 2), no se pode tornar mais precisa do que a prpria noo de
explicao. Obviamente, o modelo D-N de explicao no suficiente para o que
me interessa, visto que 1) e 3) presumivelmente no sustentam contrafactuais e no
podiam ser usadas, juntamente com outras premissas, para deduzir todo o gnero
de factos particulares
126
.
7
O que precisamos de uma explicao do que tornar-se
um fenmeno inteligvel, juntamente com regras que determinam quando a
exigncia de inteligibilidade complementar inapropriada. Por exemplo, presumo
que as leis da gravidade explicam, no sentido aqui em causa, os fenmenos de
corpos que caem. No parece haver algo que se deixe de fora. Porm, dizem-me
que o valor de G, a constante gravitacional, no derivado de quaisquer leis
bsicas. um facto bruto, dado, primitivo acerca do universo. Ser que isto nos
deixa com um sentimento de que algo que devia ser explicado no o ? Ou ser
que esperamos de alguns factos da natureza que paream arbitrrios deste modo?
Estou inclinado a adoptar a ltima atitude a respeito de G. Portanto, poder-se-ia
perguntar, por que a ligao entre o que estar em determinado estado funcional
(ou fsico) e o prprio estado exige explicao, para se tornar inteligvel?
Sem uma explicao terica da noo de inteligibilidade que tenho em mente,
no posso dar uma resposta verdadeiramente adequada a esta pergunta. Porm,
creio que h modos de pelo menos indicar por que razovel procurar uma
explicao. Em primeiro lugar, o fenmeno da conscincia surge ao nvel
macroscpico. Ou seja, s sistemas fsicos altamente organizados exibem vida
mental. Isto evidentemente o que seria de esperar se a vida mental fosse uma
questo de organizao funcional. Ora, parece simplesmente estranho que factos
primitivos do gnero aparentemente apresentado por afirmaes como 1) e 3)
#"'
Elaborando um pouco, sobre o modelo explicativo D-N, um acontecimento particular e explicado quando
se mostra que deduzvel de leis gerais juntamente com qualquer explicao da situao particular que seja
relevante. As afirmaes 1) e 3) podiam obviamente ser usadas como premissas numa deduo respeitante
(digamos) ao estado psicolgico de uma pessoa. Cf. Carl Hempel, Aspects of Scientific Explanation,
reimpresso em Hempel, Aspects of Scientific Explanation, Free Press, 1968.
")'
surjam neste nvel de organizao. O materialismo, segundo o compreendo,
acarreta o reducionismo explicativo pelo menos deste tipo mnimo: que para cada
fenmeno que no descritvel em termos das magnitudes fsicas fundamentais
(quaisquer que estas se mostrem afinal ser), h um mecanismo que descritvel em
termos das magnitudes fsicas fundamentais tal que as ocorrncias dos primeiros
so inteligveis em termos de ocorrncias do ltimo. Ao passo que este
reducionismo mnimo no acarreta seja o que for sobre a redutibilidade de teorias
como da psicologia fsica, acarreta ainda assim que no surgem factos brutos
do gnero exemplificado pelo valor de G no domnio de teorias como a
psicologia.
Alm disso, regressando minha ideia original, a afirmao de que as afirmaes
1) e 3) deixam uma lacuna explicativa explica a sua aparente contingncia, e, o que
mais importante, a incapacidade de eliminar explicativamente a sua aparente
contingncia do modo cannico. Afinal, por que razo podemos explicar a aparente
contingncia de 2) de uma maneira terica e intuitivamente satisfatria, mas no a
de 1) e 3)? Mesmo acreditando que no temos de levar a srio esta resistncia
intuitiva, ainda legtimo perguntar por que razo surge o problema nestes casos
particulares. Como afirmei atrs, penso que a diferena a este respeito entre 2) por
um lado e 1) e 3) por outro lado se explica pela lacuna explicativa deixada pelas
ltimas, em contraste com a primeira. Uma vez que esta a ligao crucial entre o
argumento de Kripke e o meu, permitam-me que bata nesta tecla durante mais
algum tempo.
A ideia a seguinte. Se nada h que possamos determinar sobre o disparar de
fibras-C que explique por que razo o disparar das nossas fibras-C tem o carcter
qualitativo que tem ou, por outras palavras, se no se explica nem torna
inteligvel o que em particular ter as nossas fibras-C a disparar, pela compreenso
das propriedades fsicas ou funcionais dos disparos das fibras-C torna-se
imediatamente imaginvel haver disparos de fibras-C sem o sentimento de dor, e
vice-versa. No temos a intuio correspondente no caso do calor e do movimento
das molculas uma vez que esclareamos o modo apropriado de caracterizar o
que imaginamos porque o que quer que haja para explicar sobre o calor
explicado por este ser o movimento das molculas. Assim, como poderia ser outra
coisa?
")+
A ideia que procuro exprimir foi captada por Locke
127
na sua discusso da relao
entre as qualidades primrias e secundrias. Ele afirma que as ideias simples de
que temos experincia em resposta a impactos do mundo exterior no tm qualquer
relao inteligvel com os processos corpusculares que subjazem aos impactos e
resposta. Ao invs, os dois conjuntos de fenmenos os processos corpusculares
e as ideias simples esto ligados entre si de um modo arbitrrio. As ideias
simples seguem as suas respectivas configuraes corpusculares porque Deus
escolheu associ-las desse modo. Podia ter escolhido faz-lo de outro modo. Ora,
desde que os dois estados de coisas paream ligados arbitrariamente desta
maneira, a imaginao separ-los- fora. Assim a ininteligibilidade da ligao
entre o sentimento de dor e o seu correlato fsico que subjaz aparente
contingncia dessa conexo.
Outro modo de sustentar a minha defesa de que as afirmaes de identidade
psicofsicas (ou psicofuncionais) deixam uma lacuna explicativa servir tambm
para estabelecer o corolrio que mencionei no incio deste artigo; nomeadamente,
que mesmo que algumas afirmaes de identidade psicofsica sejam verdadeiras,
no podemos determinar com exactido quais so verdadeiras. As duas afirmaes,
de que h uma lacuna explicativa e que tais identidades so, em certo sentido,
incognoscveis, so interdependentes e sustentam-se mutuamente. Primeiro
mostrarei por que h um problema importante quanto a alguma vez chegarmos a
saber se afirmaes como 1) so verdadeiras, depois mostrarei como isto est
ligado ao problema da lacuna explicativa.
Suponhamos portanto, na verdade, que ter o sentimento de dor idntico a estar
num tipo particular de estado fsico. Bom, que estado fsico? Suponhamos que
acreditvamos tratar-se do disparar de fibras-C porque era esse o estado que
descobrimos estar correlacionado com o sentimento de dor em ns prprios.
Imaginemos agora que nos deparamos com formas de vida extraterrestre que
mostram todos os indcios comportamentais e funcionais de que partilham os
nossos estados qualitativos. Ser que tm o sentimento de dor que ns temos?
Bom, se acreditssemos que ter esse sentimento ter as fibras-C a disparar, e se
os extraterrestres no tm fibras-C que disparam, temos de supor que no podem
"$#
Cf. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, org. J. Yolton, Everymans Library, 1971
(originalmente publicado em 1690); Livro II, Cap. VIII, sec. 13, e Livro IV, Cap. III, secs. 12 e 13.
")$
ter este sentimento. Mas o problema , mesmo sendo verdade que criaturas com
constituies fsicas radicalmente diferentes da nossa no partilham os nossos
estados qualitativos, como determinar que medida de semelhana/dissemelhana
fsica usar? Ou seja, o facto de o sentimento de dor ser um tipo de estado fsico, se
o , no nos diz por si quo finamente [thickly ou thinly] devemos formar as nossas
categorias fsicas, ao determinar a que estado fsico esse sentimento idntico.
Tanto quanto sabemos, a dor idntica ao estado disjuntivo, o disparar de fibras-C
ou a abertura de vlvulas-D (realizando o ltimo disjunto a dor em (digamos)
criaturas com um sistema nervoso hidrulico)
128
.
Esta objeco pode parecer semelhante ao argumento cannico a favor do
funcionalismo. Todavia, estou na verdade a fazer um argumento muito diferente. Em
primeiro lugar, pode-se colocar a mesma objeco a vrias formas de afirmaes de
identidade funcionalistas. Ou seja, se acreditamos que ter o sentimento de dor
estar em determinado estado funcional, que medida de semelhana/dissemelhana
funcional usamos para ajuizar se alguma criatura partilha ou no os nossos estados
qualitativos? Ora, quanto mais inclusiva for esta medida, maior presso sentimos a
propsito de questes sobre qualia invertidos, logo maior razo temos para adoptar
uma posio fisicalista reducionista a respeito de tipos particulares de qualia. Isto
apenas nos faz regressar ao ponto de partida. Ou seja, se ter uma constituio
fsica radicalmente diferente suficiente para ter qualia diferentes, tem de haver
uma resposta para a questo de quo diferente tem de ser a constituio fsica. Mas
que possveis indcios poderiam distinguir entre a hiptese de que o carcter
qualitativo da nossa dor uma questo de ter fibras-C a disparar, e a hiptese de
que uma questo de ter ou fibras-C a disparar ou vlvulas-D a abrir?
129
#"$
Este ponto semelhante a um argumento de Putnam no captulo de Reason, Truth and History
(Cambridge U. Press, 1981) intitulado Mind and Body. Todavia, Putnam usa o argumento para servir um
propsito diferente do meu. O exemplo do sistema nervoso hidrulico de David Lewis, Mad Pain and
Martian Pain, reimpresso em Readings in the Philosophy of Psychology, volume 1.
129
Shoemaker, em The Inverted Spectrum, op. cit., procura explicitamente lidar com este problema. Prope
um princpio razoavelmente complicado segundo o qual os estados disjuntivos como o mencionado no texto no
satisfazem os requisitos para a identificao com (ou realizao de) estados qualitativos. No posso discutir aqui
o seu princpio detalhadamente. Todavia, a ideia principal que procuramos no papel causal de um cale pelas
suas condies de individuao. Ou seja, se os efeitos causais da dor em seres humanos so explicados pelo
disparar das suas fibras-C apenas, ento o estado de ter as fibras-C a disparar ou de ter as vlvulas-D a abrir no
um candidato legtimo para a realizao fsica da dor. Da perspectiva do meu argumento neste artigo, o
princpio de Shoemaker cai em petio do mesmssimo princpio que est em causa; nomeadamente, se o
carcter qualitativo da dor ou no explicado pelo seu papel causal. Pois se no , no h razo para presumir
que as condies de identidade do estado fsico causalmente responsvel pelo papel funcional da dor
determinariam a presena ou ausncia de um tipo particular de carcter qualitativo. Desde que a natureza desse
")&
Se houvesse uma conexo intrnseca discernvel entre ter fibras-C a disparar (ou
no estado funcional F) e o que estar com dores, pela qual entendo que ter
experincia do ltimo caso seria inteligvel em termos das propriedades do primeiro,
poderamos derivar a nossa medida de semelhana a partir da natureza da
explicao. Sejam quais forem as propriedades do disparar de fibras-C (ou de estar
no estado F) que explicassem o sentimento de dor determinariam as propriedades
que um tipo de estado fsico (ou funcional) teria de ter de modo a se poder
considerar que ter experincia do mesmo como ter as nossas dores. Mas sem que
se preencha esta lacuna explicativa, os factos sobre o tipo ou a existncia de
experincias fenomnicas de dor em criaturas fisicamente (ou funcionalmente)
diferentes de ns tornam-se impossveis de determinar. Isto, por sua vez, implica
que a verdade ou falsidade de 1), embora seja talvez metafisicamente factual,
ainda assim epistemologicamente inacessvel. Isto parece uma consequncia muito
indesejvel do materialismo.
No consigo seno ver um modo, afinal, de evitar este dilema e permanecer
materialista. preciso ou negar ou dissolver a intuio que se encontra nos
alicerces do argumento. Isto envolveria, segundo creio, adoptar a respeito dos
qualia uma linha mais eliminativista do que aquela que muitos filsofos materialistas
esto preparados para adoptar. Como afirmei antes, este tipo de intuio acerca da
nossa experincia qualitativa parece surpreendentemente resistente s tentativas
filosficas de o eliminar. Enquanto permanecer, o problema mente-corpo
permanecer
130
.
Universidade de Boston
Boston, Massachusetts
carcter qualitativo no seja explicada por qualquer coisa peculiar a qualquer realizao fsica particular da dor,
no temos maneira de saber se uma realizao fsica diferente da dor, numa criatura diferente, est ou no
associada ao mesmo carcter qualitativo.
130
Uma verso anterior deste artigo, sob o ttulo Qualia, Materialismo e a Lacuna Explicativa, foi apresentado
nas reunies da Diviso Oriental da APA, em 1982. Gostaria de agradecer a Carolyn McMullen pelos seus
comentrios nessa ocasio. Gostaria tambm de agradecer a Louise Antony, Hilary Putnam, e a Susan Wolf
pelos comentrios teis que fizeram a verses ainda mais antigas.
Você também pode gostar
- Atividades Sobre o Livro Viagem Ao Centro Da TerraDocumento4 páginasAtividades Sobre o Livro Viagem Ao Centro Da TerraDiane Régis100% (2)
- Atlas de Anatomia DentalDocumento44 páginasAtlas de Anatomia DentalRadmilo Soares100% (7)
- Melhorar Performance de Disco No PfSenseDocumento4 páginasMelhorar Performance de Disco No PfSensehenryqueAinda não há avaliações
- Teoria Dos Conjuntos Rodrigo Sanchez MacedoDocumento115 páginasTeoria Dos Conjuntos Rodrigo Sanchez MacedofranciscoAinda não há avaliações
- Matriz de DistribuiçãoDocumento38 páginasMatriz de DistribuiçãoEvanessa BezerraAinda não há avaliações
- PesquisaDocumento23 páginasPesquisaJaja JajajAinda não há avaliações
- Criminologia IDocumento8 páginasCriminologia IJosé Alberto Barreto Nascimento JuniorAinda não há avaliações
- Planilha Cursistas - Resultado Parcial - MOdulo I - Sala 01 G16Documento4 páginasPlanilha Cursistas - Resultado Parcial - MOdulo I - Sala 01 G16Anonymous 1nE8IBPFLsAinda não há avaliações
- MAPA (História Da Igreja I)Documento5 páginasMAPA (História Da Igreja I)Sidnei SousaAinda não há avaliações
- Caderno de Questoes AocpDocumento46 páginasCaderno de Questoes AocpWillian NonatoAinda não há avaliações
- Modelo de Anamnese Personal TrainerDocumento2 páginasModelo de Anamnese Personal TrainerSamuel JuniorAinda não há avaliações
- Fevo-07-00265 en PTDocumento12 páginasFevo-07-00265 en PTAMANDA RAMOSAinda não há avaliações
- Ecologia PDFDocumento40 páginasEcologia PDFNayanaAinda não há avaliações
- Checklist Mercearia Kato 2017Documento4 páginasChecklist Mercearia Kato 2017Raquel MirandaAinda não há avaliações
- Manual Do Aluno FlorestalDocumento13 páginasManual Do Aluno FlorestalHenrique Saint ClairAinda não há avaliações
- Capoeira e Saude MentalDocumento15 páginasCapoeira e Saude MentalLucas CruzAinda não há avaliações
- O Que Todo Élder Deveria Saber-E Toda Irmã Também - Mosias 21 - Élder PackerDocumento14 páginasO Que Todo Élder Deveria Saber-E Toda Irmã Também - Mosias 21 - Élder PackerHUMBERTOAinda não há avaliações
- 7o Ano - Exercício - Números Positivos e Negativos - Aula 02Documento3 páginas7o Ano - Exercício - Números Positivos e Negativos - Aula 02Andreza Marques0% (1)
- Leonel FinalDocumento15 páginasLeonel Finalgaudencio afonsoAinda não há avaliações
- Botânica I - Aula 3 Gimnospermas e AngiospermasDocumento40 páginasBotânica I - Aula 3 Gimnospermas e AngiospermasBrunaAinda não há avaliações
- Camila Barbosa Riccardi LeonDocumento124 páginasCamila Barbosa Riccardi LeonManuella BragaAinda não há avaliações
- (FEITO) ChupacabraDocumento3 páginas(FEITO) ChupacabrakraidfaceAinda não há avaliações
- Direito Internacional Privado (David Andrade)Documento43 páginasDireito Internacional Privado (David Andrade)4.º Ano Subturma 1Ainda não há avaliações
- Como Estruturar Uma Carta ComercialDocumento2 páginasComo Estruturar Uma Carta Comercialdafina4275Ainda não há avaliações
- 2018 Apostila Revisao-EnEMDocumento130 páginas2018 Apostila Revisao-EnEMLeticia Campos ArrudaAinda não há avaliações
- Relação Final de Classificados Pós Recurso No Processo de Credenciamento PEI 2023 - LIBRAS PEIDocumento3 páginasRelação Final de Classificados Pós Recurso No Processo de Credenciamento PEI 2023 - LIBRAS PEIThalita FernandesAinda não há avaliações
- MQ Da Coloração de PapanicolaouDocumento5 páginasMQ Da Coloração de PapanicolaouAnne CarolineAinda não há avaliações
- Edital de Abertura 52021 - PropepUFALDocumento10 páginasEdital de Abertura 52021 - PropepUFALVitória FirmianoAinda não há avaliações
- PEF3405-Aula 3-Fundações RasasDocumento12 páginasPEF3405-Aula 3-Fundações RasasVinicius CalácioAinda não há avaliações
- Município de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasDocumento12 páginasMunicípio de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasAndréia KethellyAinda não há avaliações