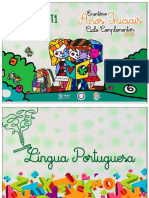Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Dificuldades para Ensino de Fisica para Surdos
As Dificuldades para Ensino de Fisica para Surdos
Enviado por
Janiel Celio Dos Santos0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações12 páginasTítulo original
As Dificuldades Para Ensino de Fisica Para Surdos
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações12 páginasAs Dificuldades para Ensino de Fisica para Surdos
As Dificuldades para Ensino de Fisica para Surdos
Enviado por
Janiel Celio Dos SantosDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
As dificuldades para o ensino de Fsica aos alunos
surdos em escolas estaduais de Campo Grande-MS
The difficulties for the Physics teaching to deaf students in state
schools of Campo Grande-MS
Luiz Felipe Plaa
Shirley Takeco Gobara
Angela Antonia Sanches Tardivo Delben
Jaqueline Santos Vargas
4
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS\CCET -
luizplaca@dfi.ufms.br
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS\CCET -
stgobara@gmail.com
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS\CCET
asdelben@yahoo.com
4
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul UFMS\CCET
jkvargas-@hotmail.com
Resumo
Este trabalho buscou investigar as dificuldades que professores de Fsica e intrpretes
enfrentam para ensinar e traduzir conceitos fsicos aos alunos surdos em escolas regulares de
Campo Grande-MS. Por meio de uma pesquisa qualitativa do tipo exploratria foi realizada a
anlise da legislao vigente sobre a incluso de pessoas com deficincia e a anlise das
entrevistas com professores, intrpretes e coordenador do rgo de apoio ao surdo. As
principais dificuldades evidenciadas foram: o despreparo do professor para ensinar conceitos
fsicos pelo desconhecimento da estrutura da linguagem da pessoa surda, a transferncia da
responsabilidade pela aprendizagem ao intrprete que, geralmente, no domina a fsica e
achar que para a incluso de alunos surdos basta coloc-los em escolas regulares com apenas
um intrprete, como determina a legislao brasileira a partir de 1988. Como esses alunos so
atendidos, a incluso, do ponto de vista das oportunidades e igualdades para aprendizagem,
no est ocorrendo.
Palavras-chave: Ensino de Fsica, surdez, incluso.
Abstract
This study attempted to investigate the difficulties that Physics teachers and interpreters
confront to teach and translate physical concepts to deaf students in regular schools in Campo
Grande-MS. Through a qualitative research of exploratory type, the analysis of present
legislation about the inclusion of people with disabilities and the analysis of interviews with
teachers, interpreters and coordinator of the body that supports the deaf were done. The main
difficulties highlighted were: the unpreparedness of teachers to teach physics concepts by
ignoring the structure of the language used by deaf people, the responsibility of learning is
transferred to the interpreter, who usually has not got full understanding of physics and to
think that putting deaf students in regular schools with an only interpreter for the inclusion of
deaf students is enough, as required by Brazilian law since 1988. The inclusion is not
occurring, from the point of view of equality and opportunities for learning, due to the way
how theses students needs are met.
Key-words: Physics teaching, Student with deafness, inclusion.
Introduo
At o final do sculo XIX, a escola se apresentava como uma oportunidade para poucos.
Somente a burguesia, uma classe privilegiada da sociedade brasileira, tinha acesso
educao, portanto, nessa poca a escola exclua a maioria da populao. Quando as escolas
comearam a se universalizar, e a educao passou a ser um direito de todos, sendo o ensino
fundamental e mdio de responsabilidade do estado brasileiro, aparentemente, as escolas
tornaram-se inclusivas, mas ficou evidente outro tipo de excluso: daqueles que no se
enquadravam nos padres homogeneizadores da escola (BRASIL, 2008a), isto , as pessoas
com necessidades especiais, por exemplo, em particular aqueles com deficincia auditiva,
grupo de interesse dessa pesquisa.
Em 1857 foi criado o Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional da Educao dos
Surdos INES, no Rio de Janeiro, como primeira tentativa de incluso do surdo na educao,
mas apesar disso, passou-se mais de um sculo para que o governo deixasse de tratar as
polticas de educao para os deficientes como assuntos especiais. A igualdade de tratamento
s foi estabelecida pela Constituio Federal de 1988, no Art. 3, inciso IV, o qual estabelece
que um dos objetivos da Repblica Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem
preconceitos de origem, raa, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminao
(BRASIL, 1988) e que o Estado tem o dever de incluir as pessoas com deficincia na rede
regular de ensino (BRASIL, 1988).
A primeira medida tomada pela Unio a respeito do Art 3, inciso IV da Constituio Federal
foi a Lei 7.853 de 24 de Outubro de 1989. Com relao educao das pessoas com
deficincia, o Art. 2 obriga os rgos e entidades da administrao direta e indireta a
tomarem as seguintes medidas:
I na rea da educao:
a) a incluso, no sistema educacional, da Educao Especial como modalidade
educativa que abranja a educao precoce, a pr-escolar, as de 1 e 2 graus, a
supletiva, a habilitao e reabilitao profissionais, com currculos, etapas e
exigncias de diplomao prprios;
b) o oferecimento obrigatrio de programas de Educao Especial em
estabelecimentos pblicos de ensino; [...] (BRASIL, 1989)
V-se que esta Lei apenas corrobora o Art. 3 da Constituio Federal. E, como o que
acontece com as leis sobre incluso, a maioria determina a mesma coisa, porm, no prev
como sero aplicadas as suas determinaes. Com a Lei 9.394 de 1996, Lei de Diretrizes e
Bases da Educao-LDB (BRASILl, 1996), no Art. 60 no foi diferente, ela estabelece que
obrigao do governo incluir o aluno com deficincia no Ensino Regular, mas, tambm, no
prev como fazer a incluso.
O que se v hoje, 21 anos aps a promulgao da Constituio, que as escolas regulares, por
fora de lei, aceitam os alunos com deficincia e h um discurso de alguns setores da
sociedade que acreditam nessa forma de incluso. Mas ser que essa incluso ocorre de
maneira satisfatria? Existem inmeras leis e inmeros decretos acerca da incluso, ser que
eles esto sendo eficazmente cumpridos?
Outra problemtica sobre a diferenciao do papel do intrprete e do professor nas aulas,
especialmente as de fsica. Segundo Rosa (2006), para que o aluno com surdez interprete
corretamente os conceitos ensinados pelo professor, se faz necessrio que o intrprete
desempenhe corretamente seu papel (ROSA, 2006). Qual esse papel desempenhado pelo
intrprete? Ser que o mesmo do professor? Ou, de um modo mais amplo, o intrprete
tambm deve ser professor? Finalmente, qual a atual situao dos problemas acima citados?
Essas questes justificaram o levantamento que ser descrito neste artigo sobre a atual
situao da incluso dos alunos com deficincia e, em particular, dos alunos surdos no Ensino
Mdio da Rede Pblica Estadual de Ensino em Campo Grande-MS e as dificuldades que os
professores e intrpretes enfrentam para ensinar e realizar a traduo dos conceitos fsicos aos
alunos.
A temtica e a rea de conhecimento foram escolhidos porque fazem parte de um dos assuntos
de interesse do Grupo Interdisciplinar de Ensino de Cincias GINPEC da Universidade
Federal de Mato Grosso do Sul, que vem desenvolvendo pesquisas para a melhoria do ensino
de Cincias no Ensino Mdio e ao qual os autores do trabalho esto vinculados.
Objetivos
Neste trabalho pretendeu-se verificar as dificuldades enfrentadas por professores de trs
escolas estaduais de Campo Grande-MS para ensinar fsica e pelos intrpretes para traduzir os
conceitos ensinados pelo professor para o aluno com surdez.
Desse modo, a presente pesquisa props-se responder as seguintes questes:
1) Quais as dificuldades dos intrpretes para traduzir os conceitos fsicos aos alunos com
surdez?
2) Quais as dificuldades enfrentadas pelo professor de Fsica que tem aluno(s) surdo(s)
em sua sala?
A legislao sobre a Incluso
Segundo Carbonari, os portadores de necessidades especiais, aps vrias lutas, conquistaram
seus direitos sociais graas universalizao da educao (CARBONARI, 2008), at que, em
1988, com a Constituio Federal, conquistaram o direito de serem inseridos no Ensino
Regular.
As aes do governo e da sociedade para promover a incluso dos alunos portadores de
necessidades especiais, em especial a Lei da incluso, parecem ser recentes, no entanto, h
mais de vinte anos j deveriam ter sido realizadas, uma vez que a Constituio Federal de
1988 j previa isso.
De acordo com a Constituio Federal de 1988, no art. 208, Inciso III, O dever do Estado
com a educao ser efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado
aos portadores de deficincia, preferencialmente na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).
Porm, essa incluso, um direito garantido constitucionalmente, esbarra em muitos
problemas, desde preconceitos e discriminaes nas escolas e na prpria famlia do deficiente,
at problemas operacionais. Um desses problemas operacionais como introduzir os alunos
no ensino regular e como oferecer as mesmas condies de aprendizagem do aluno que no
possui a deficincia.
A LDB (Lei 9.394/96), no Art. 60, determina:
O Poder Pblico adotar, como alternativa preferencial, a ampliao do atendimento
aos educandos com necessidades especiais na prpria rede pblica regular de ensino,
independentemente do apoio s instituies previstas neste artigo (BRASIL, 1996).
Entretanto, a LDB no prev como ampliar o atendimento ao aluno portador de necessidades
especiais, apenas obriga o Poder Pblico a faz-lo, isso um disparate. Foram necessrios
doze anos para que o art. 60 da LDB fosse regulamentado pelo decreto 6.571/08 que prev
que a Unio dever prover recursos tcnicos e financeiros aos sistemas pblicos de ensino
para aumentar a oferta de atendimento educacional aos alunos com deficincia. Esses recursos
so desde salas de recursos multifuncionais at estruturao de ncleos de acessibilidade nas
instituies federais de educao superior (BRASIL, 2008b).
A Lei 10.436/02 dispe sobre a Lngua Brasileira de Sinais Libras. Inicialmente oficializa-a
como forma de expresso legtima no Brasil e, por fim, torna o ensino de Libras obrigatrio
nos cursos de formao de Educao Especial, de Fonoaudiologia e de Magistrios (BRASIL,
2002).
Sobre esta Lei importante ressaltar que a criana, nos seus primeiros anos de idade, deve
adquirir a linguagem, seja ela qual for. Quando a criana ouvinte a sua linguagem oral-
auditiva e expressa pela sua Lngua Ptria (ingls, portugus, alemo, etc.). No caso de
crianas surdas, a sua linguagem adquirida visual-espacial e, no caso de crianas brasileiras,
a Lngua a Libras. Quando a pessoa surda entra na escola j tem sua linguagem
desenvolvida, na maioria dos casos, ento importante e espera-se que o professor tambm
conhea a linguagem do aluno surdo, caso contrrio, no haver a comunicao de forma
satisfatria (QUADROS, 2004).
A Lei 10.098/00 dispe sobre a acessibilidade e em seu cap. VII trata da acessibilidade nos
sistemas de comunicao e sinalizao. O art. 18 interessante, pois prev que dever do
Poder Pblico implementar a formao de intrpretes para pessoas com deficincias sensoriais
(BRASIL, 2000), no caso deste trabalho, ser destacado os casos dos surdos.
Segundo o relato de um dos intrpretes entrevistados, o intrprete para o surdo deve ser uma
pessoa bilngue, fluente na Lngua Portuguesa e na Libras e seu papel em sala de aula deve ser
o de mediador do saber entre o professor e o aluno, no fazendo parte de suas funes
transformar o saber para o aluno surdo.
O intrprete deve, primeiramente, ser aceito pelo(s) surdo(s) para o(s) qual(is) vai intermediar
a comunicao, deve ser visto como um membro da comunidade surda, uma vez que eles so
bastante fechados e politizados, assim como um integrante de um povo que tem sua prpria
Lngua.
O Decreto 5.626/05 regulamenta a Lei 10.436/02 e o art. 18 da Lei 10.098/00 e importante
em vrios aspectos, pois, inicia definindo no art. 2 a pessoa surda como sendo aquela que,
por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de experincias visuais,
manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Lngua Brasileira de Sinais - Libras.
(BRASIL, 2005) e em seu pargrafo nico define a deficincia auditiva como sendo a perda
bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas
frequncias de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz (BRASIL, 2005).
O captulo II deste decreto inclui Libras como disciplina curricular em Ensino Superior. No
art. 3 torna obrigatrio o ensino de Libras nos cursos de formao de professores para o
exerccio do magistrio, em nvel mdio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia
(BRASIL, 2005). Ou seja, obrigatria a incluso da disciplina de Libras nos cursos de
Licenciatura de todas as reas do conhecimento, dos cursos Normais Superior e Mdio, de
Pedagogia e de Educao Especial, pois este decreto considera todos esses cursos como
formao de professores para exerccio do magistrio.
Metodologia
Esta pesquisa de natureza bsica do tipo Qualitativa (SILVA; MENEZES, 2001), uma vez
que levantou a situao atual sobre a aplicao da lei de incluso nas escolas da rede pblica
Estadual de Ensino em Campo Grande-MS e verificou as dificuldades que os professores e
intrpretes enfrentam no ensino de Fsica aos alunos surdos.
De acordo com os objetivos, a presente pesquisa Exploratria (SILVA; MENEZES, 2001) e
os procedimentos de aquisio dos dados foram pela via da pesquisa documental e
levantamento de informaes nas escolas por meio de entrevistas estruturadas com
professores e intrpretes.
Os sujeitos da pesquisa foram: a coordenadora do Centro de Capacitao de Profissionais da
Educao e Atendimento da Pessoa com Surdez (CAS), cinco professores de Fsica e cinco
intrpretes de trs escolas da Rede Estadual de Ensino na regio central de Campo Grande-
MS.
Foram entrevistados cinco intrpretes e cinco professores de trs escolas estaduais da regio
central de Campo Grande-MS que possuem alunos surdos matriculados: Escola Estadual
Adventor Divino de Almeida, Escola Estadual Joaquim Murtinho e Escola Estadual
Vespasiano Martins.
Os intrpretes dessas escolas tm, em mdia, 27 anos, sendo o mais novo com 22 anos e o
mais velho com 32 anos. Apenas um deles funcionrio pblico efetivo, no pela funo de
intrprete, mas, por ser professor de uma sala de recursos em Sidrolndia-MS.
Quanto formao dos intrpretes, apenas dois deles esto fazendo ps-graduao e ambos
em Libras na formao inclusiva do intrprete, um tem graduao completa, mas no faz ps-
graduao e os outros dois no possuem graduao.
Instrumentos de coleta de dados
Pesquisa documental.
Foram pesquisadas as fontes primrias que tratam das leis de incluso.
Entrevistas estruturadas.
Foram elaborados trs questionrios: um para a coordenadora do CAS, um para os intrpretes
e um para os professores de Fsica. As entrevistas realizadas com a coordenadora do CAS,
intrpretes e professores de Fsica foram gravadas em udio com a devida autorizao dos
entrevistados, a fim de analis-las com maior detalhe.
Procedimento
Inicialmente foram pesquisadas as leis vigentes do Brasil que tratam da incluso do aluno
com deficincia nas escolas da rede pblica de ensino regular.
Foi escolhida a rede pblica de educao com base no decreto 6.571/08 que diz que a
responsabilidade da incluso do aluno com deficincia na rede regular de ensino da Unio,
independente da iniciativa privada (BRASIL, 2008b) e no fato de que o Governo Estadual
que oferece o Ensino Mdio na maioria das escolas da rede pblica.
Na pesquisa de campo, em uma primeira fase, foi entrevistada a coordenadora do CAS
(Centro de Capacitao de Profissionais da Educao e Atendimento da Pessoa com Surdez) a
fim de verificar quais medidas o Poder Pblico Estadual vem tomando para implementar as
leis de incluso e quais so suas relaes com intrpretes e professores. Este levantamento
serviu para um embasamento da anlise das entrevistas com os professores e intrpretes.
Em uma ltima fase da pesquisa de campo foram levantadas, por meio de entrevistas
estruturadas, as dificuldades encontradas pelos professores para ensinar e pelos intrpretes
para traduzir o saber aos alunos com surdez, em particular para os conceitos de Fsica.
Aps a pesquisa de campo, os dados obtidos foram analisados de acordo com as tcnicas de
anlise de contedo de Bardin (BARDIN, 2009). Na anlise consideraram-se as categorias
que foram criadas com base nas transcries das entrevistas e de acordo com os objetivos da
pesquisa.
Resultados e anlise dos dados
A coordenadora revelou que o CAS um rgo vinculado Secretaria de Estado de Educao
(SEED) e ao MEC e sua funo de orientar o trabalho pedaggico dos professores que iro
trabalhar com alunos surdos, formar profissionais para atender pessoas com surdez e
disseminar a Libras por meio, principalmente, de cursos abertos a toda comunidade. Ou seja,
a funo geral do CAS a de fazer a poltica de incluso do surdo em Mato Grosso do Sul.
Dessa forma, o CAS atende e trata das questes educacionais, mas atende tambm toda a
comunidade para o surdo e em prol do surdo. Nesse sentido, o CAS disponibiliza de forma
gratuita intrpretes que acompanharo o surdo em audincias jurdicas, consultas mdicas e
qualquer outra atividade que necessite de um intrprete para realizar a comunicao. Porm, o
foco do CAS a educao, uma vez que est ligado ao MEC e SEED. Assim, o CAS tem
uma funo bastante importante na incluso do surdo no Ensino Regular, obedecendo ao
Decreto 6571/08.
Com relao ao intrprete, as funes do CAS, segundo a coordenadora, so:
a) Formar o intrprete: Aquele que quer ser intrprete deve, primeiramente, saber
Libras, ou por meio de cursos que o CAS oferece, ou aquela pessoa que cresceu em
famlia de surdos e que j fluente em Libras, neste caso, o CAS oferece um curso de
tcnicas de interpretao em Libras.
b) Avaliar o intrprete: A avaliao do intrprete feita por meio de uma prova que o
prprio CAS elabora e aplica ou pelo Prolibras (Exame Nacional de proficincia em
Libras) elaborado pelo MEC e aplicado pelo CAS de cada estado da Nao.
c) Encaminhar o intrprete: O CAS visita as escolas e avalia os surdos de cada escola e,
s ento, encaminha o intrprete.
Com relao ao professor, a nica funo do CAS a de orientao. tambm uma
atribuio do Centro fazer visitas escola, realizar reunies com os professores,
coordenadores e intrpretes e orientar o professor em relao adequao da prtica docente
para lidar com aluno surdo. Nas entrevistas com professores, somente aqueles da Escola
Estadual Joaquim Murtinho citaram a realizao dessa reunio com o CAS.
Apesar do CAS ter a funo de orientao, no h grande procura por parte dos professores,
com exceo dos que atuam na sala de recursos. Esta sala tem por finalidade atender o aluno
surdo no seu contraturno. A orientao aos professores feita de uma maneira geral e no
voltada para uma disciplina especfica. Essa orientao s acontece quando o CAS faz a visita
escola.
No caso dos intrpretes h uma maior procura porque passam pelo CAS, participando dos
cursos de capacitao e atualizao oferecidos por este rgo, que, como dito anteriormente,
o responsvel pela preparao e indicao dos intrpretes para cada escola que tenha
matrcula de aluno surdo.
Quanto funo do intrprete em sala de aula, segundo a coordenadora do CAS, a de
mediar a comunicao, passando da Lngua Portuguesa Oral para a Lngua Brasileira de
Sinais e vice-versa. Mas, segundo ROSA (2006), o papel do intrprete no est ainda
definido, muitas vezes sendo confundido com o papel do professor. Aqui se v claramente a
diferena entre a teoria quanto ao papel desse profissional e a prtica cotidiana nas escolas.
Intrpretes e professores
As entrevistas com professores e intrpretes foram analisadas de acordo com a tcnica de
Anlise de Contedo de Bardin, na qual foram seguidas as seguintes etapas:
Pr-anlise e Explorao do material:
a) Leitura flutuante: Nesta fase foram realizadas leituras das transcries das entrevistas
com o intuito de familiarizar-se com as respostas dadas pelos intrpretes e professores,
iniciando a criao das categorias.
b) Escolha dos documentos: Nesta fase foram selecionados alguns trechos das
transcries das entrevistas que so relevantes para responder aos objetivos desta
pesquisa e durante este processo o material j foi separado e numerado de acordo.
Tratamento dos resultados
Nesta fase foram criadas trs categorias com o enfoque nas dificuldades que professores e
intrpretes tm com o processo de Ensino-Aprendizagem junto aos alunos com surdez:
Linguagem do aluno com surdez (1). Esta categoria foi criada com o intuito de por em
evidncia a relao entre o tipo de linguagem de cada disciplina e o interesse nessas
disciplinas pelos intrpretes, uma vez que os alunos surdos tm linguagem visual-espacial.
Relao entre professores e Intrpretes (2). O objetivo desta categoria foi verificar como
professores e intrpretes se relacionam para transmitir os conceitos aos alunos com surdez e o
que cada um entende da funo do intrprete em sala de aula.
Concepes dos alunos com surdez (3). O intuito dessa categoria verificar, por meio das
entrevistas com professores e intrpretes, se os alunos com surdez possuem conhecimentos
prvios necessrios para aprender de maneira significativa os conceitos de fsica.
Categoria 1: Linguagem do aluno com surdez.
Pela anlise das transcries das entrevistas, percebe-se que h um menor interesse, por parte
dos intrpretes, pelas disciplinas da rea de humanas, por exemplo, histria, geografia,
literatura, filosofia. Quando foi perguntado quais disciplinas voc menos se interessa, o
intrprete Y respondeu: Histria, geografia, literatura. terrvel! e o intrprete M, As
mais tericas, filosofia, histria, que no muito o meu forte.
Estas disciplinas tm carter pouco visual. Como o surdo um sujeito cuja lngua visual-
espacial, o processo de aquisio de conhecimento baseado em uma descrio visual
(QUADROS, 2004), ou seja, tem que haver um desenho ou esquema relacionado ao conceito
para que ocorra a aprendizagem. Com isso possvel inferir que alunos com surdez devem ter
dificuldades com disciplinas que utilizam, de maneira principal, conceitos abstratos e/ou no
visuais. Podendo estar a tambm a causa do desinteresse, por parte dos intrpretes, dessas
disciplinas. Como dito pelo intrprete L Porque tudo tem que ser visual e no tem uma
explicao visual(...)
Outro problema apontado pelos intrpretes a falta de sinais em Libras para vrios conceitos
abordados nas disciplinas de Ensino Mdio. Quando questionado das dificuldades para
interpretar conceitos para os alunos surdos o intrprete Y respondeu: Os sinais mesmos, n,
dos conceitos, que tambm uma coisa que nova. Ento, por exemplo, pra histria, os
sinais pro Rei Fulano de Tal, no tem sinal pra ningum. Biologia, clulas, todos os tecidos,
no existe(...)O prprio sinal. Massa, trabalho. O trabalho mesmo. Eles mesmos perguntam:
o trabalho de escola? o trabalho de trabalhar, de ir no seu servio e trabalhar? At voc
explicar que um trabalho que existe, que gasta energia, que nem eu mesma sei muito
bem(...)
Quanto aos professores, todos tm alguma noo de que o aluno surdo visual, porm, apenas
um afirmou preparar atividades especficas para os alunos. Geralmente, quando voc tem
que falar de uma propriedade fsica especfica(...) ptica, por exemplo, at na ltima aula ns
fizemos um experimento, que era refrao, ento, t sempre trazendo alguma coisa pra
mostrar pra ele do que a gente t falando.
Categoria 2: Relao entre professores e Intrpretes.
Analisando esta categoria verificou-se, primeiramente, que alguns professores desconfiam,
de certa forma, se o intrprete transmite o conhecimento corretamente.
Por exemplo, o professor AS disse que: como tem o intrprete no sei se a transmisso desse
conhecimento de forma adequada. Ento s fica no terico, quadro e giz. (...) Ento no sei
se passou aquilo realmente que eu queria transmitir
E o professor H afirmou que o intrprete uma pessoa que se dedica mais e tal, acho que
eles aprendem mais. Mas quando o intrprete , s vezes meio mole e, s vezes, d muita
moleza pra eles acho que gera uma dificuldade nesse espao a de traduo.
Por outro lado, possvel perceber que alguns professores confiam muito no intrprete, por
exemplo, o professor R afirmou que no h dificuldades: porque a nossa intrprete muito
boa. Ela tira todas as dvidas, ela consegue um know-how bom de fsica. Ela tem um outro
olhar. Ela tendo esse olhar fsico eu no tenho dificuldades pra passar o contedo pro aluno.
Mas o suporte da intrprete, porque se fosse s eu sozinha, acho que no daria conta.
Seja por falta de confiana ou por excesso dela, percebe-se que, independente de tipo de
relao que o professor tem com o intrprete, h uma tendncia de transferir a estes a
responsabilidade de ensinar o aluno com surdez.
Categoria 3: Concepes dos alunos com surdez.
Nesta categoria verificou-se que o aluno surdo geralmente tem poucos conhecimentos
prvios, principalmente, relacionados aos contedos de Fsica. O intrprete Y diz: (...)
alguns no sabem nem o que gravidade, como voc vai explicar alguma coisa direcionada
gravidade?
Segundo Quadros, as crianas deveriam chegar escola com sua linguagem formada:
Diante do fato das crianas surdas virem para a escola sem uma lngua adquirida, a
escola precisa estar atenta a programas que garantam o acesso lngua de sinais
brasileira mediante a interao social e cultural com pessoas surdas. O processo
educacional ocorre mediante interao lingustica e deve ocorrer, portanto, na lngua
de sinais brasileira. Se a criana chega na escola sem linguagem, fundamental que
o trabalho seja direcionado para a retomada do processo de aquisio da linguagem
atravs de uma lngua visual espacial (QUADROS, 2004).
Ou seja, em uma viso cognitivista, a criana sem a linguagem no possui conceitos prvios,
essa falta de conhecimento prvio ocorre, na maioria dos casos, devido ao preconceito que
ocorre dentro da prpria famlia do surdo, que o isola do restante do mundo, como dito pelo
intrprete E: [...] a gente tem conhecimento de vrios lugares, desde a prpria famlia que
no inclui o surdo. Outra situao citada pelo intrprete Y. [...] quando eu comecei ano
passado com uma aluna que ficou 10 anos em casa, totalmente isolada de tudo, ela no sabia
o que era hora, o que era metro, o que era minuto, o que era segundo.
De acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, h aprendizagem
significativa de certo conceito quando este se relaciona de maneira substantiva e no arbitrria
com outros conceitos preexistentes na estrutura cognitiva do indivduo (ROSA, 2010).
Baseado nessa teoria, dificilmente ocorrer a aprendizagem significativa se o aluno surdo no
possuir os conceitos prvios especficos que so necessrios para que ele relacione com o
conceito novo e que, em geral, os alunos que no tm surdez possuem. Por isso, o professor
deve preparar situaes Organizadores Prvios para que os alunos surdos tenham em suas
estruturas cognitivas esses conceitos subsunores
1
. Tal metodologia demanda uma
preocupao e planejamento do professor em ensinar usando a Libras ou preparar o intrprete
para auxili-lo.
No caso da aluna que ficou 10 anos isolada dentro de sua casa, para aprender de maneira
significativa o conceito de velocidade precisaria saber os conceitos subsunores tempo e
espao o que, como relatado pela intrprete, ela no tinha. Como organizador prvio, o
professor, junto com o intrprete, usou um material concreto, como foi descrito pelo intrprete
Y: um folheto de jogo que tinha uma estradinha, a (o professor) pegou um carrinho e foi
mostrando pra ela, deu o espao inicial, espao final, o que esse espao, a fez ele rpido,
fez ele devagar.
Anlise geral
O problema decorrente do fato de o aluno surdo depender de uma representao visual recai
para o professor ou intrprete que deve passar, traduzir ou representar um conceito abstrato na
forma de uma imagem, figura ou esquema e justamente nesse ponto em que as funes do
intrprete e do professor se confundem (QUADROS, 2004b).
Quem deve transformar o conceito abstrato em visual o professor. Para Rosa (2006), o
professor quem deve criar atividades ou situaes para que o aluno desenvolva o
conhecimento, uma vez que ser educador uma atividade profissional que exige diversos
requisitos, entre eles a formao cientfica em uma dada disciplina (ROSA, 2006). Dessa
1
Por subsunores, Ausubel entende um ou mais conceitos, j existentes na estrutura cognitiva aos quais os novos
conceitos vo ligar-se em um primeiro momento antes de serem incorporados estrutura cognitiva de forma
mais completa. (ROSA, 2010)
forma, pela profisso e funes do professor, quem deve fazer a transformao do contedo
para o aluno com surdez o professor e no o intrprete.
Cabe ao intrprete fazer a traduo da Lngua Portuguesa Oral, utilizada pelo professor, para
Libras, utilizada pelo aluno, porm, se o professor no transformar os conceitos para uma
linguagem visual, o intrprete precisa achar um meio para fazer isso, seno o aluno surdo no
vai conseguir entender. nesse processo que o problema se agrava, pois em geral, o intrprete
no possui (e nem deveria possuir) formao especfica nas disciplinas escolares, neste caso
particular, em Fsica. Porm, necessrio que os intrpretes tenham conhecimento bsico de
acordo com o nvel educacional em que ele est atuando (QUADROS, 2004b), mas, em
muitos casos, o intrprete no sabe a Fsica bsica que ensinada no ensino mdio, e acaba
transmitindo de forma inadequada os conceitos abstratos dessa disciplina.
Assim, observa-se de maneira bastante clara que a interao entre professor e intrprete
fundamental para que se desenvolvam meios ou tcnicas apropriadas para ensinar o aluno
surdo, pois o intrprete conhece a linguagem do surdo e pode, junto com o professor, elaborar
materiais e tcnicas que possibilitem associar os conceitos fsicos mais abstratos a imagens ou
aes.
Consideraes finais
Diante do anteriormente exposto, ficou evidente que nas escolas investigadas os alunos surdos
no se comunicam na mesma lngua que o professor. A Libras no a forma sinalizada da
Lngua Portuguesa, uma outra lngua, que tem sua prpria, gramtica, semntica, sintaxe,
morfologia (SUPALLA, 2006; LILLO-MARTIN, 2006), assim como francs, ingls ou
espanhol, por exemplo, e o professor deve se adequar s necessidades desses alunos.
De acordo com os depoimentos dos intrpretes, o surdo ainda esbarra em muitos preconceitos,
como o de que ele tem algum dficit de aprendizagem, ou que ele no tem a mesma
capacidade e raciocnio de um aluno ouvinte. importante que tanto a comunidade escolar
quanto a sociedade como um todo, fiquem esclarecidas de que o surdo possui uma limitao:
a falta do sentido da audio, porm, isso no o impede de aprender os conceitos das
diferentes disciplinas. De acordo com a opinio do intrprete E, que parcialmente surdo, a
surdez no deveria ser considerada como uma deficincia: [...] porque a surdez
praticamente no uma deficincia, voc deixa de ter um sentido para desenvolver os
demais. Nesse sentido, preciso que os professores tenham conscincia do desenvolvimento
dos outros sentidos do surdo e passe a explor-los. O que implica que os professores para
receber e, portanto, dar aulas para alunos surdos, devam conhecer o mundo dos surdos, suas
diferentes personalidades (ALVES, 2005).
Observa-se, tambm, que, para os professores entrevistados, o maior problema em se ensinar
a Fsica est no intrprete. Eles acreditam que ensinam os conceitos de forma correta, mas os
intrpretes no so capazes de transmitir esses conceitos aos alunos surdos. J os intrpretes
veem o problema na diferena de linguagem entre o professor e o aluno. Apenas um professor
afirmou que tem conscincia dessa diferena de linguagem e, portanto, no responsabiliza o
intrprete pela transmisso do conhecimento e, tambm, o que mais relatou engajamento no
desenvolvimento de materiais e mtodos para ensinar o aluno surdo.
Nas entrevistas, as dificuldades apresentadas pelos intrpretes so as dos surdos, j para os
professores, a dificuldade est na transmisso do conhecimento realizada pelo intrprete.
Talvez os intrpretes tenham mais razo no levantamento das dificuldades do ensino para
alunos surdos uma vez que eles conhecem ambos os lados, o dos surdos e o dos ouvintes. Os
professores ainda no reconhecem que a diferena de linguagem uma das principais
dificuldades.
O professor, para ensinar o surdo em uma sala inclusiva necessita incluir em sua aula a
linguagem visual-espacial (QUADROS, 2004a) a fim de que os conceitos fsicos sejam mais
visuais. Dessa forma, o intrprete apenas deve sinalizar para o surdo, e assim, o aluno surdo
poder abstrair o conceito uma vez que este j est ligado a uma imagem pr-existente em sua
estrutura cognitiva. Neste caso, imprescindvel que o professor conhea a estrutura
lingustica da Libras, e a que entra o decreto 5.626/05, pois, se o professor conhece a
estrutura dessa lngua, poder ensinar de uma forma que o intrprete possa traduzir o saber ao
aluno surdo de uma maneira mais direta, de forma que o intrprete seja apenas uma ponte
entre o professor e o aluno surdo e no um transformador de saber, como feito hoje.
Uma outra dificuldade achar que para a incluso de alunos surdos basta coloc-los em uma
escola regular com apenas um intrprete, sem equipar as escolas adequadamente e nem
proporcionar formao adequada ao professor (ALVES, 2005). Da forma que hoje esses
alunos so atendidos, a incluso, do ponto de vista das oportunidades e igualdades para
aprendizagem, no est ocorrendo. Visto que, para que ocorra a interao entre os indivduos
de uma comunidade, preciso que eles utilizem uma linguagem comum e se apenas o
intrprete domina a Libras, questiona-se: como esses alunos surdos podem ser considerados
includos se eles nem tm a oportunidade de se comunicarem com os seus colegas de sala de
aula?
Por fim, conclui-se que uma das principais dificuldades observadas para que ocorra a
aprendizagem de conceitos fsicos pelos alunos surdos est na linguagem utilizada pelo
professor, isto , na preparao desse profissional que vai receber esses alunos. Uma vez que
o professor se conscientize dessa diferena de linguagem e mude sua prpria linguagem
poder melhorar o ensino para o aluno surdo. Isso justifica a legislao que introduz o curso
de Libras nos cursos de formao de professores, porm essa mudana ser gradual e longa,
pois s poder ocorrer quando as crianas, nas sries iniciais, aprenderem tambm, essa nova
linguagem.
Referncias
ALVES, Teresa Cristina Leana Soares. Educao de surdos. Anotaes de uma
professora surda. Dissertao (Mestrado em Educao) Programa de Ps-graduao em
Educao, Universidade de Sorocaba, Sorocaba,SP, 2005.
BARDIN, Laurence. Anlise de Contedo. 4 ed. rev. atual. Lisboa: Edies 70, 2009.
BRASIL. Poltica nacional de educao especial na perspectiva da educao inclusiva.
Janeiro de 2008. Braslia. Disponvel em: <http://www.bancodeescola.com/
Politica_Educacao_Especial_Jan_2008.doc> Acessado em: 20 Abr. 2009.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988.
BRASIL. Lei N 7.853, de 24 de outubro de 1989. Dispe sobre o apoio s pessoas portadoras
de deficincia[...]. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 25 out. 1989. Disponvel em:
<http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/L7853.htm> Acessado em: 20 abr. 2009.
BRASIL. Lei N 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da
educao nacional. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 23 dez. 1996. Disponvel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l9394.htm> Acessado em: 20 abr. 2009.
BRASIL. Decreto N 6.571, de 17 de setembro de 2008. Dispe sobre o atendimento
educacional especializado, regulamenta o pargrafo nico do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, e acrescenta dispositivo ao Decreto no 6.253, de 13 de novembro de 2007.
Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 18 set. 2008.
BRASIL. Lei N 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispe sobre a Lngua Brasileira de Sinais -
Libras e d outras providncias. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 25 abr. 2002.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/l10436.htm> Acessado em: 20
abr. 2009.
BRASIL. Lei N 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critrios
bsicos para a promoo da acessibilidade das pessoas portadoras de deficincia ou com
mobilidade reduzida, e d outras providncias. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 20 dez.
2000.
BRASIL. Decreto N 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, de 24
de abril de 2002, que dispe sobre a Lngua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei
no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Dirio Oficial da Unio, Braslia, DF, 23 dez. 2005.
Disponvel em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato20042006/2005/decreto/
d5626.htm> acessado em 20 abr. 2009.
CARBONARI, Vera Lucia Gomes. Informtica educativa e a concepo dos professores
das salas de recursos de deficincia auditiva da rede municipal de ensino de Campo
Grande/MS. Dissertao (Mestrado em Educao) Programa de Ps-graduao em
Educao, UCDB, Campo Grande, 2008.
LILLO-MARTIN, Diane. Estudos de aquisio de lnguas de sinais: passado, presente e
futuro. QUADROS, R. M.; VASCONCELLOS, M. L. B. (org.) Questes Tericas das
Pesquisas em Lnguas de Sinais. Florianpolis, SC: Editora Arara Azul, 2006. p. 191-210.
QUADROS, Ronice Mller de. Educao de surdos: efeitos de modalidade e prticas
pedaggicas. MENDES, E. G.; ALMEIDA, M. A..; WILLIAMS, L. C. A. (Org.). Temas em
educao especial: avanos recentes. So Carlos, SP: Editora da UFSCar, 2004. p. 55-60.
QUADROS, Ronice Mller de. O tradutor e intrprete de lngua brasileira de sinais e
lngua portuguesa / Secretaria de Educao Especial; Programa Nacional de Apoio
Educao de Surdos - Braslia: MEC ; SEESP, 2004.
ROSA, Andra da Silva. Tradutor ou Professor? Reflexo preliminar sobre o papel do
intrprete de lngua de sinais na incluso do aluno surdo. Ponto de Vista. Florianpolis,
v.8, n. 8, p. 75-95, 2006.
ROSA, Paulo Ricardo da Silva. Instrumentao para o Ensino de Cincias. Campo Grande,
MS: UFMS, 2010.
SILVA, Edna Lcia da. MENEZES, EsteraMuszkat. Metodologia da pesquisa e elaborao
de dissertao. 3. ed. rev. atual. Florianpolis: Laboratrio de Ensino a Distncia da
UFSC, 2001.
SUPALLA, Ted. Arqueologia das Lnguas de Sinais: integrando lingustica histrica com
pesquisa de campo em lnguas de sinais jovens. QUADROS, R. M.; VASCONCELLOS,
M. L. B. (org.) Questes Tericas das Pesquisas em Lnguas de Sinais. Florianpolis, SC:
Editora Arara Azul, 2006. p. 22-29.
Você também pode gostar
- TEIXEIRA, JR. R. Vocabulário de Análise Do Comportamento PDFDocumento96 páginasTEIXEIRA, JR. R. Vocabulário de Análise Do Comportamento PDFRafael Magalhães100% (1)
- Atividades Propaganda Estrutura AlimentaçãoDocumento3 páginasAtividades Propaganda Estrutura AlimentaçãoARANAAinda não há avaliações
- Comportamento e Cognição Sumários Completos 01-27Documento151 páginasComportamento e Cognição Sumários Completos 01-27Damom RibeiroAinda não há avaliações
- Educacao Inclusiva PDFDocumento11 páginasEducacao Inclusiva PDFAngela Campos CamposAinda não há avaliações
- Introducao A Língua de SinaisDocumento46 páginasIntroducao A Língua de SinaisbiaAinda não há avaliações
- (Neurose e Perversao Gemeas Do Seu OpostoDocumento85 páginas(Neurose e Perversao Gemeas Do Seu OpostoJosiane CecíliaAinda não há avaliações
- 4 Ano T1Documento61 páginas4 Ano T1Marisa Francisca Galdeano MarraAinda não há avaliações
- Análise Crítica Do Caso "A Mulher Desencarnada"Documento5 páginasAnálise Crítica Do Caso "A Mulher Desencarnada"Débora Sant'AnaAinda não há avaliações
- Luis Cláudio FigueiredoDocumento11 páginasLuis Cláudio FigueiredoGabriela DíazAinda não há avaliações
- A Inclusão Na Educação Escolar Indígena Análise de Uma Realidade AmazônicaDocumento16 páginasA Inclusão Na Educação Escolar Indígena Análise de Uma Realidade AmazônicaMayara CostaAinda não há avaliações
- BELTRAMI e MOURA. A Educação Do Surdo... Inclusão No Brasil Nos Últimos 50 Anos (1961-2011)Documento16 páginasBELTRAMI e MOURA. A Educação Do Surdo... Inclusão No Brasil Nos Últimos 50 Anos (1961-2011)Reginaldo SilvaAinda não há avaliações
- FORTIN, Sylvie, Auto-EtnografiaDocumento12 páginasFORTIN, Sylvie, Auto-EtnografiaRafael Schultz100% (1)
- PSI-Mariana Ridolfi Dos Reis EtruscoDocumento14 páginasPSI-Mariana Ridolfi Dos Reis EtruscoRodrigo SerrãoAinda não há avaliações
- Sequenciatextual 110903084045 Phpapp01Documento65 páginasSequenciatextual 110903084045 Phpapp01Jojo SilvaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento e Desenhos AnimadosDocumento14 páginasDesenvolvimento e Desenhos Animadosdiana_carreiraAinda não há avaliações
- Vol 4 CARTILHADocumento21 páginasVol 4 CARTILHANeuziane de Farias Castro100% (1)
- Unintese MetodologiadapesquisaDocumento42 páginasUnintese MetodologiadapesquisaNatália Maximo E Melo0% (1)
- Lobos CerebraisDocumento32 páginasLobos CerebraisMirela RibeiroAinda não há avaliações
- Henry Corbin - Ler PDFDocumento19 páginasHenry Corbin - Ler PDFValber Oliveira100% (1)
- Leitura Dinâmica - Pedro AugustoDocumento73 páginasLeitura Dinâmica - Pedro AugustoRicardo HenriqueAinda não há avaliações
- Organizacoes Que AprendemDocumento20 páginasOrganizacoes Que AprendemLetíciaMeloAinda não há avaliações
- As Propostas Dos Educadores Musicais Da Primeira e Segunda Gerações e Suas Aplicações Na Sala de Aula Do Ensino Regular - TCC - ArtigoDocumento32 páginasAs Propostas Dos Educadores Musicais Da Primeira e Segunda Gerações e Suas Aplicações Na Sala de Aula Do Ensino Regular - TCC - ArtigoRitaDiasdeToledoAinda não há avaliações
- Resident Evil e Rede SociaisDocumento15 páginasResident Evil e Rede SociaisCamila XavierAinda não há avaliações
- Top Esp Fun Teo Dir Unidade 1 PDFDocumento3 páginasTop Esp Fun Teo Dir Unidade 1 PDFlorena oliveiraAinda não há avaliações
- Análise de Performance DesportivaDocumento76 páginasAnálise de Performance DesportivaYago PessoaAinda não há avaliações
- Análise SintáticaDocumento9 páginasAnálise SintáticaMarcelo A. O. Del-Ducca100% (1)
- Visibilidade Social e Estudo Da InfânciaDocumento22 páginasVisibilidade Social e Estudo Da InfânciaAlice Morellato100% (2)
- Diretrizes CurricularesDocumento15 páginasDiretrizes CurricularesKleber GalescoAinda não há avaliações
- Apolinismo e Socratismo PDFDocumento15 páginasApolinismo e Socratismo PDFCamilo LelisAinda não há avaliações
- 20 e Book Como Estimular Criancas Que Apresentam Atrasos Na Fala e Que Podem Resultar em Dificuldad Usado Telegram 19 08 22Documento25 páginas20 e Book Como Estimular Criancas Que Apresentam Atrasos Na Fala e Que Podem Resultar em Dificuldad Usado Telegram 19 08 22Leilane LucenaAinda não há avaliações