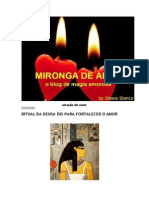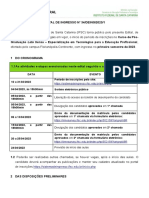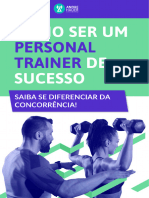Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fernandes Mitologiaafro
Fernandes Mitologiaafro
Enviado por
LeninhaHonorio0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações11 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações11 páginasFernandes Mitologiaafro
Fernandes Mitologiaafro
Enviado por
LeninhaHonorioDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
Estudos de Mitologia Afro-Brasileira:
orixs e cosmoviso negra contra a intolerncia e o preconceito
1
Alexandre de Oliveira Fernandes
2
Ktia Caroline Souza Ferreira
3
Resumo
A Lei de Diretrizes e Bases da Educao (LDBen 9394/96) bem como suas alteraes,
Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/07 , tem papel significativo na reeducao da sociedade
brasileira, uma vez que se posiciona na contramo do discurso hegemnico ocidental
branco, que legitima o olhar eurocntrico e silencia outras cosmogonias e saberes.
Assim, ao estudo de Lngua Portuguesa e Literatura nas escolas de Ensino Fundamental e
Mdio, prope-se o desafio de valorizar a cosmoviso e a identidade negra. O trabalho com
mitologia afro-brasileira torna-se, pois, mister para a preveno do racismo e a
intolerncia.
Palavras-chave: Mitologia Afro-Brasileira; Literatura Negra; Identidade Negra
1. Contra o silenciamento, a expulso escolar, o preconceito
Nossa leitura da legislao educacional em vigor, Lei de Diretrizes e Bases da
Educao (LDBen 9394/96), Lei 10.639/03 e a Lei 11.645/07, faz-nos crer que, para alm
do ensino propedutico e mecnico, a disciplina de Lngua Portuguesa e Literatura deve
estar servio da equidade, da educao para todos, contrariando a supremacia do discurso
europeu e a discriminao racial, colocando-se a favor da educao plural.
Neste sentido, o interesse deste trabalho destacar a importncia dos estudos de
mitologia africana e afro-brasileira nas aulas de literatura, em consonncia com as
Diretrizes Curriculares para a Educao das Relaes tnico-Raciais, com vistas a:
1
O presente artigo fruto de discusses feitas durante o perodo de graduao dos autores.
2
Mestrando em Letras: Linguagens e Representaes pela Universidade Estadual de Santa Cruz/UESC.
3
Especialista em Educao de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal de Educao da Bahia IFBA.
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
2
(i) divulgar e produzir conhecimentos, bem como atitudes, posturas e valores que eduquem
cidados quanto pluralidade tnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar
objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorizao de
identidade, na busca da consolidao da democracia brasileira; (ii) reconhecer e valorizar a
identidade, a histria e a cultura dos afro-brasileiros, bem como garantir o reconhecimento
e a igualdade de valorizao das razes africanas na nao brasileira, ao lado das indgenas,
europias e asiticas (BRASIL, 2005: 29).
Esta educao plural e anti-racista, no necessariamente tem o negro como foco,
mas a sociedade brasileira, uma vez que o racismo, o mito da democracia racial e a
ideologia do branqueamento atingem a todos, de maneira diferente sobre os diversos
sujeitos e interpem diferentes dificuldades nas suas trajetrias de vida escolar e social
(BRASIL, 2005: 09).
Cremos que dever da escola, de todos os seus atores, romper com o silenciamento
imposto aos grupos que a sociedade brasileira insistentemente se dedica a marginalizar
(GONALVES e SILVA, 2001: 01).
Neste caminho, salutar, o reconhecimento de que nosso sistema educacional
excludente, privilegia o grupo social dominante buscando constantemente sua perpetuao
no poder e a manuteno do sistema estabelecido.
Estudos que analisaram os livros didticos utilizados nas escolas brasileiras, bem
como o tratamento dispensado s crianas negras e a relao professor-aluno, j
evidenciaram a excluso de um determinado falar, de um certo modo de ver o mundo
(LARKIN, 2003; NEGRO, PINTO, 1990; SILVA, 1995), demonstrando que ainda h
uma reduzida porcentagem de imagens de afrodescendentes (nos livros didticos), se
confrontada com a porcentagem relativa participao dos mesmos no conjunto da
populao brasileira, alm do que a maioria das imagens de afrodescendentes os
representa no passado e, quase sempre, como escravos (BOULOS JUNIOR, 2008: 183).
Neste sentido, a prxis escolar deve valorizar a diversidade existente em nossa
sociedade sob pena de, ao negar a excluso e a disparidade, sufocar e anular os grupos
desfavorecidos.
Contudo, assistimos a uma escola que,
especificamente no tocante s relaes tnico-raciais, alm de ainda no se encontrar
altura dos desafios postos pela luta contra o racismo, o sexismo, a homofobia e a
discriminao, tem se revelado um plo de expulso de crianas e jovens negros/as
(JUNQUEIRA, 2006:26).
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
3
Assim, o negro tem sido tratado como um afluente da histria do Brasil. O branco
sempre o protagonista e sua contribuio maior e mais importante do que qualquer outra.
No caso do negro, sua histria parece comear com a escravido, negando, desprezando,
todo um passado de realezas e estrutura social muito bem definida em frica.
Neste cenrio, quando no evade, o estudante negro o mais reprovado,
freqentando as piores escolas e os piores cursos; isto tudo, pari passu produo e
reproduo de uma educao cujo paradigma eurocntrico, flico, ocidental, branco, o
que, nas palavras de Kabengele Munanga assim apresentado:
Apesar da generalidade da excluso de todos os alunos pobres, independente de sexo, cor,
religio, idade, etc., os resultados de todas as pesquisas srias realizadas no pas mostram
que, mesmo nas escolas mais perifricas e marginalizadas dos sistemas da rede pblica,
onde todos os alunos so pobres, quem leva o pior em termos de insucesso, fracasso,
repetncia, abandono e evaso escolares o aluno de ascendncia negra, isto , os alunos
negros e mestios. O que logicamente leva a crer que a pobreza e a classe social no
constituem as nicas explicaes do insucesso escolar do aluno negro e a buscar outras
fontes de explicao (MUNANGA, 2000: 235-236).
Devemos questionar tambm a formao dos professores que esto em sala de aula,
que nem sempre recebem o instrumental necessrio para lidar com a diversidade e as
manifestaes de discriminao ocorridas no cotidiano escolar. Alis,
os/as docentes foram formados/as para entender o legado africano como saberes do mal,
saberes de culturas atrasadas e pr-lgicas, repercutindo nos currculos escolares com uma
carga preconceituosa que gera as discriminaes (SANTANA, 2006: 39).
No podemos esquecer que os cursos de Licenciatura que tratam o tema Histria da
frica so uma realidade recente. Por exemplo, a Universidade de So Paulo - USP,
referncia em educao na Amrica Latina, disponibilizou uma disciplina sobre Histria da
frica apenas em 1998.
Sem assumir nenhum complexo de culpa, pertinente assinalar que em funo da
educao recebida, podem reproduzir consciente ou inconscientemente os preconceitos que
permeiam nossa sociedade,
da a necessidade de se insistir e investir para que os professores (...) recebam formao que
os capacite no s a compreender a importncia das questes relacionadas diversidade
tnico-racial, mas a lidar positivamente com elas e sobretudo criar estratgias pedaggicas
que possam auxiliar a reeduc-las (SECAD, 2006: 239).
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
4
O trato com questes da educao das relaes tnico-raciais no , pois, simples.
Os fatores que influenciam as questes raciais e de intolerncia so internos e externos
escola, fazendo-se sentir toda vez que um garoto ou garota chamado(a) de picol de
asfalto, boneca de piche, cabelo de bombril", galinha do cu, ou quando a menina
no escolhida para rainha da festa junina, pois negra; quando dizemos que um telefone
celular pai de santo, e quando ouvimos a expresso chuta que macumba.
Estudos de literatura negra, em seu carter desvelador e libertrio, com forte
potencial para desembaraar as imagens depreciativas que foram impostas aos
dominados (FANON, 1983: 128). Estes estudos devem questionar o espao do negro
como uma construo histria, contribuindo na luta contra uma educao de excluso que
levou os afro-brasileiros a desconhecerem e negarem suas pertenas africanas
(SANTANA, 2006, 38).
Assim, inegavelmente, a escola, uma das instituies responsveis pelo processo de
socializao dos indivduos, no pode se esquivar do trato adequado s questes de
preconceito (perpetuao/reproduo), racismo e intolerncia, sob pena de colocar em
xeque sua prpria misso.
2. Estudos de Mitologia Africana e afro-brasileira: textos mticos e seu potencial
anti-racista
Trabalhar com mitos dos orixs, mitos afro-brasileiros em aulas de literatura, um
caminho vivel para questionar preconceitos e representaes estereotipadas, resgatando e
valorizando auto-estima e cultura negra.
H, pois, uma srie de textos para os quais nossos educandos podem ser
apresentados, a saber, Por que Oxal usa ikodid (SANTOS, 1997), A criao da Terra e
Como surgiu a consulta a If (BENISTE, 2006: 45-73); Iemanj ajuda Olodumar na
criao do mundo (VALLADO, 2002: 18), Como ymi chegou ao mundo em Ot
(VERGER, 1992, 38-40).
Destaquemos tambm: Mitologia dos Orixs (PRANDI, 2001: 34) no qual, o leitor
encontra 301 mitos africanos e afro-americanos (...) sem dvida a maior coleo
organizada at hoje.
Cntico dos orixs outro material primaz. Ali, Skir Slmi, nigeriano mais
conhecido como professor King , apresenta-nos rezas e cnticos para 21 orixs. A coleta
destes textos contou com a colaborao de babalas, babalorixs e ialorixs nigerianos,
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
5
guardies do conhecimento transmitido oralmente, de gerao a gerao (SLMI, 1991:
159).
Esses textos podem ser abordados pelo professor de diversos modos: i) estudos de
literatura oral e sua importncia para a manuteno/preservao da cultura afro-brasileira;
ii) poesia e figuras de linguagem; iii) conto e estrutura da narrativa; iv) recital e teatro; v)
intertextualidade; vi) escritura/reescritura.
Projetos interdisciplinares que discutam a questo racial brasileira, a importncia do
resgate da memria ancestral, esteretipos e preconceitos atribudos ao grupo negro
tambm podem ser realizados, partindo-se dos mitos negros.
No podemos perder de vista tambm que, estes mitos esto presentes no
imaginrio brasileiro, disseminados, espalhados na msica, no cinema, na telenovela, na
pintura, nos ritos religiosos, em nossa literatura. Solidificaram-se gerao aps gerao.
H, pois, farto material para trabalhar com nossos educandos. Por que no
pesquisar, localizar e interpretar com eles, os mitos negros personificados em literaturas
como a de Jorge Amado, percebendo como esses textos foram reapropriados, o que nos
ensinam e o que nos contam?
Vrios textos de Jorge Amado como O pas do Carnaval (1987), Tenda dos
Milagres (1983a), Capites da Areia (2001) e Jubiab (1983), podem ser trabalhados e
neles identificados os mitos; a partir do que, professor e aluno podem reelaborar
conhecimentos, produzir novos saberes, medida que se apropria da memria mtica
africana e contribui para a desarticulao da intolerncia e do preconceito.
Didaticamente, podemos inclusive, estabelecer alguns objetivos para este trabalho:
1) Identificar mitos africanos em obras literrias; 2) Descrever mitos e arqutipos dos
orixs em personagens da trama; 3) Estabelecer co-relao entre a narrativa mtica de
origem africana e a lgica Ocidental de compreenso do mundo, relatando em que se
aproximam e se distanciam; 4) Perceber a mitologia africana impressa na literatura como
condio de resistncia de grupos afro-brasileiros.
Tomando como mote os textos de Jorge Amado, professor e aluno podem discutir
sobre concepo e importncia dos orixs, do terreiro, da figura mtica de Exu, Iemanj,
Omolu. Servem os textos de Amado para refletir sobre dana, corpo, memria ancestral,
magia.
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
6
Propomos, ento, por meio de estudos de mitologia africana nas aulas de literatura
perceber como os grupos negros organizam toda uma construo simblica partilhada por
um conjunto scio-cultural.
Acrescentemos que o trabalho com textos de Jorge Amado apenas um exemplo,
uma possibilidade de estudos literrios, pois, os mitos negros encontram-se espalhados em
uma verdadeira circularidade cultural das imagens mticas (SILVA, RAMALHO, 2007:
258), resultado de nossa herana africana.
Defendemos, portanto, a utilizao de textos que remontem mitologia africana e
aos orixs, condio do negro no Brasil, aos processos de resistncia, dispora negra,
ao preconceito e ao racismo, com vistas formao de cidados crticos e construtivos,
capazes de questionar, influenciar e promover avanos significativos em suas vidas.
3. O mito e a aula
Mas como compreender os mitos? O que so esses textos? O que nos trazem? Por
que trabalhar com eles em aulas de literatura importante? Todas essas perguntas podem
ser feitas por professores e educandos, ao que nos parece saudvel tentar respond-las.
Os mitos so vozes polifnicas que presentificam as aes de um povo, legitimam
sua vivncia, sua cosmogonia, sua espiritualidade, sua representao social e cultural,
entendendo, alm disso, que manipulam/veiculam smbolos religiosos (ELIADE, 1992).
So importantes porque transmitem conhecimento, fornecendo a interpretao da
realidade negra, sua cosmoviso, sua forma de lidar com a vida, com a morte, com o
medo:
(Nos mitos negros) o universo pensado como um todo integrado; a concepo de tempo
privilegia o tempo passado, o tempo dos ancestrais, e sustenta toda a noo histrica da
cosmoviso africana; j a noo de pessoa vista de modo muito singular, cada qual
possuindo seu destino e procurando aumentar a sua Fora Vital, o seu ax; a Fora Vital
que a energia mais importante desses povos, insufla vitalidade ao universo africano. A
palavra, por sua vez, tida como um atributo do preexistente, e por isso mesmo,
promovedora de realizaes e transformaes no mundo, veculo primordial do
conhecimento. A morte, por seu turno, no significa o fim da vida, mas parte do processo
cclico da existncia que tem como referncia maior os ancestrais. A morte restituio
fonte primordial da vida, a lama que est situada no orun. A famlia a base da organizao
social. Os processos de socializao forjam coletivamente o indivduo, fundamentando o
objetivo a ser atingido socialmente: o bem-estar da comunidade. Por fim, o poder, que
vivido coletivamente, tem o objetivo de promover a comunidade e garantir a tica africana
(OLIVEIRA, 2003: 220).
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
7
Contudo, nas aulas de literatura (nas demais diferente?), ainda se tabu falar de
cultura negra, principalmente em se tratando de mitos africanos e de orixs, a despeito da
enorme presena dessa cultura na literatura, na sociedade.
Apesar da presena cada vez mais forte do mtico na literatura, ndice de
criatividade e recurso esttico, problematizador (o mito) da condio humano-existencial,
os mitos ainda so vistos como estorinhas que tm valor pouco significativo.
Nossa cultura ocidental, eurocntrica, crist, que privilegia outras formas de
conhecer o mundo, como o telescpio, o computador, o satlite, o microscpio, o chip, as
fibras pticas, e o intelecto do homem moderno no percebe valor nos mitos.
Em contrapartida, podemos ser (re)educados para compreender a linguagem mtica
como uma linguagem potica, cuja qualidade principal remeter o ser humano para um
universo lrico-simblico implicitamente associado experincia do belo (SILVA,
RAMALHO, 2007: 240); apreendendo-os, por outro lado, como histrias sociais, que nos
harmonizam e nos auxiliam a lidar com as questes mais distintas da vida, fornecendo
modelos de relacionamento com as sociedades em que vivemos e para o relacionamento
dessas sociedades com o mundo (FORD, 1999: 08).
A literatura, neste sentido, no pode se furtar a dar suas contribuies, ignorando
que os mitos, textos-contos, transmitidos oralmente de gerao a gerao, guardam em si a
forma pela qual esses grupos se vem e retratam o mundo, materializam o desconhecido,
explicam o comportamento humano, fornecem os necessrios elementos para a
compreenso da complexa dinmica existencial.
Um trabalho que resgate estes mitos, identificando-os, analisando-os, medida
que percebe as aes, os sonhos, os sentimentos presentes na narrativa relevante.
3. Consideraes finais: H um universo mtico (em expanso) a ser explorado
A pea Mistrio negro de Abdias do Nascimento (1966), os contos de Mestre Didi,
Descredes dos Santos (1976), Contos crioulos da Bahia, o texto de Ivanildes Moura
Santos (2006), Azire: a princezinha de Aruanda, o romance Tramas da Cor, de Raquel de
Oliveira (2005) tambm podem fazer parte de aulas que discutam questes raciais, com
vistas reflexo sobre a presena do legado cultural africano na literatura brasileira
(PROENA FILHO, 2004).
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
8
Em Azire, h espao para a histria de uma criana negra, de uma mulher negra,
com outros valores simblicos, que respeita e conhece o valor de seus antepassados e da
herana africana.
Atravs do abeb, Azire no futuro podia v todas as pessoas amadas e as protegeria. O
abeb guardaria a infncia da princesinha para que, quando ela se transformasse em uma
mulher, pudesse preservar toda a sua descendncia da maldade, e assim a vida do seu povo
nunca se perderia da histria. Nanazinha ainda fez um ltimo pedido a Azire, que ela nunca
se aproximasse do rio sem o seu abeb e seus potinhos de barro, pois eles continham tudo
de importante para a preservao das geraes seguintes, valores importantes para um povo
(SANTOS, 2006, p.18).
Azire no uma princesa que esperar um prncipe vir lhe resgatar da morte,
acordando-a com um beijo. Azire mulher forte, sabedora de sua responsabilidade para
com seu povo, capaz de proteger a sua histria, e suas origens (SANTOS, 2006, p.26).
O texto de Raquel de Oliveira, Tramas da Cor (2005) tambm bastante
interessante. Conta a histria de Jssica, uma menina negra constantemente exposta a
imagens e expresses pejorativas.
Jssica saiu da escola exausta, atordoada. Aquele dia tinha sido muito duro. Ningum lhe
deu apoio. S ouviu crticas. At a merendeira, quando a viu passar de olhos vermelhos,
disse: Eu sabia que isso ia acabar acontecendo. T vendo, mocinha? Agora a coisa vai ficar
preta pro seu lado. Ningum mais agenta, voc daquelas que ajudam a transformar o
recreio desta escola num verdadeiro samba-do-crioulo-doido, s se envolve em brigas!
(OLIVEIRA, 2005, p.15).
Jssica, ao longo da narrativa luta solitria contra a agressividade social colegas de
classe em relao a sua cor, seus ancestrais, sua religio:
O pastor Silas contava orgulhosamente para todo mundo que ele havia conseguido ajudar a
famlia de Jssica, tirando-a de um caminho mau e perigoso. Antes de ser evanglico,
Jorge, o pai de Jssica, tinha exercido o cargo de Og numa casa de candombl. Jorge,
dizia o pastor, agradea a Deus por Ele lhe ter tirado da feitiaria; agora voc conhece o
Deus verdadeiro.
Jssica se sentia feliz porque o pastor gostava muito da sua famlia. E, apesar das brigas
com algumas meninas, ela gostava de ir igreja, de cantar e participar dos cultos. Naquele
momento, lembrou-se do refro de uma msica evanglica muito conhecida, cantada pelo
grupo infantil de sua igreja, meu corao era preto, mas hoje limpo est (OLIVEIRA,
2005, p.20).
Do ponto de vista religioso, o trabalho com mitos africanos tambm se mostra
eficaz, haja vista que, toda uma gama de padres comportamentais indicada aos fiis, que
podem assim ser usados com modelo a ser seguido, ou como validao social para um
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
9
modo de conduta j presente (PRANDI, 1996, p.27).
Mas, saliente-se que este trabalho no pretende evangelizar os educandos. Trata-
se, na verdade, de se apropriar de um rico repertrio de saberes que apresenta a dinmica
coletiva afro-brasileira com seus discursos e referenciais de mundo trazidos de frica
para o Brasil e, ao conhecer este universo complexo e dinmico, aproximarmo-nos de
nossos ancestrais, Iorubs (Nigria), dos Ewe-fon (Benin) e dos Bantos (Angola), os quais,
espalharam e ressignificaram sua cultura pelas Amricas, legando o Candombl no
Brasil, em Cuba, a Santeria, Vodu no Haiti, Obeah na Jamaica, Chango em Trinidad-
Tobago e Maria Lionza na Venezuela.
Sobremodo, o trabalho com os mitos permite que nos conheamos melhor,
questiona nossas incoerncias e preconceitos, expe nossas razes, fragiliza o modus
operandis construtor da identidade nacional brasileira. Alis, aponta ser ele mesmo um
Mito.
Referncias Bibliogrficas
AMADO, Jorge. Capites da Areia. Rio de Janeiro: Record, 2001.
AMADO, Jorge. Jubiab. Rio de Janeiro: Record, 1983.
AMADO, Jorge. O pas do carnaval. Rio de Janeiro: Record, 1987.
AMADO, Jorge. Tenda dos milagres. Rio de Janeiro: Record, 1983a.
BENISTE, Jos. Mitos yorubs: o outro lado do conhecimento. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2006.
BOULOS JUNIOR, Alfredo. Imagens da frica, dos africanos e seus descendentes em
colees de didticos de Histria aprovadas no PNLD de 2004. Tese apresentada
Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, PUC, 2008.
BRASIL. Ministrio da Educao e Cultura. Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educao das Relaes tnico-Raciais e para o Ensino de Histria e Cultura Afro-
brasileira e Africana. Braslia: MEC, 2005.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano. So Paulo, Martins Fontes, 1992.
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
10
FANON, Franz. Los condenados de la tierra. Mxico: Fondo de Cultura Econmica, 1983.
FORD, Clyde W. O heri com rosto africano: mitos da frica. So Paulo: Summus, 1999.
GONALVES, Beatriz, SILVA, Petronilha Beatriz. Pode a educao prevenir contra o
racismo e a intolerncia? In SABIA, Gilberto Vergne (Org). Anais de Seminrios
Regionais Preparatrios para Conferncia Mundial contra o racismo, discriminao
racial, xenofobia e intolerncia correlata. Braslia: Ministrio da Justia, 2001.
JUNQUEIRA, Rogrio Diniz. Expectativas sobre a insero de jovens negros e negras no
mercado de trabalho: reexes preliminares. BRAGA. Maria Lucia (org.) Dimenses da
Incluso no Ensino Mdio: mercado de trabalho, religiosidade e educao quilombola.
Ministrio da Educao, Secretaria de Educao Continuada, Alfabetizao e Diversidade,
Braslia, 2006.
MUNANGA, Kabengele (org.). Superando o racismo na escola. Braslia: 2a edio,
Ministrio da Educao / Secretaria de Ensino Fundamental. 2000.
NASCIMENTO, Abdias (Org.). Teatro Experimental do Negro: Testemunhos. Rio de
Janeiro: GRD, 1966.
NASCIMENTO, Elisa Larkin. O sortilgio da cor: Identidade, raa e gnero no Brasil.
So Paulo: Summus, 2003.
NEGRO, Esmeralda V., PINTO, Regina P. De olho no preconceito: um guia para
professores sobre racismo em livros para crianas. So Paulo, Fundao Carlos Chagas,
1990.
OLIVEIRA, Eduardo. Cosmoviso Africana no Brasil: elementos para uma filosofia
afrodescendente. Fortaleza: LCR, Ibeca, 2003.
OLIVEIRA, Rachel de. Tramas da cor. Enfrentando o preconceito no dia-a-dia escolar.
So Paulo: Selo Negro, 2005.
PRANDI, Reginaldo. Herdeiras do ax: sociologia das religies afro-brasileiras. So
Paulo: Hucitec, 1996.
PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixs. So Paulo: Companhia das Letras, 2001.
FERNADES, A.O., FERREIRA, K.C.S. ESTUDOS DE MITOLOGIA AFRO-BRASILEIRA...
Revista Anagrama: Revista Cientfica Interdisciplinar da Graduao
Ano 3 - Edio 1 Setembro-Novembro de 2009
Avenida Professor Lcio Martins Rodrigues, 443, Cidade Universitria, So Paulo, CEP: 05508-900
anagrama@usp.br
11
PROENA FILHO, Domcio. A trajetria do negro na literatura brasileira. Estud. av., So
Paulo, v. 18, n. 50, 2004. Disponvel em: <http://www.scielo.br/sci elo.
php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142004000100017&lng=&nrm=iso>. Acesso em:
22 2008. doi: 10.1590/S0103-40142004000100017.
SLMI, Skr. Cnticos dos orixs na frica. So Paulo: Oduduwa, 1991.
SANTANA, Marise de. O Legado Africano e o Trabalho Docente. Boletim 2006 Salto
para o Futuro, v. 20, p. 38-50, 2006.
SANTOS, Deoscredes M. dos. Contos crioulos da Bahia. Petrpolis, RJ: Vozes, 1976.
SANTOS, Deoscredes M. dos. Por que Oxal usa ekodid. Rio de Janeiro, Pallas, 1997.
SANTOS, Ivanildes Moura dos. Azire: a princezinha de Aruanda. Vitria da Conquista,
BA: Universidade Estadual do Sudoeste Baiano, UESB, 2006.
SECAD. Orientaes e aes para a educao das relaes tnico-raciais. Braslia: Secad,
2006.
SILVA, Ana Clia da. Discriminao do negro no livro didtico. Salvador, Editora CEAO,
1995.
SILVA, Anazildo Vasconcelos da, RAMALHO, Christina. Histria da epopia brasileira:
teoria, crtica e percurso. Rio de Janeiro: Garamond, 2007.
VALLADO, A., Iemanj. A grande me africana no Brasil. Rio de Janeiro, Pallas, 2002.
VERGER, Pierre. Artigos. So Paulo: Corrupio, 1992.
Você também pode gostar
- Ebook - Como Ser Um Obreiro AprovadoDocumento38 páginasEbook - Como Ser Um Obreiro AprovadoFrankson Lima100% (1)
- Atração Do AmorDocumento101 páginasAtração Do Amormariajane100% (5)
- BARÁ-vários TrabalhosDocumento22 páginasBARÁ-vários Trabalhosmariajane67% (3)
- Deusa SekhmetDocumento8 páginasDeusa SekhmetmariajaneAinda não há avaliações
- Linhas LeyDocumento5 páginasLinhas LeymariajaneAinda não há avaliações
- O Poderoso Pó de CorredeiraDocumento3 páginasO Poderoso Pó de CorredeiramariajaneAinda não há avaliações
- Le MulgetonDocumento2 páginasLe Mulgetonmariajane100% (2)
- Exu CalungaDocumento12 páginasExu Calungamariajane100% (1)
- Maia - Deusa GregaDocumento1 páginaMaia - Deusa GregamariajaneAinda não há avaliações
- Data ApresentacaoDocumento5 páginasData ApresentacaomariajaneAinda não há avaliações
- Lenda Da KiandaDocumento2 páginasLenda Da KiandamariajaneAinda não há avaliações
- Comer ArgilaDocumento8 páginasComer ArgilamariajaneAinda não há avaliações
- 001 ProjetopedagógicoDocumento77 páginas001 Projetopedagógicomariajane100% (2)
- Apometria São PauloDocumento3 páginasApometria São PaulomariajaneAinda não há avaliações
- ENERGIAS E CURAS A Umbanda em PortugalDocumento22 páginasENERGIAS E CURAS A Umbanda em PortugalmariajaneAinda não há avaliações
- Animais Herbívoros e CarnívorosDocumento3 páginasAnimais Herbívoros e CarnívorosmariajaneAinda não há avaliações
- Órgão Oficial Do Município - Uberaba, 28 de Fevereiro de 2024 Ano 29Documento53 páginasÓrgão Oficial Do Município - Uberaba, 28 de Fevereiro de 2024 Ano 29renatoAinda não há avaliações
- 13 de NOV Relatório de Atividades Do Facilitador UNIVESPDocumento2 páginas13 de NOV Relatório de Atividades Do Facilitador UNIVESPAdriel Torres De Queiroz FerreiraAinda não há avaliações
- EDITAL 34 2023 1 Tecnologias para EP Florianopolis ContinenteDocumento10 páginasEDITAL 34 2023 1 Tecnologias para EP Florianopolis ContinenteCamila ReisAinda não há avaliações
- A Importancia Na Musica No Processo de ApredizagemDocumento14 páginasA Importancia Na Musica No Processo de ApredizagemClinica Crescer MEAinda não há avaliações
- ATIVIDADES Educação InfantilDocumento15 páginasATIVIDADES Educação InfantilViviane PimentelAinda não há avaliações
- Técnico em Agronegócio SubsequenteDocumento25 páginasTécnico em Agronegócio SubsequenteDouglas GomesAinda não há avaliações
- Como Aplicar A Personalização Do Ensino - Khan Academy BlogDocumento6 páginasComo Aplicar A Personalização Do Ensino - Khan Academy BlogJosé Flávio da PazAinda não há avaliações
- Os Cinco Desafios Dos Profissionais RVCCDocumento4 páginasOs Cinco Desafios Dos Profissionais RVCCanon-897609Ainda não há avaliações
- 2020 - Elizabeth Vicente Monteiro Dos SantosDocumento309 páginas2020 - Elizabeth Vicente Monteiro Dos SantosRafaelli AvilaAinda não há avaliações
- MARIANO, A.S Ensaios Da Escola Do Trabalho No Contexto Do MSTDocumento255 páginasMARIANO, A.S Ensaios Da Escola Do Trabalho No Contexto Do MSTJoão CamposAinda não há avaliações
- Gestão de Pessoas - QuestõesDocumento26 páginasGestão de Pessoas - QuestõesMarcelo ViannaAinda não há avaliações
- EDITAL DE RETIFICAÇÃO #017-2024 Prof. Substituto 2024-1 FINALDocumento2 páginasEDITAL DE RETIFICAÇÃO #017-2024 Prof. Substituto 2024-1 FINALAna Paula Evangelista da CostaAinda não há avaliações
- Bobonaro em Numeros 20161Documento68 páginasBobonaro em Numeros 20161Metodio Caetano MonizAinda não há avaliações
- 26-Princípios e Métodos em Gestão Educacional, Administração e SupervisãoDocumento39 páginas26-Princípios e Métodos em Gestão Educacional, Administração e Supervisãogiselesilvar23Ainda não há avaliações
- Estagio Integrado Docente-1Documento12 páginasEstagio Integrado Docente-1Abilio Juma SalimoAinda não há avaliações
- Investigar, Ensinar e AprenderDocumento4 páginasInvestigar, Ensinar e AprenderArtur Do ValAinda não há avaliações
- E-Book - COMO SER UM PERSONAL TRAINER DE SUCESSO2021-1Documento39 páginasE-Book - COMO SER UM PERSONAL TRAINER DE SUCESSO2021-1reidantas94Ainda não há avaliações
- Base Nacional Comum Curricular (BNCC)Documento9 páginasBase Nacional Comum Curricular (BNCC)Thamyres HerdiAinda não há avaliações
- Nossa Voga - 2020Documento96 páginasNossa Voga - 2020alexvargasfnopart01Ainda não há avaliações
- PFAP - Atendente de PetshopDocumento4 páginasPFAP - Atendente de PetshopAnderson PlácidoAinda não há avaliações
- 001 - Tecnologias e Novas Tecnologias Na Educaã Ã oDocumento25 páginas001 - Tecnologias e Novas Tecnologias Na Educaã Ã oFrancisco FrançaAinda não há avaliações
- História Das Ciências e EnsinoDocumento58 páginasHistória Das Ciências e EnsinoJulia Amorim NaturaAinda não há avaliações
- Eaex 2018 - Roda de Conversa - EjimDocumento3 páginasEaex 2018 - Roda de Conversa - EjimMarcos FambomelAinda não há avaliações
- Processo Seletivo Sme Sao Jose Do Rio Preto SP Edital 1 2023Documento52 páginasProcesso Seletivo Sme Sao Jose Do Rio Preto SP Edital 1 2023Mario AthaydeAinda não há avaliações
- Ane Pimentel - Segundo TempoDocumento491 páginasAne Pimentel - Segundo TempoAdriana MoretoAinda não há avaliações
- Aulão de Conhecimentos PedagógicosDocumento1 páginaAulão de Conhecimentos PedagógicosÁdna OliveiraAinda não há avaliações
- CV Andreia Sofia Rodrigues PDFDocumento3 páginasCV Andreia Sofia Rodrigues PDFAndreia Sofia RodriguesAinda não há avaliações
- Nota Tecnica Ioeb 2023Documento45 páginasNota Tecnica Ioeb 2023Jaqueline OliveiraAinda não há avaliações
- Regulamento - EMBRAER Bootcamp Talent HuntingDocumento6 páginasRegulamento - EMBRAER Bootcamp Talent HuntingLiszt.Ainda não há avaliações