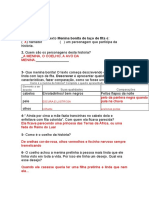Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Polleit Biblio
Polleit Biblio
Enviado por
shecn0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações60 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações60 páginasPolleit Biblio
Polleit Biblio
Enviado por
shecnDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 60
MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA DE EDUCAO BSICA
Diretora de Polticas da Educao Infantil e do Ensino Fundamental
Jeanete Beauchamp
Coordenadora Geral de Estudos e Avaliao de Materiais
Jane Cristina da Silva
Pereira, Andra Kluge
Biblioteca na escola / elaborao Andra Kluge Pereira. Braslia: Ministrio
da Educao, Secretaria de Educao Bsica, 2006.
57 p.
ISBN 85-98171-51-4
1. Biblioteca escolar. 2. Funo da escola. 3. Educao do leitor. 4. Estmulo
leitura. 5. Interesse na leitura I. Brasil. Secretaria de Educao Bsica. II.
Ttulo.
CDU 027.8
028.6
Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)
Ministrio da Educao
Secretaria de Educao Bsica
Biblioteca na Escola
Braslia
2006
MINISTRIO DA EDUCAO
SECRETARIA DE EDUCAO BSICA
Elaborao
Andra Kluge Pereira
Colaborao
Maria Jos Nbrega
Equipe Tcnico-pedaggica
Andra Kluge Pereira
Ceclia Correia Lima
Elizngela Carvalho dos Santos
Ingrid Llian Fuhr Raad
Jane Cristina da Silva
Jos Ricardo Alberns Lima
Maria Jos Marques Bento
Tayana de Alencar Tormena
Equipe de Informtica
leny de Abreu Amarante
Leandro Pereira de Oliveira
Foto
Luiz Dantas
Projeto Grfico, Editorao e Reviso
Sygma Comunicao e Edio
Departamento de Polticas de Educao Infantil e Ensino Fundamental
Coordenao-Geral de Estudos e Avaliao de Materiais
Esplanada dos Ministrios, Bloco L, sala 612
Braslia - DF
CEP: 70.047-900
Telefone: (61) 2104-8636
comdipe.seb@mec.gov.br
Sumrio
A formao de leitores autnomos
1 . O espao de leitura
2. As vrias possibilidades da leitura
7
9
19
3. A apropriao do texto escrito 23
4. Ampliando as leituras algumas possibilidades 27
5. O que pode fazer a escola 45
6. Conhecendo um pouco mais 47
Bibliografia 57
A formao de
leitores autnomos
Este documento tem por objetivo discutir com professores e mediadores
de leitura o papel da escola na formao de leitores competentes. Nele,
apontamos questes como a formao da biblioteca escolar, a leitura de
diferentes gneros de texto, as diferentes formas de leitura, entre outras.
Apresentamos algumas sugestes de trabalho e tambm de obras que
podero auxili-los na tarefa de apoiar os alunos para que transformem
suas leituras em instrumento de formao, de construo de
conhecimentos e participao na sociedade letrada.
A formao de leitores autnomos envolve uma srie de habilidades e
competncias que devem ser desenvolvidas ao longo dos anos na e pela
escola. Ler apreciar, inferir, antecipar, concluir, concordar, discordar,
perceber as diferentes possibilidades de uma mesma leitura,
estabelecer relaes entre diferentes experincias inclusive de leitura.
Por tudo isso, ler , antes de tudo, um direito. papel da escola e do
professor proporcionar aos alunos todas as oportunidades de acesso s
prticas sociais que se realizam, principalmente, por meio do texto
escrito. Por isso estamos fazendo chegar escola este texto, e esperamos
que ele seja um passo para o desenvolvimento de aes efetivas de
leitura no ambiente escolar.
9
1. O espao de leitura
ideal que a escola tenha um local destinado ao armazenamento de
livros e de outros suportes impressos que permita aos alunos vivenciar
a experincia da leitura em um espao privilegiado como a biblioteca
ou a sala de leitura. importante prever esse espao no momento da construo
ou reforma dos estabelecimentos de ensino. Uma biblioteca bem organizada,
especialmente construda ou reformada para acolher livros e seus leitores ,
com certeza, o primeiro estmulo para a leitura. Isso, no entanto, nem sempre
possvel. Mas existe a possibilidade de se fazer adaptaes e encontrar solues
criativas de forma a oferecer a alunos, professores e comunidade escolar um
lugar agradvel e prtico para a leitura e guarda organizada de livros e peridicos.
Se sua escola no dispe de uma biblioteca ou de uma sala de leitura, vamos
dar algumas dicas para ajud-lo a encontrar alternativas.
Procure identificar, na escola, um local que tenha as seguintes caractersticas:
O O
O OO
1. seja seco e arejado, para evitar danificar as obras;
2. seja bem iluminado. Paredes e teto claros facilitam a
difuso da luz. Sempre que possvel, mantenha portas e
janelas abertas. Utilize a iluminao natural, desde que
os raios solares no atinjam os livros diretamente.
10
Se no for possvel um espao exclusivo para a biblioteca, mas houver uma sala
maior, talvez seja apropriado dividi-la com estantes; nesse caso, ser preciso
contar com o silncio do outro lado da sala tambm.
possvel pensar em uma organizao na qual livros e leitores ocupem espaos
distintos. Isso pode dar um pouco de trabalho, mas vale a pena. Procure um
lugar onde seja possvel acondicionar as obras, de preferncia com espao para
os leitores transitarem. Em outra sala, coloque mesas, cadeiras, almofadas,
bancos, para que os leitores possam ler acomodados. Se tambm no houver um
local fechado, e se os livros estiverem em outro espao, voc pode criar um
ambiente agradvel leitura ao ar livre, como o ptio da escola, ou, ainda, uma
varanda.
J se a opo for a sala de aula, ela pode receber estantes, caixas de madeira ou
papelo forradas, ou at mesmo umas sapateiras daquelas utilizadas nas aulas
de Matemtica estratgicamente dispostas em um canto agradvel da sala.
Localizado o espao, hora de pensar em organiz-lo. Como o objetivo que
os visitantes alunos, professores, pais, comunidade tenham acesso s obras,
necessrio exp-las de forma organizada e ao mesmo tempo prtica.
O primeiro contato com o livro visual, por isso, procure deixar um bom nmero
de obras dispostas com a capa voltada para frente, de forma a despertar a
curiosidade dos leitores.
As estantes podem ser de alumnio, de madeira, improvisadas com cordas e
madeira ou, ainda, com tijolos. Algumas providncias, no entanto, so
importantes:
11
1) as estantes devem ficar longe de portas e janelas, para
evitar chuva, sol, vento;
2) elas devem ser abertas - vazadas - para garantir a
ventilao;
3) devem ficar a, pelo menos, 30 centmetros do cho,
para evitar umidade, garantir a ventilao e facilitar a
limpeza do piso;
4) importante que a altura das prateleiras destinadas
aos livros infantis seja proporcional altura dos alunos,
facilitando o acesso;
5) se for possvel, mantenha as estantes longe das
paredes, para evitar mofo e umidade.
6) para garantir a participao e empenho de todos,
organize com os alunos as regras para o uso do espao
para leitura, inclusive quanto retirada de livros das
estantes.
Agora a vez de preparar o espao para a leitura. importante que leitores de
diferentes idades, com interesses distintos e que procuram a leitura por motivos
diversos, se sintam recepcionados. Como os motivos que levam o leitor a
procurar uma biblioteca ou espao de leitura diferem, este local deve contar
com cadeiras e mesas para estudo individual, mesas redondas para estudo em
grupo e tambm um local para aqueles que querem apreciar um bom livro.
12
comum a utilizao de almofadas, pequenos sofs, tapetes ou esteiras, de forma
a proporcionar conforto ao leitor em um momento de lazer.
A organizao do espao para a leitura
importante para que os leitores se sintam
acolhidos. Uma sugesto que funciona
muito bem separar um pequeno quadro
de avisos (ou quadro negro) para que os
leitores deixem seus recados ou suas
impresses sobre as obras, como
indicaes de leitura e at mesmo
crticas. Essa prtica proporciona a
interao entre os leitores e incentiva a
leitura crtica e participativa.
importante que a pessoa responsvel pelo espao estimule e oriente a organizao
deste quadro, para que as informaes sejam teis e variadas.
Vamos, ento, composio e organizao do acervo. Ele deve ser o mais
diversificado possvel, para contemplar os mais diferentes interesses, gostos,
motivaes. Assim, quanto maior for a diversidade de ttulos disponveis no
acervo, maior a probabilidade de ampliao do universo de referncias do leitor.
Alm de livros e revistas, procure incluir outros suportes como DVD, CD,
psteres, cartazes, fotografias, reprodues de obras de arte.
Na maioria das vezes, no ser possvel ter um acervo to completo como o que
sugerimos a seguir, mas o importante comear devagar e, aos poucos, ir
adquirindo - por compra, troca ou doao - obras, mveis e equipamentos.
Como nossa base ainda o texto escrito, em especial o livro, vamos nos deter
Espao de Leitura
13
1) obras de referncia - enciclopdias, dicionrios, atlas,
gramticas, catlogos;
2) peridicos - jornais e revistas (de informao geral,
tcnicas, histrias em quadrinhos, especializadas, de
divulgao cientfica);
3) documentrios - ensaios, biografias e autobiografias,
relatos de viagem, livros de arte, culinria, variedades,
paradidticos;
4) outras colees obras tericas de apoio ao professor,
fotografias, mapas, reprodues de obras de arte, cartes
postais;
5) obras de fico - contos, poesias, romances, textos de
tradio popular, teatro, livros de narrativas por imagens.
Cada grupo de obras deve ser identificado por uma cor, para facilitar a localizao
por parte dos leitores e para auxiliar na hora de recolocar os livros nas estantes.
Depois, preciso catalogar os ttulos, isto , fazer uma relao de todos os
exemplares disponveis e dar um nmero a cada um chamado nmero de tombo.
Isso poder ser feito por meio de um arquivo no computador, por meio de fichas
na organizao desse tipo de obra. preciso organizar os volumes para facilitar
o emprstimo e o controle da devoluo. Isso no difcil. Basta comear a
separao por tipos de obras. Nossa sugesto que sejam, em mdia, cinco
tipos:
14
para as obras de fico, de referncia, documentrios,
obras tericas: o ttulo da obra, autor(es), editora e o
nmero de tombo;
para os peridicos: nome da publicao, ano/ms de
referncia e n da edio, alm do nmero de tombo;
para outras obras, como fotografias, mapas, reprodues
de obras de arte, cartes postais: ttulo do trabalho, nome
do autor, ano de publicao se houver e nmero de
tombo.
Essas fichas, ou as informaes do caderno, devem estar organizadas de tal
forma que permitam ao usurio/leitor e ao responsvel pelo espao localizar os
livros disponveis. Por isso, sugerimos que os ttulos sejam agrupados lembrar
que para cada grupo voc atribuiu uma cor - e, dentro de cada grupo, sejam
organizados pelo ltimo sobrenome do autor ou ordem de tombo, por exemplo:
ANDRADE, Carlos Drummond de.
Como j dissemos, essas fichas ou caderno de registro devem facilitar a
localizao dos ttulos disponveis e, portanto, devem ser colocadas em local
de fcil acesso, para que os leitores possam realizar as consultas sempre que
necessrio.
Pronto o registro, chega o momento de identificar cada uma das obras como
pertencentes escola. Para isso, escreva na primeira pgina ou folha de rosto
ou do registro em um caderno especfico. Nessas fichas, ou no caderno, devero
constar:
15
- o nmero de tombo e o nome da escola qual o livro pertence.
Agora, vamos preparar a obra para emprstimo: em primeiro lugar, ser
necessrio confeccionar novas fichas como no modelo a seguir que devero
ser colocadas na terceira capa, quer dizer, na parte interna da ltima capa das
obras. Voc dever colar um envelope dentro do qual ir colocar essa ficha de
emprstimo. O objetivo dessa segunda ficha controlar a entrada e sada das
obras. Ela poder registrar as seguintes informaes:
Nome da escola ou da biblioteca/ sala de leitura
Ttulo da obra:
Nome do autor:
Nmero do tombo:
Nome do usurio Data da retirada Data da devoluo
16
Para cada emprstimo, dever ser registrado o nome do usurio, a data em que a
obra foi emprestada e a data de devoluo. Aps o registro, a ficha retirada do
envelope e guardada em um fichrio especfico para controle das obras que
esto emprestadas. Assim, fcil saber quem est com determinado ttulo, quando
foi retirado e em que data dever ser devolvido. Tambm possvel acompanhar
os casos de atraso e saber se uma obra est disponvel no acervo.
Aps a devoluo da obra, a ficha dever ser recolocada no envelope, para a
prxima retirada.
Pronto! Agora a hora de chamar os leitores!!!!!!!!!!
Se o espao da leitura ainda no foi usado, hora de inaugur-lo. Convide os
alunos, pais, irmos, amigos para conhecer a biblioteca ou espao de leitura e
faa uma grande confraternizao. Promova uma visita monitorada, como uma
pequena excurso, e v mostrando tudo o que esse espao tem a oferecer: as
obras, os espaos, as regras... Pea sugestes, incentive a participao da
comunidade.
Se voc ou outros professores da escola puderem, ser interessante fazer uma
surpresa: prepare a apresentao de um poema ou a leitura de um conto, ou,
ainda, a encenao de uma pea teatral - obras desses gneros foram
disponibilizadas pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola. muito
interessante, tambm, incluir depoimentos de leitores diretor, professores,
pais - sobre suas experincias com os livros. Esses leitores podero sugerir a
leitura de algumas obras e explicar porque as indicam. Se houver a possibilidade
de contar com um autor ou ilustrador da cidade, a ento.... o entusiasmo
garantido!
17
Como fazer uma visita monitorada? Essa visita pode ser feita em grupos: cada
grupo ter um orientador, que pode ser um professor ou, melhor ainda, um aluno.
Esses orientadores escolhem uma obra para apresentar ao grupo e buscam
associ-la a outras pela aproximao com a temtica ou o gnero, por exemplo.
Os orientadores podem falar sobre as impresses que a obra causou, sobre outros
ttulos que se contrapem ao ponto de vista do autor claro que os orientadores
devem ter lido a obra e estimular a participao do grupo. Tambm podem ser
explorados aspectos como forma do volume, suas cores, texturas, tipos de letras,
o tratamento visual dado capa, contracapa e ao miolo dos livros, as ilustraes
da capa e do interior, os ndices e a quantidade de pginas, enfim... esse um
passeio que no se esgota to facilmente.
Tambm nesse passeio, interessante criar momentos para manuseio dos livros
e leitura individual ou em pequenos grupos. D tempo para que os visitantes
tenham um contato maior com as obras: leiam, observem, escolham, comparem,
troquem opinies. Assim possvel conhecer melhor o que est disponvel.
Organizar um sarau literrio pode ser uma outra boa forma de apresentar o espao
de leitura e as obras para os alunos e seus familiares. Procure organizar o evento
com antecedncia. Proponha a participao de todos: pais, alunos, professores.
Cada um escolhe com antecedncia um texto para ler ou declamar em
pblico, sem outro compromisso alm da integrao por meio de bons textos.
19
2. As vrias
possibilidades da leitura
oc j percebeu a quantidade de informaes disponveis em um jornal?
A cada dia so veiculadas notcias, reportagens, entrevistas, sem falar
dos editoriais, crnicas, contos, poesias, receitas, palavras cruzadas,
horscopo, anncios classificados. Da mesma forma, as revistas peridicas
trazem informaes diversificadas, receitas de diferentes tipos e para todas as
finalidades, passatempos, entrevistas com astros do momento. Outras
publicaes peridicas aproximam o leitor do universo cientfico, trazem
informaes sobre culturas distantes, sobre msica e tantas outras coisas... E j
pensou em como gostoso ler uma histria em quadrinhos, sem compromisso,
s pelo prazer de estar ali, envolvido com uma historinha agradvel?
Esses suportes de texto, ou seja, materiais em que os textos so transmitidos,
que muitas vezes trazem apenas informaes ligeiras, passageiras, ou histrias
curtas, divertidas, so muito importantes quando se pretende inserir o aluno na
sociedade leitora. Afinal, esses veculos so aqueles que circulam com maior
freqncia entre todas as camadas da populao e devem ser considerados como
objetos de leitura por excelncia.
J a leitura de textos literrios envolve ainda mais elementos, como o trabalho
ou a brincadeira com a linguagem tanto na prosa como na poesia -, o estilo, as
infinitas temticas. O texto aqui, j no s informativo, no tem como objetivo
V V
V VV
20
apenas a busca pela informao, mas a busca por diferentes leituras, em funo
das experincias estticas e da viso de mundo do leitor. A leitura de fico
subjetiva. So inverses, metforas, ambigidades, ritmos, rimas, associaes
de idias, narrativas envolventes, enfim, estratgias que tm como objetivo
instigar, provocar, maravilhar, enredar - e por a vai - o leitor (vale lembrar dos
estudos sobre a relao entre literatura infantil e a formao da criana). A
literatura o lugar da arte, da criao, da inventividade; um trabalho artstico
com a linguagem e com as idias.
Algumas obras foram produzidas para serem contempladas visualmente, para
proporcionar a contemplao esttica visual: o caso das fotografias e das
reprodues de obras de arte. Com elas voc poder explorar a percepo visual,
a relao entre texto e imagem ou poder simplesmente, agradar o olhar.
preciso lembrar tambm daquelas obras que nos socorrem nos momentos de
dvida: so as enciclopdias, os dicionrios, as gramticas. O acesso a esse tipo
de obra importante e necessrio; afinal, a esses materiais que recorremos
sempre que precisamos de alguma informao complementar como o
significado ou a regncia de determinada palavra, o perfil de uma personalidade
histrica, entre outras. Embora a funo desses textos seja diferente, preciso
ter intimidade para aproveitar melhor as informaes que nos so
disponibilizadas.
A leitura nem sempre apenas prazer. Na verdade, na maioria das vezes, lemos
por necessidade. Porque, por exemplo, precisamos utilizar um equipamento ou
fazer um novo prato com base em uma receita; queremos saber das ltimas
notcias; precisamos estar atualizados em nossa rea do conhecimento;
precisamos obter certa informao em um determinado momento; precisamos
21
estudar para uma prova ou concurso ou precisamos conferir um texto que
escrevemos, entre inmeros outros motivos. Nesses casos, o prazer decorre da
consecuo do objetivo que motivou a leitura.
O professor que pretende levar seus alunos proficincia leitora precisa
empenhar-se em fornecer variadas oportunidades, quer dizer, provocar situaes
diversas, em que a leitura se faa necessria por diferentes e reais - motivos.
Para cada tipo de leitura por prazer, para estudar, para buscar uma informao
rpida ou para saber o que ocorre no mundo utilizamos determinadas
estratgias. So estratgias que variam de um leitor para outro ou mesmo de um
objetivo para outro: para obtermos o sinnimo em um dicionrio ou para ler um
poema utilizamos estratgias diferentes. Tambm dois leitores podem buscar a
mesma informao em um mesmo texto e, para isso, utilizarem estratgias
bastante distintas. A habilidade para transitar com competncia entre os inmeros
tipos de textos e para buscar as informaes de que se necessita adquirida
com a prtica e com a orientao do professor. preciso auxiliar os alunos a
perceber que h vrios tipos de leitura, cada um com seus objetivos e suas
estratgias especficas. Para isso, o professor deve estar atento, promovendo o
constante questionamento e propondo desafios que estimulem o reconhecimento
e desenvolvimento dessas estratgias.
Mas ateno: se a proposta inserir o aluno na cultura letrada, indispensvel
dar a ele condies de buscar na leitura aquilo de que necessita - seja por fruio,
seja por necessidade ou por um interesse pontual. Para lidar com desenvoltura
com todos os gneros de texto preciso evitar preconceitos: todo texto pode
abrir um leque de opes, e , de alguma forma, um instrumento que poder
contribuir para a construo do conhecimento do leitor. muito importante
que o aluno confie na pessoa que est orientando sua leitura ou conduzindo sua
22
escolha por um texto. Por isso, busque o dilogo, instigue, pergunte, questione
e, acima de tudo, valorize as escolhas e leituras dos alunos. Procure descobrir e
conhecer quais so as opes de leitura das pessoas da comunidade. Quanto
mais informaes voc tiver sobre as prticas leitoras do meio em que seus
alunos esto inseridos, maiores sero as chances de proporcionar a ampliao
dos referenciais estticos e ticos desses leitores. Vale repetir que o mais
importante a leitura acrescentar novas vises de mundo, novas experincias e
informaes bagagem do leitor. O objetivo da leitura na escola fazer com
que os alunos compreendam um texto escrito e possam optar, de forma
consciente, por um ou outro texto, em funo de seus prprios interesses.
23
3. A apropriao
do texto escrito
onsideramos mediador(es) da leitura aquela(s) pessoa(s) que se
interpe(m) entre o leitor e o texto. Colocamos a possibilidade de
mediadores plurais porque a mediao entre um leitor e um texto pode
ocorrer em vrios momentos. Na maioria das vezes, o que se imagina que o
professor, em sala de aula, apresenta um texto ou livro aos alunos, prope a
leitura e discute as variadas interpretaes ou impresses que aquela obra
suscitou. Mas pode-se imaginar uma situao em que todos os alunos discutem,
debatem, trocam impresses e leituras entre si. Nesse caso, ser que todos
esses alunos no atuam como mediadores entre si? Outra situao que se pode
pensar aquela em que, alm da obra, apresenta-se ao aluno uma resenha ou
resumo comentado dessa obra. E a, ser que o autor da resenha, juntamente
com o professor que a apresentou, no um mediador? E o prprio texto, no
ser ele um mediador entre o leitor e o conhecimento que se apresenta?
Mediar origina-se do latim mediare, do adjetivo mdius que est no meio ou
entre dois pontos. Assim, a mediao vem a ser a juno, a aproximao entre
duas partes, como uma ponte. Mas mediar no o mesmo que facilitar.
Podemos considerar que mediar a leitura significa intervir para aproximar. Os
mediadores de leitura instigam, provocam, estimulam o aluno no processo de
apropriao do texto; procuram incentivar o estabelecimento de relaes entre
C C
C CC
24
as idias que se apresentam e as experincias do leitor/aluno e buscam
alternativas para que a leitura possa ganhar novas dimenses.
O papel do professor vai alm da mediao. Assim como em todas as outras
disciplinas nas quais o professor busca estratgias, planeja e organiza seus
conhecimentos para promover a aproximao dos alunos de um determinado
campo do conhecimento, com a leitura no diferente. preciso planejar, buscar
novas e diferentes estratgias para aproximar o leitor do texto e, dessa forma,
auxiliar os alunos no desenvolvimento de competncias e habilidades de leitura.
Desde os primeiros contatos com a leitura, preciso descobrir caminhos que
levem apropriao do texto, para que o leitor possa dar sentido, forma,
consistncia quele contedo.
O leitor proficiente e autnomo antecipa o texto, infere informaes ou aes
que no esto ditas, percebe e valida ou no - a posio do(s) autor(es) com
base em informaes colhidas em outros textos ou outras fontes de informao
e, muitas vezes, reformula suas prprias concepes a partir das leituras. Para
chegar a todas essas habilidades, este leitor testou hipteses, comparou e juntou
informaes, refletiu sobre o que leu, descartou muitos textos, buscou outros,
ouviu opinies de outras pessoas, resgatou suas memrias e suas experincias
de leitura e de vida. esse, ento, o papel do professor: buscar muitas formas
de levar a leitura para alm texto e de induzir a reflexo e o debate para alm da
superfcie do texto.
Em suma, todas essas habilidades so construdas com base na leitura, na
reflexo, no debate, na mediao, na re-elaborao. Assim como so muitas as
possibilidades da leitura, tambm so inmeras as possibilidades de trabalho
com/para a leitura em sala de aula e fora dela. claro que no pretendemos dar
25
receitas ou garantir que essa ou aquela alternativa seja infalvel, mas
apresentamos, a seguir, uma srie de propostas de trabalho com os diferentes
tipos de textos. So apenas algumas propostas para que voc discuta, aperfeioe,
recrie, amplie.
27
4. Ampliando as leituras-
algumas possibilidades
C C
C CC
Obras de referncia
omo j dissemos, as obras de referncia so aquelas que tm a funo
de fornecer informaes pontuais: dicionrios, gramticas,
enciclopdias, mapas.... So obras que devem estar sempre mo para
consultas. Como seu uso demanda uma certa habilidade, quanto mais intimidade
com elas, melhor. preciso saber o que e em que tipo de obra procurar, saber
como consultar; depois, localizar e, finalmente, selecionar, dentre as
possibilidades, aquela informao que se adapta ao contexto e necessidade do
momento. Para adquirir essa destreza toda, os alunos podem explorar essas
obras de vrias maneiras. Inicialmente, sugerimos que o professor procure gerar
situaes em que elas sejam necessrias, como localizar uma rua ou bairro no
mapa da cidade, apresentar aos colegas fatos histricos ou personalidades
importantes da histria local, buscar o significado de uma palavra desconhecida
ou brincar com os diferentes significados de um mesmo vocbulo. No caso dos
dicionrios, o volume intitulado Dicionrios em sala de aula traz uma gama
variada de atividades para a explorao dessas obras.
medida que os alunos forem adquirindo confiana, ser possvel instig-los
em buscas cada vez mais complexas e sugerir pesquisas mais elaboradas, que
demandem a consulta a diferentes obras de referncia.
28
A partir de uma notcia retirada de jornal, revista ou na internet sobre um estado
ou pas distante possvel explorar diferentes obras. Voc pode, por exemplo,
pedir que os alunos:
(i) descubram onde ficam esses lugares;
(ii) pesquisem informaes como moeda do pas, lngua
oficial, nmero de habitantes, nome da capital e seu
significado;
(iii) apresentem a biografia de uma personalidade
histrica importante.
Alguns temas so particularmente interessantes para
motivar uma busca em enciclopdias, dicionrios,
almanaques, mapas e/ou atlas: acontecimentos atuais,
fatos curiosos do cotidiano, filmes em cartaz, futebol,
artistas ou bandas de msica do momento. Como se pode
ver, todos os temas pelos quais os alunos estejam
interessados podem ser enriquecidos com a consulta a
uma ou mais obras de referncia.
Documentrios
Que tal conhecer melhor a vida de personalidades que fizeram parte da nossa
histria? Ou elaborar uma receita nova? Ou, ainda, saber mais sobre aquelas
plantas que nascem no fundo da escola? Dependendo das obras disponveis,
possvel instigar os alunos a conhecer fatos, pessoas ou lugares novos, refletir
29
sobre determinado tema, ou mesmo estimular a curiosidade por meio da leitura
desse tipo de texto.
Relatos de viagem costumam agradar. Afinal, quem no gosta de conhecer
lugares bonitos e aventuras interessantes? Algumas obras trazem, alm dos
textos, fotografias muito bem produzidas, que podem gerar novas leituras. Os
relatos de viagem em forma de dirios ou cartas costumam ter uma linguagem
gil e empolgante, capaz de provocar a curiosidade dos leitores, levando-os a
buscar novas informaes em fontes diversificadas. Cabe ao professor aproveitar
as oportunidades para ampliar as referncias culturais dos alunos. Procure, em
agncias de viagens, folhetos sobre turismo e utilize esse material para motivar
a leitura desse tipo de obra. Aproveite para produzir cartes postais dessas
regies.
Outra idia: motive seus alunos a inventar, tambm, suas prprias viagens.
Para isso, eles podero pesquisar sobre vrios lugares e criar, assim, uma
cidade ou pas para conhecer. Depois, eles podero apresentar aos colegas
suas aventuras pelos locais visitados.
J a biografia uma forma de conhecer mais detalhadamente a vida de
personalidades que fizeram ou fazem parte de nossa histria. Atualmente, h
biografias bastante acessveis ao pblico mais jovem. Uma boa forma de
introduzir os alunos nesse gnero escolher algum conhecido e comear a
contar a histria oralmente. Depois, quando a curiosidade aumentar, apresente
a obra e provoque a leitura.
Voc poder, tambm, propor a produo de uma biografia. Primeiro,
discuta com os alunos quem ser a personalidade; depois, oriente-os a buscar
30
o maior nmero de informaes possveis sobre o biografado - para isso,
valem todas as fontes, inclusive revistas de fofocas; o terceiro passo
selecionar as informaes e organiz-las; finalmente, a criatividade vai
funcionar: os dados podem virar livro, cartaz, mural ou o que mais a imaginao
mandar.
Se a idia parecer interessante, voc poder propor que os prprios alunos sejam
os biografados. Essa atividade pode servir tambm para aproximar o grupo.
Promova um sorteio em que cada aluno ir biografar um colega. Para facilitar,
oriente o trabalho por meio de um pequeno questionrio que servir de roteiro
para a pesquisa. Como concluso, organize uma apresentao para socializar os
resultados.
Peridicos
Revistas e jornais so um timo auxlio quando se pretende instalar o debate
entre os alunos. Se for possvel, procure ter exemplares de diversos jornais e
revistas, proponha um confronto entre os pontos de vista e veja como uma
mesma notcia pode ser veiculada de formas diferentes, levando o leitor a
diferentes interpretaes. A anlise do tratamento diferenciado de notcias
um bom comeo para conduzir os alunos a uma leitura crtica. Diferentemente
da literatura, o texto informativo deve ter compromisso com a verdade e, por
isso, preciso refletir com cuidado sobre as informaes veiculadas.
Provoque seus alunos, leve-os a tirar concluses, a debater, a refletir e
criticar as informaes que esto recebendo.
Procure, tambm, lev-los a conhecer melhor a estrutura de um jornal ou
31
revista. Para isso, proponha um levantamento dos aspectos fsicos - qual o
formato, quantas sees, quais so elas, qual o nome da publicao, quantas
pginas, periodicidade etc. - e editoriais - qual o objetivo, para quem est
dirigido, qual a linha editorial, quais as manchetes ou notcias em destaque,
entre outros aspectos. Se for possvel, agende um passeio em alguma editora
da cidade. Essas visitam costumam render bons frutos.
Quanto s histrias em quadrinhos... Nem preciso falar! Alm de divertir, elas
podem ser um timo instrumento em sala de aula. Por ser um material de fcil
acesso e aceitao pelos jovens e crianas, os quadrinhos costumam ser bastante
utilizados como fonte de leitura e at como incentivo produo de histrias
pelos prprios alunos. possvel ampliar as experincias dos alunos iniciando
pelas histrias em quadrinhos. Explore-as como narrativa ficcional, com
personagens, enredo, cenrios etc. Apenas tome cuidado para no transformar
essa fonte de diverso em um pretexto para o estudo de contedos, o que
muito comum.
Outras colees
Nesse grupo de obras podem ser includas aquelas de contedo terico sobre
a prtica pedaggica e que podem ser um timo apoio para o trabalho em sala de
aula, alm de fomentar a reflexo sobre as formas de educar. A organizao de
uma estante com obras voltadas para a formao dos professores pode ser um
incentivo para se iniciar um grupo de estudos. Converse com os colegas e veja
se possvel encontrar um local de fcil acesso a todos os professores. De
preferncia, que esse local disponha de espao para a reunio do grupo de
docentes. Assim, ser possvel trocar informaes, experincias e idias de
forma mais constante, por meio de encontros peridicos para discusso.
32
Tambm nesse conjunto podemos incluir obras produzidas pela prpria
comunidade, como mapas da cidade, folhetos tursticos, informaes gerais
sobre servios, entre outros. Aproveite esse material para aprofundar os
conhecimentos dos leitores sobre o lugar em que vivem ou para propor um
passeio pelos pontos tursticos retratados. Que tal aproveitar e fazer uma pesquisa
com os alunos em busca de materiais desse tipo?
A explorao das artes visuais uma forma de exerccio do olhar, um jeito
divertido de experimentar outras leituras e modos de ver. Fotografias,
reprodues de obras de arte, cartes postais, gravuras, proporcionam a
ampliao das referncias estticas dos alunos. O pintor gacho Iber Camargo
(1914 1994) disse o seguinte: S a imaginao pode ir mais longe no
mundo do conhecimento. Os poetas e os artistas intuem a verdade. No pinto
o que vejo, mas o que sinto. Ao contrapor diferentes estticas, os indivduos
vislumbram novas possibilidades de interpretao, so re-interpretaes
carregadas de significados de nossa experincia.
Procure apresentar aos alunos diferentes estmulos visuais fotos,
gravuras, pinturas, esculturas - e pea a eles que apontem semelhanas ou
diferenas. Exercite, com eles, a verbalizao das imagens, proponha questes
sobre suas percepes: o que vem, o que sentem, o que ser que motivou a
produo dessa obra, qual a idia do artista? Que tipos de materiais ou recursos
foram utilizados para que o artista obtivesse o efeito desejado? Por meio
dessa conversa, leve-os a perceber que muitas imagens podem comportar
um texto. Essa percepo esttica permite o exerccio da sntese, da anlise
e da crtica, condies indispensveis para a formao intelectual e pessoal.
Outra idia fazer dos alunos interventores da obra de arte: desafie-os a, a
33
partir de uma obra lida ou contemplada -, criar uma nova obra. Assim, voc
poder oferecer uma gravura e solicitar aos alunos que produzam um texto ou
poder fazer o contrrio: pea que os alunos escolham uma obra literria e, a
partir da leitura, expressem suas impresses de leitura por meio de uma outra
linguagem: pode ser foto, gravura, pintura, desenho, escultura etc. Alm da
apropriao do conhecimento cultural, essa proposta ir ampliar as
possibilidades de desenvolvimento do potencial artstico e criativo dos alunos.
H, disponveis na internet, reprodues de arte de artistas plsticos e fotgrafos
reconhecidos, alm de gravuras e imagens muito interessantes. Se a escola ou o
professor puder, vale a pena uma pesquisa em sites de busca e uma visita s
pginas desses artistas. Com certeza, ser possvel encontrar uma variedade
muito grande de material para enriquecer o dia-a-dia em sala de aula.
Obras de fico
Chamamos de fico os textos de literatura propriamente ditos, ou seja, aqueles
em que a fico, a fantasia, o trabalho artstico com a linguagem so a base da
proposta. A narrativa contida nessas obras deve ser interessante, surpreendente
e provocativa. Uma boa histria incita o imaginrio e amplia as possibilidades
de interpretao do mundo, de pensar o outro e a si mesmo. A boa literatura no
tem como finalidade trazer um ensinamento, um comportamento, um contedo
ou um preceito moral. Antes de tudo, sua funo esttica.
1) Textos poticos:
Os textos poticos caracterizam-se pela sonoridade, pelo ritmo, pelo jogo com
as palavras e pelas possibilidades de interpretaes decorrentes da subjetividade
34
do texto. Poemas, parlendas, quadras, trava-lnguas, adivinhas, cantigas, so textos
poticos por excelncia: neles, a linguagem soberana. por meio dela que se
estabelecem os dilogos entre o autor e o leitor, que se evocam imagens e se
criam sentidos.
Uma das caractersticas mais marcantes dos textos poticos a sonoridade.
Vale lembrar que as primeiras experincias das crianas com a poesia so as
cantigas de ninar, sucedidas pelas cantigas de roda. E essa familiaridade com o
ritmo e com as rimas facilita a aproximao entre o leitor e o texto. Para
aproximar os leitores da poesia, procure resgatar essas brincadeiras de repetio
ou rimas to ao gosto dos mais jovens. Sugira, por exemplo, a percepo do
ritmo presente em poemas j conhecidos. Essa atividade pode ser feita com
palmas ou sons provocados por batidas em diferentes partes do corpo ou com
objetos que produzam sons interessantes: latas, garrafas dgua, copos plsticos,
pedaos de madeira.
Proponha ao grupo outra tarefa: escolher um poema para ler em voz alta
e, quem sabe, interpretar, ao estilo de uma leitura expressiva. Chamamos
leitura expressiva aquela em que o texto lido de forma enftica, teatralizada,
mas com o olhar sobre o texto. Essa atividade pode ser feita, inclusive, com
vrios leitores, cada um responsvel por uma parte do poema.
A associao entre som e letra, ou entre o poema e a melodia pode ser uma
forma de refinar a sensibilidade dos alunos. Com um pouco de ateno, possvel
perceber, em textos poticos escritos, que tipo de melodia pode ser encaixada.
interessante mostrar aos alunos que a prpria densidade ou tenso de um poema
o aproxima de um ou outro tipo de melodia, como acontece com as trilhas
sonoras de filmes. Um professor de msica pode ser uma boa parceria nesse
35
trabalho. Proponha aos alunos associar melodias a poemas. Por exemplo:
descubram poemas que combinem mais com o rap, o forr, o pagode etc.
muito comum que um texto potico se torne uma letra musical. Tambm fcil
encontrar letras de msicas que, se apenas lidas, so poemas por excelncia.
Pesquise alguns poemas musicados e os apresente aos alunos como forma de
reforar a relao entre a forma potica e o ritmo.
Voc j deve ter lido ou visto textos poticos em formatos bastante livres em
forma de bichos, plantas, formas geomtricas. que muitos poetas usam esse
jogo entre o contedo e a forma para expressar-se artisticamente. Essa forma
de poesia ideogrfica chamada de poesia concreta. Seu refinamento a poesia
visual, na qual o verso quase ou totalmente inexistente e, em alguns casos, a
prpria palavra dispensvel. Hoje, com os recursos do mundo virtual, est
cada vez mais comum vermos obras poticas compostas por vrios elementos,
s vezes at sem palavra escrita. As poesias concreta e visual proporcionam
experincias de sentido riqussimas, que devem ser exploradas. Afinal, antes de
aprender a decodificar as letras, aprendemos a reconhecer imagens. Ento, porque
no aproveitar esses recursos iconogrficos para proporcionar mais um contato
com a multiplicidade de interpretaes decorrentes da subjetividade da produo
artstica?
2) Contos, crnicas, tradio popular:
Os contos so formas narrativas menos extensas que o romance ou a novela.
Por demandarem menos tempo de leitura, costumam ser bastante procurados.
Tambm por ser mais curto, esse tipo de texto precisa de elementos que garantam
a emoo da leitura. Assim, a densidade da narrativa, a conciso e a preciso
36
tradicional: a narrativa se encaminha para um desfecho
surpreendente, que provoca impacto no leitor;
psicolgico: o clima mais sutil, revelando aspectos
psicolgicos que so mais importantes que a concluso
inesperada;
social: busca apontar e denunciar os valores
corrompidos da sociedade;
alegrico: nos quais os acontecimentos sugerem a
realidade simbolicamente, fazendo com que o leitor
penetre em um universo fantstico ou surreal.
Os contos costumam ser publicados em antologias organizadas segundo critrios
especficos: h antologias temticas, nas quais os textos desenvolvem o mesmo
tema; h antologias de poca, nas quais so apresentados textos representativos
de um determinado perodo; h tambm aquelas organizadas segundo o subgnero
(antologia de contos de horror, por exemplo), entre outras formas de organizao.
Esses conjuntos de texto oferecem outra boa oportunidade de comparao
intertextual, levando-se em conta os critrios comuns que motivaram a reunio.
So muitas as formas de relacionar estilos, personagens, situaes, sentimentos,
entre outros aspectos, em textos de diferentes autores ou escritos por um mesmo
autor.
devem conduzir o conto. De acordo com alguns autores, h diferentes tipos de
contos:
37
Produza, com os alunos, pequenas histrias orais ou escritas recheadas
de elementos de ao, mistrio, amor e procure comparar essas narrativas
aos contos que a turma j conhece. O que mudou? Quais as semelhanas?
Voc ver quantos autores tem em sala. Proponha, tambm, a dramatizao
ou a leitura dramtica de pequenos contos na prpria sala de aula. No comeo,
escolha uns bem engraados, para os alunos entrarem no clima.
H bons contos que no passam de duas pginas. Selecione alguns desses textos
e promova a semana do conto: a cada dia, inicie as aulas pela leitura de um
deles.
Quando se fala em contos, no podemos esquecer, claro, dos contos de fadas,
que enchem a imaginao de adultos e crianas. Esses clssicos universais
merecem ateno especial, pois, apesar de atravessarem sculos, essas narrativas
sempre tm e tero - o que dizer, por isso mesmo que so clssicos. Bruxas,
fadas, duendes, prncipes encantados e donzelas indefesas povoam o imaginrio
de crianas de todas as pocas. Charles Perrault, os Irmos Grimm e Hans
Christian Andersen resgataram histrias em que o maravilhoso, o fantstico, o
encantamento tornam mais leves e suportveis nossas angstias, segundo Bruno
Bettelheim, autor do clebre A psicanlise dos contos de fadas. Como foram
re-escritos por muitos autores ao longo do tempo, esses contos tm verses
diferentes. Pergunte aos alunos sobre suas verses, proponha uma contao de
histrias, onde cada um conta da sua maneira. Depois, faa uma pesquisa e veja
se possvel encontrar uma verso diferente daquelas que os alunos contaram e
apresente-a para leitura. A comparao entre as verses pode render um bom
debate. Aproveite, tambm, para tratar das diferenas entre a narrativa oral e a
escrita.
38
Se a turma ficar animada, proponha uma pesquisa sobre os textos de tradio
oral os contos de fadas so, na verdade, recontos da tradio popular oral
que passaram para a cultura escrita e hoje so clssicos. O conto oral era a
forma de preservar a memria do povo, mas era tambm uma frmula para
procurar explicar fatos inexplicveis como as lendas ou para tentar entender
caractersticas dos homens, como os sentimentos contraditrios e a dicotomia
bem/mal como nos contos de fadas. Nossa cultura rica em textos de tradio
popular, como as lendas. Tambm so muitos os personagens folclricos Saci,
Cuca, Curupira - e as histrias que fazem parte do imaginrio popular. Cada
regio ou at cada estado tem sua prpria lenda e seus seres mitolgicos.
s vezes, uma mesma histria muda de um estado para outro. Esta pode ser uma
pesquisa de flego: alm de levantar as histrias procure aquelas menos
conhecidas interessante discutir as semelhanas e diferenas entre elas em
funo das regies ou da inteno da narrativa.
Falar de folclore e tradio oral sem mencionar Monteiro Lobato no teria a
menor graa. E o que dizer de seus personagens inesquecveis? E o encanto que
nos proporcionam as aventuras de Emlia, Narizinho, Pedrinho, Dona Benta, Tia
Nastcia com o Saci e a Cuca? A adaptao de textos literrios para a TV traz a
vantagem de popularizar a literatura, ou seja, a TV leva o texto literrio para
milhes de espectadores e, assim divulga o trabalho de autores que, de outra
forma, no seriam conhecidos. Levar os alunos a resgatar essas obras literrias
transformadas em filme ou seriado como o Stio do Pica-pau Amarelo - uma
boa maneira de inseri-los no universo das histrias populares.
Outro tipo de texto que costuma agradar a crnica, no apenas pela extenso,
mas porque trata de acontecimentos corriqueiros, prximos do universo de
39
referncias dos leitores. Crnicas so narrativas curtas, cujo foco um
acontecimento ou situao que o cronista viveu ou observou. Cada cronista
imprime seu estilo e seu tom sobre o fato que relata: ningum conta a mesma
histria da mesma maneira, no ? Podemos falar em trs tipos de crnica, que
muitas vezes se confundem, de acordo com inteno do autor.
Crnica lrica ou potica: retrata aspectos sentimentais,
nostlgicos, melanclicos do cotidiano. s vezes, a
contemplao de uma paisagem ou de um momento, s
vezes lembrana de fatos, locais ou pessoas;
Crnica de humor: procura provocar o riso nos leitores
por meio do tratamento dado linguagem ou pela prpria
situao retratada. Muitas vezes, esta uma crtica
irnica e bem-humorada de comportamentos sociais;
Crnica-ensaio: busca, por meio do texto, apontar ao
leitor uma viso crtica da realidade sob o ponto de vista
de uma determinada ideologia. Normalmente tem uma
linha de argumentao, como em um ensaio.
Trabalhar com crnicas pode ser muito divertido e estimulante. A linguagem
costuma ser ligeira, coloquial, leve; e a temtica, como j dissemos, prxima
ao universo dos alunos.
possvel encontrar crnicas de bons autores em revistas ou jornais de
circulao diria. Ento, comece por organizar um mural com crnicas publicadas
recentemente nesses meios. Procure atualizar seu mural semanalmente - que
40
tal fazer um mural temtico por semana? - e aproveite para solicitar a ajuda dos
alunos, que podero trazer textos de casa e organizar-se para selecionar aqueles
que iro para o mural. Estimule os alunos a conhecer os textos que esto expostos
e discuta com eles os assuntos das crnicas.
A exemplo do que sugerimos para o trabalho com os contos, agora
tomando por base a observao de acontecimentos do universo escolar,
familiar ou da comunidade, proponha a produo de pequenas narrativas ao
estilo das crnicas. Procure apresentar aos alunos bons cronistas e faa
comparaes quanto aos temas e aos estilos. Isso ir facilitar a identificao
com esse tipo de texto e fornecer aos alunos elementos importantes para a
produo de seus prprios textos.
3) Romance e novela:
So narrativas que precisam ser lidas em partes, ou em captulos, pois so obras
de maior flego, quer dizer, so mais longos, tm enredos mais complexos,
mais personagens, tramas mais elaboradas.
Uma boa maneira de inserir os leitores nesse tipo de obra a leitura
em voz alta por parte do professor. Leia pequenos trechos por dia, em
diferentes momentos, ou ento, comece a aula pela leitura. Suspenda-a em
um momento de tenso - isso ir despertar a expectativa para a continuidade
- e retome no dia seguinte. Mas muito cuidado, certifique-se de que a narrativa
est agradando. Lembre-se de que a inteno promover e no impor - o
acesso do aluno ao circuito cultural.
Uma boa aproximao propor turma a leitura da apresentao ou do texto da
41
quarta capa e tentar descobrir informaes sobre o enredo, personagens,
ambientao e outras informaes. Depois, os alunos podem fazer uma exposio
oral sobre a obra: ser que um bom texto? Prende a ateno? Quem a
personagem principal? Onde se passa a histria? Que tipo de novela/romance :
terror, amor, aventura lembre-se: assim fazem os leitores quando escolhem
um livro.
Faa uma votao para escolher uma obra para leitura compartilhada aquela
em que o professor ou um aluno l em voz alta para os demais. Planeje,
previamente, a leitura seqenciada da obra, lendo um ou mais captulos a cada
vez. Finalizada a leitura de cada parte, discuta-a com a classe, relacionando-a s
que j foram lidas e estimulando os alunos a antecipar os eventuais rumos que a
narrativa possa tomar, criando expectativas para a leitura dos episdios seguintes.
Durante a discusso, aproveite para introduzir informaes a respeito da obra,
de seu autor, do contexto em que a histria foi produzida, da articulao que ela
estabelece com outras, enfim, dados que possam contribuir para uma melhor
compreenso do texto.
4) Teatro:
Diferentemente de gneros como o conto e a novela, em que predomina a
narrativa, isto , em que um narrador (quando o texto narrado na terceira pessoa)
ou uma personagem (quando narrado na primeira) conta o que aconteceu, na
pea teatral so os prprios personagens que dialogam entre si. Por esta razo,
uma pea de teatro s adquire vida se encenada. Para garantir a encenao, o
texto teatral traz informaes importantssimas sobre o tom de voz dos
personagens, o tipo de roupa, os gestos, composio do cenrio, entre outras.
Cada cena ou fala meticulosamente descrita para que o leitor e aqueles que
42
pretendem encen-la possam visualizar o texto. Ler um texto teatral em sala
uma tima oportunidade de inserir os alunos no universo dramtico.
Proponha uma leitura dramatizada ou com recursos teatrais como
fantoches e bonecos de vara, fantasias e adereos. A encenao o objetivo
do texto. Sua leitura pressupe, portanto, que se busquem com os alunos
maneiras de viabilizar a dramatizao, seja improvisando, adaptando ou de
forma mais elaborada. Dessa atividade principal, inmeras possibilidades de
mobilizaes certamente acontecero quando os alunos se depararem com
os desafios da distribuio de papis, da definio da marcao cnica (a
movimentao que os atores devem fazer), da definio de uma sonoplastia
bsica etc.
Se for possvel, leve os alunos para assistirem a uma pea teatral ou ento procure
um grupo de teatro que faa apresentaes em escolas existem muitos.
Aproveite para fazer uma hora de perguntas, quando os alunos podero satisfazer
suas curiosidades sobre esse tipo de espetculo. Antes disso, claro, converse
com os alunos sobre o texto teatral e leia, com eles, uma pea de teatro.
5) Livro de imagem:
Chamamos livros de imagens aqueles em que a narrativa est centrada em
ilustraes, fotografias ou outra forma de representao pictrica - por meio
de imagem. Diferentemente do texto escrito, em que a elaborao da linguagem
que d margem s mltiplas possibilidades de interpretao, em um livro de
imagem so os traos, as nuances, as sutilezas que o fazem. um tipo de texto
que oferece vrias possibilidades de interpretao. Dependendo da bagagem e
do olhar do leitor, cada um busca, no livro de imagem, aquela narrativa que lhe
43
parece mais plausvel. Assim, em uma turma, poder haver tantas possibilidades
de interpretao quantos forem os alunos e esse o grande caminho para o
professor: instigar e possibilitar o maior nmero possvel de leituras, ampliando
o universo de significaes. Para isso, ser preciso chamar a ateno dos alunos
para todos os detalhes, tanto para parte grfica - tcnica utilizada (pintura, desenho,
colagem), recursos como cores, sombras etc, ou enquadramento, foco, ngulo
- quanto para as narrativas subliminares ou interpretaes viveis.
Os livros de imagem, portanto, ao contrrio do que a maioria das pessoas pensa,
no so apenas voltados para aqueles que ainda no dominam o cdigo escrito,
mas para todos que desejam exercitar o olhar ou que buscam ampliar a percepo
esttica. Assim como na poesia visual ou concreta da qual j falamos
rapidamente - os autores/artistas plsticos desses livros de imagens expressam-
se artisticamente e ampliam a leitura do mundo por meio de seus traos, do uso
de cores, de fotografias ou de construo de imagens em trs dimenses, como
na escultura. H muitos livros que utilizam outros recursos alm da palavra e
proporcionam um verdadeiro encantamento visual.
Associar texto e imagem sempre rende bons frutos. J sugerimos a voc propor
aos alunos a interpretao ou releitura (que vem a ser uma reinterpretao
pessoal) de um texto escrito por meio de outras linguagens pintura, colagem,
escultura - ou o contrrio: a produo de um texto a partir da contemplao de
uma imagem, por exemplo. Unir diferentes formas de expresso muito
importante para que os alunos tenham a oportunidade de transitar entre universos
estticos diferentes, mas complementares. Alm disso, a educao do olhar
tambm importante para o despertar da anlise crtica. No se pode esquecer
que toda leitura, inclusive de imagem, diretamente influenciada pela experincia
de vida do leitor.
Os leitores que ainda no tm um bom domnio da leitura podem tirar bastante
proveito da observao cuidadosa das imagens. Para isso, o professor deve
explorar a leitura no-verbal, para que os educandos possam perceber o no-
dito, mas que est subentendido ou explcito na imagem; deve lev-los a
interpretar a relao que se estabelece entre as imagens e o texto escrito, de
forma a favorecer a construo de sentidos por parte desses alunos.
45
5. O que pode
fazer a escola
No a leitura que conduz o indivduo a novas formas
de insero social. , ao contrrio, o tipo de vnculo que
ele estabelece que pode conduzi-lo eventualmente a ler
certas coisas de certo jeito. A leitura, mesmo feita em
recolhimento, no um comportamento subjetivo, uma
questo de hbito ou de postura, uma prtica inscrita
nas relaes histrico-sociais. (Britto, 2003)
ntes de encerrar, importante retomar algumas consideraes que
pontuamos ao longo do texto. A primeira delas diz respeito ao papel da
biblioteca como um espao privilegiado, em que se d o encontro do
leitor com as diversas formas de registro do conhecimento. nesse espao,
tambm, que pode se estabelecer o dilogo entre indivduos que compartilham
informaes, impresses, experincias. importante que esse local seja
agradvel e oferea condies para a interao entre os sujeitos e para a
apropriao de informaes por parte dos leitores. Quanto maiores as
oportunidades de dilogo, tanto melhores sero as trocas de experincias.
Quanto maiores as oportunidades de leitura, maiores sero, tambm, as
possibilidades de se formar leitores autnomos.
A A
A AA
46
Falamos, tambm, sobre o que consideramos leitura. Vimos que ler levantar
hipteses, test-las, confirm-las ou no, resgatar informaes e experincias
anteriores, associ-las s novas informaes. Ler tambm, debater, confrontar
idias, agregar informaes. Conclumos que o conceito de leitura est
diretamente ligado a outros como interveno, apropriao, ressignificao,
participao, cidadania.
Outro ponto que tentamos enfatizar que, quando se trata de leitura, no cabe
falar em ensinar ou aprender, mas em mediar, apresentar, auxiliar e
dar a conhecer, porque isso que se espera da escola: proporcionar situaes
reais de leitura; ajudar no estabelecimento de relaes entre a leitura que se
realiza na escola e a que se realiza na sociedade; oferecer ao aluno as condies
materiais e imateriais necessrias para o pleno desenvolvimento de suas
capacidades, habilidades e aptides. Para isso, a escola ir utilizar instrumentos
de informao que circulam socialmente e propor atividades elaboradas com o
objetivo de ajudar o aluno a explorar e estabelecer suas prprias estratgias de
leitura, que vo depender, entre outros aspectos, do tipo de texto e da finalidade
dessa leitura.
No poderamos encerrar esse documento sem enfatizar que o mediador deve
ser, antes de tudo, um leitor cujo papel o de colocar-se como ponte entre o
texto e o aluno. Para tanto, o mediador deve construir uma relao em que o
respeito, a autonomia, o dilogo, o questionamento entre os sujeitos sejam
condies indispensveis para a convivncia.
47
6. Conhecendo um
pouco mais
, no mercado e em boas bibliotecas, obras que se dedicam reflexo
sobre a cultura letrada, promoo da leitura e pesquisa nessa rea.
Na relao abaixo, apresentamos algumas dessas obras. H ttulos
recentes, outros mais antigos - que se tornaram clssicos -, outros recentemente
reeditados e ampliados, mas, sem dvida, todos importantes para auxiliar
professores e mediadores de leitura na tarefa de promover o debate sobre a
formao de leitores autnomos. Lembramos que essas so apenas algumas
poucas indicaes; as opes no se esgotam aqui e sempre possvel encontrar
boas obras quando se entra no mundo dos livros.
No h, entre os ttulos, uma categorizao, embora isso fosse possvel, uma
vez que h obras que abordam a leitura, outras tratam da competncia leitora,
outras so obras voltadas para a histria da leitura ou da formao do leitor e h
aquelas cujo foco o leitor literrio ou o texto literrio para crianas e jovens.
Assim, optamos por uma classificao alfabtica, deixando ao leitor a tarefa de
organiz-los.
H H
H HH
48
Para quem quer ampliar horizontes e conhecer mais a fundo a histria da leitura
e do livro, ou melhor dizendo, do texto escrito no Brasil, este livro uma
excelente oportunidade. So 28 pesquisadores, brasileiros e estrangeiros, que
se propem a traar um histrico dos percursos do texto escrito e das formas
de ler. Nas palavras da autora, a obra toma parte na construo da histria da
leitura e do livro, examinando diferentes modalidades de comunicao (oral,
manuscrita, impressa, hipertexto) e diversas formas e gneros dos artefatos da
cultura letrada (correspondncia, cordel, folheto, brochura, almanaque, revista,
jornal). Ateno para o texto de Marisa Lajolo - O preo da leitura: Gonalves
Dias e a profissionalizao de um escritor brasileiro oitocentista, no qual a
autora apresenta o leitor Gonalves Dias e narra as relaes conflituosas entre
autor e editores. Para quem quiser conhecer os primrdios dos livros escolares,
sugere-se o texto de Antnio Augusto Gomes Batista Papis velhos,
manuscritos impressos: palegrafos ou livros de leitura manuscrita.
ABREU, Mrcia e SCHAPOCHNIK, Nelson. (orgs.) Cultura letrada no Brasil:
objetos e prticas. Campinas: Mercado de Letras, 2005.
AGUIAR, Vera Teixeira de. (org.) Era uma vez... na escola: formando
educadores para formar leitores. Belo Horizonte: Formato, 2001.
Como o prprio texto diz, este livro pretende servir de instrumento de apoio
formao de educadores voltados para a leitura. E a obra faz isso muito bem.
Dividido em nove captulos, o texto trata de temas importantes, como o conceito
de literatura infantil e sua histria, as caractersticas psicocognitivas do
desenvolvimento infantil, os gneros literrios e o trabalho com cada um deles,
entre outros. Entremeadas ao texto, h quatro sees interativas: Voc sabia
que...? traz informaes ligeiras, para simular, segundo a organizadora, uma
49
forma de aprender aleatria, ocasional; Rabiscos busca mobilizar os
conhecimentos prvios do leitor, por meio de alguma reflexo ou lembrana;
Ponto de vista estimula o debate e instiga os leitores a elaborar suas opinies
e Mos obra prope atividades prticas para serem desenvolvidas na escola.
O texto um convite leitura e, conseqentemente, reflexo.
BOJUNGA, Lygia. Livro Um encontro. Rio de Janeiro: Casa Lygia
Bojunga, 2004.
No se trata de uma teoria sobre o livro ou uma anlise sobre as competncias
leitoras ou sugestes de atividades, mas de um texto que resgata ou desperta o
leitor ainda desconhecido. Autora de diversos livros infantis e juvenis, Lygia
Bojunga narra, nesta obra, sua relao com os livros: primeiro seus momentos
de descoberta como leitora e em seguida como escritora. Em linguagem gil e
com passagens memorveis, este relato autobiogrfico proporciona bons
momentos de leitura e pode contribuir para aproximar o leitor do universo dos
livros. Destaque para o conceito de leitora: uma leitora, quer dizer, um ser de
imaginao ativa, criativa.
CAMPELO, Bernadete et al. A biblioteca escolar: temas para uma prtica
pedaggica. Belo Horizonte: Autntica, 2002.
Os autores, pesquisadores do Grupo de Estudos em Biblioteca Escolar da Escola
de Cincia da Informao da UFMG, tm como foco a biblioteca escolar e,
dessa forma, apresentam nessa coletnea uma srie de reflexes e orientaes
para o trabalho naquele espao. So textos curtos, em linguagem leve, mas que
discutem desde o conceito de competncia informacional at a organizao do
50
acervo e do espao fsico. Destaque especial para os textos Internet e pesquisa
escolar e A internet na biblioteca escolar, de Maria da Conceio Carvalho
e Mrcia Milton Vianna, respectivamente.
COLOMER, Teresa. A formao do leitor literrio. Trad. Laura Sandroni. So
Paulo: Global, 2003.
O livro resultado da pesquisa realizada por Teresa Colomer na Espanha.
Dividida em duas partes: A evoluo dos estudos sobre literatura infantil e
juvenil e A narrativa infantil e juvenil atual, a obra apresenta uma anlise
detalhada da evoluo, ao longo dos anos, dos textos para crianas e jovens.
Vale a pena conhecer, tambm, a obra Ensinar a ler, ensinar a compreender,
editora Artmed, de Teresa Colomer e Anna Camps, que recebeu o prmio Rosa
Sensat de Pedagogia.
EVANGELISTA, Aracy Alves Martins et al. (orgs.). Escolarizao da leitura
literria. Belo Horizonte: Autntica, 2003.
O segundo volume decorrente de O Jogo do Livro traz estudos que contemplam
as facetas cultural, poltica, pedaggica, esttica, psicolingstica da leitura,
como avisam as organizadoras. Os textos da primeira, segunda e quinta partes:
A Escolarizao da Leitura Literria, Leitura, Poltica e Cultura e
Formao de Leitores-Professores, respectivamente, so especialmente
recomendados por abordarem questes que afetam o cotidiano do professor
em sala de aula.
51
FREIRE, Paulo. A importncia do ato de ler em trs artigos que se
complementam. So Paulo: Cortez, 1983.
Reflexo obrigatria para todos os professores e no apenas para aqueles que
atuam com educao de jovens e adultos, este livro fruto de uma palestra
proferida na abertura do Congresso de Leitura do Brasil, em 1981, na qual Paulo
Freire narra sua experincia com alfabetizao de adultos desenvolvida na
Repblica Democrtica de So Tom e Prncipe. A atualidade de Paulo Freire
reside em suas reflexes, que tm um carter universal: Temos de respeitar os
nveis de compreenso que os educandos no importa quem sejam esto
tendo da realidade. Impor a eles a nossa compreenso em nome da sua
libertao aceitar solues autoritrias como caminhos de liberdade. Mas
reside, tambm e principalmente, na prpria realidade, que parece imutvel ao
longo desses anos.
KUHLTHAU,Carol. Como usar a biblioteca na escola: um programa de
atividades para o ensino fundamental. trad. e adapt. Bernadete Campello et
al. Belo Horizonte: Autntica, 2002.
Quem quer sugestes prticas de atividades vai encontrar, neste livro, boas
opes. Este guia , na verdade, um programa de atividades seqenciais, a ser
iniciado a partir do momento em que a criana comea sua formao escolar
(...). A obra dividida em trs grandes captulos, alm da introduo. Cada
captulo, por sua vez, dividido em trs partes: a primeira apresenta as
caractersticas da fase de desenvolvimento, ou estgio, dos alunos; a segunda
parte traz os objetivos a serem alcanados nessa fase e a terceira apresenta
sugestes de atividades, todas voltadas para a leitura e a escrita. O mais
interessante que a proposta no se concentra apenas em estimular a leitura ou
52
a explorar o texto literrio, mas em favorecer o desenvolvimento de habilidades
necessrias para, como diz o livro, lidar com a informao, ou seja, estimula
e induz o aluno pesquisa, contribuindo para a formao de um leitor capaz de
localizar, analisar e julgar as informaes e transform-las em conhecimento.
LAJOLO, Marisa e ZILBERMAN, Regina. A formao da leitura no Brasil. So
Paulo: tica, 1996.
As autoras so referncia quando se trata de literatura infantil e, embora no
seja uma obra recente, seu contedo promove um aprofundamento necessrio
para quem quer conhecer melhor as teias que envolvem a histria cultural da
formao da leitura no Brasil e todas as relaes que se estabelecem para que
se chegue a ter um pblico leitor.
MACHADO, Ana Maria. Como e por que ler os clssicos universais desde cedo.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2006.
A obra, como a prpria autora define, um convite acompanhado de um mapa.
Em prosa ligeira, Ana Maria Machado apresenta, ou reapresenta, os grandes
clssicos universais - e no apenas aqueles voltados para o pblico jovem e
provoca no leitor a curiosidade, o desejo da leitura ou ento evoca lembranas
de um texto esquecido. A cada captulo, o leitor se depara com uma infinidade
de obras que fazem parte daquilo que a autora chama de herana cultural e da
qual devemos nos apropriar, porque nos pertence. uma obra que conduz o
professor em seu trabalho de garimpar bons textos e de perceber, nos textos
clssicos, aspectos importantes para a formao do leitor cidado do mundo.
53
OLIVEIRA, Ieda de. (org.) O que qualidade em literatura infantil e juvenil
com a palavra o autor. So Paulo: DCL, 2005.
Esta obra tem uma proposta inusitada, j explicitada no ttulo. So artigos de
Gustavo Bernardo, Ricardo Azevedo, Ieda de Oliveira, Flvio Carneiro, Leo
Cunha, Carlos Augusto Nazareth, Luiz Antnio Aguiar, Celso Sisto, Rogrio
Andrade Barbosa, Anna Cludia Ramos e Bartolomeu Campos Queirs, alm
dos depoimentos de Alice Vieira, Ana Maria Machado, Lygia Bojunga, Marina
Colasanti, Pedro Bandeira, Rosa Amanda Strausz e Tatiana Belinky. Com o
objetivo de definir o que qualidade na literatura para crianas e jovens e apontar
as caractersticas que conferem a esses textos a condio de obra literria, os
autores oferecem ao leitor textos muito agradveis e, ao mesmo tempo, bastante
importantes para quem se prope a promover a leitura literria entre crianas e
jovens. Indicamos, em especial, os artigos de Ricardo Azevedo, Ieda de Oliveira
e Flvio Carneiro.
PAIVA, Aparecida et al. (orgs.) No fim do sculo: a diversidade. Belo Horizonte:
Autntica, 2003.
Terceiro fruto de O Jogo do Livro, este volume prope a discusso sobre a
diversidade de suportes, gneros e de leituras que caracterizam o final do sculo
XX (...). De fato, os textos so divididos em dois blocos. O primeiro comporta
textos sobre a diversidade de narrativas, o teatro, a poesia, os suplementos infantis
de grandes jornais, entre outros. O segundo bloco trata especificamente das
diferentes formas de recepo do texto escrito. No deixe de ler a pesquisa
Prticas socioculturais de leitura e escrita de crianas e adolescentes, relatada
em Conhecendo novas prticas de leitura e escrita.
54
PASCHOAL LIMA, Regina Clia de Carvalho. (org.) Leitura: mltiplos olhares.
Campinas: Mercado de Letras, 2005.
De leitura mais densa, os textos que compem esta coletnea fornecem muito
material para o professor e para o profissional que atua em bibliotecas escolares.
O leitor vai encontrar diferentes abordagens sobre a leitura, escritas por
especialistas de reas do conhecimento diversas, como Lingstica Aplicada,
Psicanlise, Psicologia, Anlise do Discurso. Como o ttulo j sinaliza, so
mltiplos olhares que se entrelaam, mas guardam suas especificidades. uma
leitura que demanda um empenho extra, mas fornece uma bagagem importante
para o leitor.
PAULINO, Graa. (org.) O jogo do livro infantil textos selecionados para a
formao de professores. Belo Horizonte: Dimenso, 1997.
O Jogo do Livro um evento realizado, desde 1995, a cada dois anos pelo Centro
de Alfabetizao, Leitura e Escrita da UFMG. Anualmente, o CEALE publica
uma obra contendo os textos apresentados no evento. Neste primeiro volume,
esto reunidos textos de autores bastante heterogneos, e que, por isso mesmo,
proporcionam um dilogo muito produtivo sobre as questes que envolvem o
livro infantil e seus leitores. Destaque para os textos de Regina Zilberman,
Comeos da literatura para crianas no Brasil, pela reflexo histrica; de
Luiz Percival Leme Britto, A criana no tola, pela reflexo poltica e
pedaggica e para o breve texto de Bartolomeu Campos Queirs, Menino
Temporo, pela delicadeza do texto.
55
SILVA, Ezequiel Theodoro da. (coord.) A leitura nos oceanos da internet. So
Paulo: Cortez, 2003.
A internet passou a fazer parte da vida da maioria dos brasileiros e, como
conseqncia, trouxe mudanas nos modos de ler: navegar nos oceanos da
internet significa acionar novas atitudes, novas competncias e habilidades, a
fim de manejar a escrita digital. Analisar a leitura no ambiente da internet e
suas implicaes o objetivo dessa obra. O mais interessante que, segundo o
organizador, os textos que compem o livro foram fruto de reflexes conjuntas
dos quatro autores - Ezequiel Theodoro, Fernanda Freire, Rubens Queiroz de
Almeida e Srgio Ferreira do Amaral - realizadas a distncia, por correio
eletrnico. A estrutura da obra permite visualizar essa produo: o primeiro
captulo o Texto Gerador, que foi a base para as discusses. O segundo
capitulo apresenta quatro textos, um de cada autor, cada um dos textos seguido
de comentrios dos outros trs autores, como em uma conversa por meio
eletrnico. O terceiro captulo intitulado Rodada final traz mais um
texto de cada um dos autores. O ltimo texto Formao do leitor virtual pela
escola brasileira: uma navegao por mares bravios especialmente
recomendado para os professores.
TURCHI, Maria Zaira e SILVA, Vera Maria Tietzmann. (orgs.) Literatura infanto-
juvenil: leituras crticas. Goinia: Editora da UFG, 2002.
As organizadoras e professoras da Universidade Federal de Gois se propem a
discutir e analisar critica e esteticamente a criao literria para jovens e crianas.
So 14 ensaios divididos em cinco blocos: o primeiro trata da crtica literria e
discute o status da literatura infantil como objeto esttico; o segundo analisa os
personagens Robin Hood e Alice; o terceiro bloco trata da obra de Monteiro
56
Lobato; o quarto dedicado anlise da poesia trata tambm da prosa potica
de Bartolomeu Campos Queirs e a quinta parte analisa as novelas para jovens,
entre elas O Sof Estampado de Lygia Bojunga e Ana Z., onde vai voc?
de Marina Colasanti. A anlise das obras fornece ao professor elementos para
que ele possa, tambm, fazer um outro tipo de leitura, alm da fruio do texto
literrio, sem perder de vista a qualidade artstica.
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. So Paulo: Global, 2003.
Os primeiros ensaios que compem esta obra apresentam ao leitor um painel
da histria sociocultural da infncia e das publicaes para o pblico infantil.
Em um segundo momento, a autora faz uma anlise cuidadosa de algumas
narrativas voltadas para o pblico infantil, para mostrar a rica contribuio
que [a literatura infantil] proporciona a qualquer indagao bem
intencionada sobre a natureza do literrio. Este texto j se tornou leitura
bsica para aqueles que buscam entender a literatura infantil brasileira.
57
Bibliografia
BRASIL. Manual Bsico da Biblioteca da Escola, MEC, FNDE, 1998
BRASIL. Manual Pedaggico da Biblioteca da Escola, MEC, FNDE, 1998
BRASIL. Programa Nacional Biblioteca da Escola 2003, encartes de 4 srie, 8 srie e EJA.
BRITTO, Luiz Percival Leme. Mximas Impertinentes, www.leiabrasil.org.br,
acesso em junho/06.
CUNHA, Antnio Geraldo da. Dicionrio Etimolgico Nova Fronteira da Lngua Portuguesa.
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997.
Camargo, Iber, in http://ibercamargo.uol.com.br
Você também pode gostar
- O Nada e o Silêncio em BeckettDocumento43 páginasO Nada e o Silêncio em BeckettEDUARDO JOSÉ REIATOAinda não há avaliações
- Atividades Lendas VariadasDocumento9 páginasAtividades Lendas VariadasJosianne Lacerda100% (2)
- PROJETO de LEITURA - Um Sonho No Caroço Do AbacateDocumento6 páginasPROJETO de LEITURA - Um Sonho No Caroço Do AbacateFernando Favaretto100% (1)
- Lendas de Beja O Touro e A Cobra e Outras LENDASDocumento437 páginasLendas de Beja O Touro e A Cobra e Outras LENDASRoberto Alejandro PérezAinda não há avaliações
- Conector (Gramática)Documento2 páginasConector (Gramática)denerstakflerdtAinda não há avaliações
- Atividades Classes de Palavras 6oDocumento6 páginasAtividades Classes de Palavras 6oKatiuscia SoaresAinda não há avaliações
- Todos Os Jogos PS2Documento18 páginasTodos Os Jogos PS2Gabriel PintoAinda não há avaliações
- ATIVIDADE - Interpretação TEXTO ConfusoDocumento2 páginasATIVIDADE - Interpretação TEXTO ConfusoJunior FreitasAinda não há avaliações
- Dia Do Folclore - AgostoDocumento1 páginaDia Do Folclore - AgostoRicardo Romero Ferreira FilhoAinda não há avaliações
- MHMM - Língua Portuguesa em Mudança PDFDocumento17 páginasMHMM - Língua Portuguesa em Mudança PDFGiovanna SimionAinda não há avaliações
- DCSH Teoria LiteraturaDocumento3 páginasDCSH Teoria LiteraturadenerstakflerdtAinda não há avaliações
- Resenha ZabalaDocumento6 páginasResenha ZabalaWerner WernianoAinda não há avaliações
- Artigo Artigo Com Bibliografia de Jose Antonio SaraivaDocumento6 páginasArtigo Artigo Com Bibliografia de Jose Antonio SaraivadenerstakflerdtAinda não há avaliações
- A Artigo Sobrevolker Noll o Português BrasileiroDocumento160 páginasA Artigo Sobrevolker Noll o Português BrasileirodenerstakflerdtAinda não há avaliações
- Necromante D&DDocumento5 páginasNecromante D&DLeandro LeoAinda não há avaliações
- O MostrengoDocumento6 páginasO MostrengoSara GonçalvesAinda não há avaliações
- Conjugação Do Verbo RirDocumento3 páginasConjugação Do Verbo Rirtunecita0% (1)
- Gabarito 2º AnoDocumento3 páginasGabarito 2º AnoDeusirene AparecidaAinda não há avaliações
- 7 o MostrengoDocumento5 páginas7 o MostrengoPaula FernandesAinda não há avaliações
- Concordancia VerbalDocumento8 páginasConcordancia VerbalKatia CirleneAinda não há avaliações
- A Fundação de Roma Entre o Mito e A ArqueologiaDocumento2 páginasA Fundação de Roma Entre o Mito e A ArqueologiaGabriel Cortez Del Barrio100% (1)
- Criar Nanocontos Com A TurmaDocumento6 páginasCriar Nanocontos Com A TurmaSuellen RamosAinda não há avaliações
- O BurroDocumento4 páginasO BurroFilipa LogosAinda não há avaliações
- A CONSTRUÇÃO FONOsemiotica Dos Personagens Desenredo Guimaraes RosaDocumento12 páginasA CONSTRUÇÃO FONOsemiotica Dos Personagens Desenredo Guimaraes Rosadanilobalzac7Ainda não há avaliações
- Cavaleiro NegroDocumento1 páginaCavaleiro NegroWdson MartinsAinda não há avaliações
- ONDJAKIDocumento17 páginasONDJAKIbibliotecasvsAinda não há avaliações
- Efeitos de Dramaticidade No Conto ModernoDocumento20 páginasEfeitos de Dramaticidade No Conto ModernowinstonkurtzAinda não há avaliações
- UntitledDocumento8 páginasUntitledQUEZIA DANIELA DO CARMOAinda não há avaliações
- Poema e PoesiaDocumento2 páginasPoema e PoesiaAndrea PassosAinda não há avaliações
- Verbos - Introdu oDocumento24 páginasVerbos - Introdu oLino Cunha SilvaAinda não há avaliações
- 21 10 2010 CamoesDocumento7 páginas21 10 2010 CamoesRosemberg NunesAinda não há avaliações
- As ParcasDocumento3 páginasAs ParcasVictorDeluzziAinda não há avaliações
- Particulas NihongoDocumento5 páginasParticulas NihongoItalo RiosAinda não há avaliações
- Prova Do Concurso para S. Especalista Do Ex.Documento27 páginasProva Do Concurso para S. Especalista Do Ex.CarpestudiumAinda não há avaliações