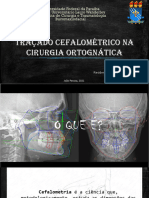Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
812 1311 1 PB
812 1311 1 PB
Enviado por
Paula Amanda0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações14 páginasTítulo original
812-1311-1-PB
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações14 páginas812 1311 1 PB
812 1311 1 PB
Enviado por
Paula AmandaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
ARQUEOLOGIA PR-HISTRICA: ENTRE A CULTURA
MATERIAL E O PATRIMNIO INTANGVEL
Prof. Dr. Luiz Oosterbeek
21
RESUMO: Em torno das noes e conceitos de arqueologia, patrimnio,
identidade e cultura, discutido o papel da memria na permanente reconstruo
de passados, traando umparalelo comos mecanismos reguladores das funes
cognitivas e revendo a construo do patrimnio e a sua funo na sociedade
contempornea. Defende-se que, numa abordagem memorial que valoriza de
forma crescente a dimenso imaterial do patrimnio, a pr-histria se situa no
campo ideal da interpenetrao das dimenses material e imaterial.
PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia; Pr-Histria; Patrimnio; Identidade;
Memria.
ABSTRACT: Around the notions and concepts of archaeology, heritage, identity
and culture, the role of memory in a permanent reassessment of the past is
discussed, suggesting a parallel with mechanisms that regulate cognitive
functions and reviewing the construction of heritage and its role in contemporary
society. Within a memorial approach that increasingly stresses the immaterial
dimension of heritage, prehistory is the best field for the integration of both its
material and immaterial dimensions.
KEY-WORKS: Archaeology; Prehistory; Heritage; Identity; Memory.
INTRODUO GERAL: A CONSTRUO DA IDENTIDADE PELA MEMRIA
O esquecimento a principal faculdade da memria.
Virglio Ferreira
22
Uma das imagens fortes que marcaram as minhas retinas, resulta de uma
visita aos Sete Povos, em especial a S. Miguel das Misses, onde se ergue essa
extraordinria catedral barroca e onde se acolhem obras de arte Lusada, gravadas na
madeira pelas mos de guaranis. Mas no foram essas obras maiores do engenho
21
Instituto Politcnico de Tomar (Portugal).
22
Memria das lies que me deu, quando estudava no Ensino Secundrio.
Luiz Oosterbeek
Cadernos do LEPAARQ - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimnio
42
humano que me tocaram mais fundo e sim os olhos das crianas guaranis...olhos
onde no vi orgulho nemesperana.
Crianas de olhos vazios, lembro-me de escrever minha mulher
nessa ocasio. Essa falta de luz estamos, infelizmente, habituados a encontr-la nos
mais velhos, s vezes mesmo em adolescentes, j desiludidos ou resignados, j
alienados. Mas no nas crianas. Essa ausncia de luz nos anos menores ainda
mais impressionante que a luz que s vezes vemos brilhar nos olhos de alguns
velhos.
O que essa luz? uma emoo, um estado de alma, que se recorta
com a capacidade de se sentir parte de um percurso com coerncia, parte de uma
histria. E nos olhos dos meninos de So Miguel, a luz que faltava no era a das
brincadeiras ou a da comida ao fim do dia: no, eles no aparentavam nem fome
nem falta de afectos. Mas pareciam deslocados: nem ndios nem Europeus,
despossudos das suas terras, mas sobretudo das suas memrias, descendentes de
geraes que ficaram entaladas nas lutas que travaram entre si, primeiro como
conquistadores, depois como braos armados de conflitos entre J esutas, Espanhis
ou Portugueses.
Num instante, a materialidade da imponente Igreja barroca revelou-se-
me, na sua complexidade cultural, pelo olhar daquelas crianas. Faltava-lhes uma
memria prpria, no meramente turstica. Faltava-lhes uma identidade exclusiva
com aquelas runas, que apesar das aparncias no eram, nemnunca foram, suas.
mesmo provvel que elas no sintam falta dessas faltas. Mas senti-as eu. Dizem os
manuais que o turista o que interage com os residentes, por oposio ao
excursionista, que passa por eles como mero cenrio. Nessa minha ida a So Miguel
faltaram-me os residentes, pois os que l estavam tanto podiam estar ali como noutro
local qualquer. Estavam l, mas aquele no era o seu lar.
Noutras viagens, sobretudo no Rio Grande do Sul, mas tambm em So
Paulo e no Rio, conversando com amigos e colegas, visitando cerritos ou a Vila
Maciel, fui verificando que a noo de cultura arqueolgica (e sublinho noo e no
conceito), no Brasil, muito diversa da que predomina no espao Europeu. Aqui
fala-se em tradies, conceito a que comecei por resistir, por o no entender, para
finalmente a ele me render.
Devo por isso a So Miguel das Misses, e ao Brasil, os primeiros
passos de uma reflexo sobre as relaes cognitivas entre os vestgios arqueolgicos
e o seu envolvimento cultural actual, que agora procurarei resumir nestas pginas.
Arqueologia Pr-Histrica: entre a cultura material e o patrimnio intangvel
V. I, n 2. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2004.
43
O conceito de Patrimnio Cultural remete, antes de outra coisa, para o de
propriedade. patrimnio algo a que atribumos um valor e com o qual
estabelecemos uma relao de apropriao.
O valor do Patrimnio hoje, de forma crescente, uma forma de capital
fixo, aquilo a que chamamos, por vezes, de recurso infra-estrutural. Tal se deve ao
facto de funcionarmos numa sociedade em que predomina a apropriao privada dos
bens materiais, associada ao desenvolvimento do turismo.
Mas, antes dessa dimenso, inegavelmente importante, existe uma outra,
de natureza imaterial. O Patrimnio Cultural hoje um valor de uso a que
recorremos, como alis j o faziam os nossos antepassados, para nos posicionarmos
no fio do tempo. Dito de outra forma, o Patrimnio Cultural o conjunto de
realidades, materiais e imateriais, cuja gestao nos precedeu, e que constitui uma
espcie de mapa orientador sobre o qual nos situamos. Definimo-nos, em grande
medida, pela posio que ocupamos face a esse Patrimnio, pela relao que
estabelecemos, ou no, com ele. E, neste jogo, mais importante a dimenso
imaterial: quanto mais exclusivamente material a relevncia desse Patrimnio para
ns, menos ele nos influencia. por isso que as runas de So Miguel das Misses
no tm a mesma ressonncia para um Cristo, para um Muulmano ou para um
ateu.
Diz-nos Antnio Damsio (2001), que na construo da inteligncia
comeamos por estruturar um conjunto de emoes, uma narrativa sem palavras
ancorada em relaes de natureza sensrio-motora, que nos conduzem
progressivamente construo do que ele chamou de eu-autobiogrfico, ou seja,
da nossa identidade.
O Patrimnio Cultural tem essa faculdade de despertar emoes
(estticas ou outras), que nos ajudam a construir a nossa identidade, a nvel
individual ou colectivo. Perante uma realidade que reconheo como Patrimnio
Cultural (e esta j uma segregao cultural), posso reconhecer-me herdeiro dela,
admir-la como expresso de uma outra cultura que nada tem a ver com a minha,
valor-la como de interesse maior ou menor, etc. As peas de que se compe o
universo do Patrimnio Cultural constituem um complexo de sinais, que vou
situandono meu mapa cultural interior, umas de forma mais prxima de mim, outras
de forma mais distante, numa rede que no estvel e que se modifica, por vezes de
forma impressionante, ao longo da vida. o que ocorre, por exemplo, quando
verificamos que certas msicas que nos animavam aos 15 anos se tornam
insuportveis dois ou trs anos depois; no foram as msicas que mudaram, foi o seu
lugar no nosso mapa do Patrimnio, foi a sua relevncia para a nossa identidade.
Luiz Oosterbeek
Cadernos do LEPAARQ - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimnio
44
O Patrimnio Cultural , assim, a ncora fundamental da identidade, mas
uma ncora flexvel e em permanente reconstruo. O passado no algo de
imutvel, algo a que podemos tentar aceder como quem vai virando as pginas de
um livro, uma aps a outra. O passado de cada um de ns um legitimador do
presente. assim que, quando sofremos um grande abalo na nossa vida (a perda de
algum muito prximo, uma separao, ou outra situao anloga), comeamos por
nos desorientar, pela contradio entre um passado/patrimnio que legitimava a
relao que se perdeu, e um novo presente em que ela j no existe. Essa
desorientao conduz depresso, da qual se sai construindo um novo passado, que
legitime o novo presente. O passado , assim, umsaco de informaes, de sinais,
que desencadeiam emoes, que por sua vez estruturam o nosso quotidiano.
Informaes que guardamos, dispersas, nesse universo nebuloso que o Patrimnio
Cultural, onde elas no existem na sua totalidade material, mas apenas decompostas,
de insuspeitas formas.
Processo idntico parece existir na organizao das informaes no
nosso crebro (DAMSIO, 2003). No existe, na nossa mente, um local onde se
encontre armazenada a imagem da Gioconda, ou a percepo da cidade Neoltica de
Jeric, ou sequer, como gostaria Plato, a ideia de Pirmide. Tal como acontece
com as pginas virtuais geradas por motores de busca num computador, todas as
imagens ou ideias s existem quando pensadas, ou seja, quando se desencadeia um
processo de relao entre diferentes estmulos, que as constri. Neste sentido, poder
dizer-se que no h, no plano do conhecimento, passado; apenas presente, incluindo
o presente em que, a cada momento, se gera o passado.
A memria o mecanismo de permanente (re)organizao do passado.
ela que coloca os vestgios do passado em relao uns com os outros, conferindo-
lhes sentido. Dito de outra forma, ela que, jogando com um conjunto de elementos
materiais isolados (que podem ser impulsos elctricos ou unidades de matria, mas
que, no plano colectivo, so tambm runas, sepulturas, pontes ou palcios), constri
uma dimenso coerente, a que damos o nome de passado, ou de Patrimnio Cultural
e que, emltima anlise, de natureza imaterial.
Nas sociedades menos complexas, a coerncia destes estmulos
estruturada a partir de quadros de referncia transmitidos por via oral, que tendem a
ser estruturalmente binrios (uma relao mais complexa de mais difcil
transmisso em sociedades sem escrita), mas, igualmente, muito complexos na sua
gnese e evoluo (dado que, na ausncia de uma materializao do sistema de
regras de transformao que constitui a escrita, so permeveis a maiores
flutuaes). Estas sociedades funcionam em sequncias de oposies (LVI-
Arqueologia Pr-Histrica: entre a cultura material e o patrimnio intangvel
V. I, n 2. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2004.
45
STRAUSS, 1976), construindo umsistema em que o ncleo invariante o Mito
fundador (geralmente uma histria associada a um cruzamento de elementos
sensorialmente apreendidos, como a gua, a terra, o fogo e o ar), que se perpetua
atravs de ritos que procuram fix-lo, mas que admitem ritmos diversos e, por isso,
variaes no quadro cultural. O Mito funda a identidade do grupo, agregando essa
dimenso ao sentimento de si de cada umdos seus elementos.
Esta estrutura dual a que dominou a quase totalidade da Histria da
nossa espcie, e que continua a ser preponderante na maior parte do planeta (o Yin e
Yang). Apenas na bacia Mediterrnica primeiro, e por globalizao do sistema Euro-
Mediterrnico depois, se foi gerando uma estrutura ternria, que na dialctica se
exprime na noo de sntese. Mas, antes de avanarmos mais, convm sublinhar que,
mesmo no mundo Euro-Mediterrnico-Atlntico, a estrutura antittica , entre a
populao, dominante. O maniquesmo, por exemplo, uma das suas expresses.
Mas a descoberta da escrita, com o que ela possibilitou de fixao de um
corpus muito mais complexo de elementos invariantes, veio dar uma nova dimenso
ao Mito fundador, e permitiu (embora o no impusesse) sair de uma lgica binria, e
aceitar no apenas a complementaridade entre dois elementos opostos, mas a
gerao de umterceiro diverso, a partir deles. O cristianismo consolidaria esta viso
nova do mundo, que ao introduzir a dimenso da gnese (dois geram um terceiro),
criou a noo de tempo (progressivamente mais homogneo, contnuo e irreversvel)
e, com ele, de passado material. O Patrimnio Cultural o sub-produto deste
processo, e nasce com o Renascimento (depois de episdicas experincias de
coeccionismo desde as primeiras Civilizaes Pr-Clssicas), precisamente quando
as modernas noes de tempo, de espao e de causalidade se consolidam.
Na Modernidade, o Patrimnio Cultural retoma o papel do Mito na
construo da identidade colectiva. Ele materializa certo passado, ora nacionalista
ora, como hoje se pretende, mais unificador e ecumnico, mas sempre estranho a
sociedades ou segmentos sociais cuja viso do mundo permanea dual. Porque o
Patrimnio Cultural s o na sua dimenso imaterial, e nesta s pode ser
reconhecido como Patrimnio se for relativizado (ou seja, se for laicizado). A
destruio dos Budas de Bamiyan , por seu lado, uma consequncia lgica de um
quadro mental binrio, que exclui a noo de Patrimnio Cultural. A noo de
Patrimnio Cultural, como outro lugar que foge lgica antittica, permite
preservar testemunhos e dissolver conflitos (OOSTERBEEK, 2000).
Numa sociedade em que o Patrimnio ocupa o lugar do Mito, o Rito
(revisitao encenada do Mito) materializado na visitao e usufruto desse
Patrimnio. Isto significa que, tal como no Mito, as suas componentes no
Luiz Oosterbeek
Cadernos do LEPAARQ - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimnio
46
ritualizadas se perdem (por esquecimento), tambm com o Patrimnio Cultural, as
suas expresses retiradas do quotidiano da populao excluem-nas da formao das
respectivas identidades e, dessa forma, perdem qualquer valor de uso. As gravuras
rupestres ou as cidades da Amaznia que ainda noforam descobertas, mas tambm
as runas abandonadas ou, pior ainda, as coleces esquecidas de museus ou os
monumentos tornados inacessveis ao pblico, no incorporam, ou tendem a deixar
de incorporar o processo de construo da identidade. Esquecidas ou ignoradas,
essas expresses materiais no so Patrimnio Cultural, pois no so
verdadeiramente apropriadas e tornam-se, assim, redundantes.
A Humanidade sobreviveu bem, milhes de anos, sem Patrimnio
Cultural. E pode continuar a faz-lo. apenas a forma cultural Euro-Mediterrnica-
Atlntica, que na sua globalizao crescente requer, no entanto a preservao da
diversidade, que precisa desse Patrimnio. A ironia da evoluo histrica a de que
a globalizao dessa expresso cultural que, muitas vezes, no apenas reduz a
diversidade cultural global, mas tende a reduzir a sua prpria diversidade interna, o
que, a concretizar-se, anularia a possibilidade de perpetuao dessa mesma forma
cultural, e um novo domnio do binarismo.
O Patrimnio Cultural , assim, o meio de construo da identidade
colectiva pela memria, por oposio construo da identidade colectiva pelo
Mito, na lgica binria.
Neste sentido, podemos dizer que o Patrimnio Cultural a base da
memria colectiva da Humanidade, que integra vestgios materiais (sendo estes os
mais perenes) e imateriais (sendo estes os conjunturalmente mais relevantes), e que
remete para as culturas passadas reinterpretando-as luz da actualidade
(OOSTERBEEK, 2001). Ele se oferece como uma leitura perspectivista do Passado,
que no se confunde com as Artes (que oferecem uma leitura prospectivista do
presente, antes de os seus produtos se converterem, eles prprios, em Patrimnio
cultural).
ACONSTRUO DO PATRIMNIO
O patrimnio imaterial reporta-se, obviamente,
s culturas da oralidade ou tradio oral nas culturas escritas,
pois se tivesse sido escrito tornar-se-ia tangvel.
(GOODY, 2004: 91)
Arqueologia Pr-Histrica: entre a cultura material e o patrimnio intangvel
V. I, n 2. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2004.
47
Na construo do Patrimnio, as fontes orais so a primeira matria-
prima. Numa primeira reflexo, poderiapensar-se que so os vestgios materiais, as
runas, os objectos, que so determinantes na construo do Patrimnio. No entanto,
assim no . Comeamos a construir o mapa do Patrimnio por ouvir e ouvir
dizer. Canes e histrias, eco distante dos ritos primitivos, so instrumentos
essenciais na construo da componente social da nossa identidade. por elas que
nos acercamos do patrimnio material, que se nos revela, num primeiro momento,
como cenrio dessas histrias. As runas so locus de vivncias ou, melhor dizendo,
de histrias de vivncias. Os artefactos so produtos finais de gestos, de
comportamentos.
O Patrimnio material, arquitectnico e arqueolgico, comea assim por
ser gerado pela oralidade (E disse Deus: Haja luz; e houve luz; Gen.1,1). A
primeira forma de Patrimnio material , por isso, a literatura (ler o que foi lido). E,
para alm da oralidade, o patrimnio vai-se construindo emtorno dos sentidos
fundamentais. Nele ocupam lugar de destaque, desde cedo, as materialidades que
contm, de forma mais evidente, uma expresso imaterial: a msica (ouvir o que foi
ouvido), as fotografias e representaes naturalistas (ver o que foi visto), a
gastronomia (saborear o que foi saboreado), o patrimnio construdo (tocar o que foi
tocado). Num plano mais complexo, e tambm de acesso mais restrito, o Patrimnio
ento construdo por documentos interpretativos (corografias, monografias, mapas,
etc.).
Nesta complexarede de fontes construtoras doPatrimnio Cultural, este
vai-se afirmando na dupla recusa da miopia e do esquecimento. Recusa do
esquecimento, que consiste em no o incorporar no processo de construo da
identidade presente, dissolvendo-a em quadros culturais globais simplificados. Mas
recusa, tambm, da miopia que consiste em no perceber que o patrimnio Cultural
no o em si, mas apenas no quadro de uma relao de usufruto pela sociedade e
como parte integrante do territrio.
Mas a construo do Patrimnio, garante da diversidade cultural, faz-se
tambm na afirmao, dialctica, da diversidade fragmentria, formal mas tambm
essencial, de vrios patrimnios. Nascido de uma cultura no binria, ele
percepcionado, inmeras vezes, emsequncias de oposies:
Patrimnio Arqueolgico (subterrneo, fora do campo visual) e
Arquitectnico (areo, integrado no horizonte);
Patrimnio Mvel (que envolvemos) e Imvel (que nos envolve);
Patrimnio Identitrio (Etnogrfico) e Patrimnio no Identitrio
(Artstico);
Luiz Oosterbeek
Cadernos do LEPAARQ - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimnio
48
Patrimnio Imaterial (frgil) e Patrimnio material (perene);
Paisagens (percepes) e stios (sensaes).
Na verdade, a percepo que temos dos vestgios patrimoniais tende a
ser binria, apenas na passagem da percepo para a construo do conceito que se
introduz a dimenso gentica, que gera uma outra dimenso, pela combinao das
oposies anteriores. O conceito de Patrimnio Cultural , assim, uma construo
cultural que resolve as contradies integrando-as, e definindo, desta forma, um
quadro global coerente (supera as contradies), flexvel (permite num mesmo
momento que segmentos diversos da sociedade privilegiem elementos diversos de
um mesmo corpus patrimonial) e dinmico (vai-se modificando por adio e
subtraco de elementos, mas sobretudo por alterao de significados).
Neste sentido, o Patrimnio Cultural estruturante na transformao dos
territrios (enquanto espaos fsicos) em paisagens (enquanto territrios
percepcionados). De alguma forma, o Patrimnio Cultural o territrio visto de
dentro, valorizando a componente humana na definio de fronteiras econmicas
(territrio de captao), sociais (territrio de poder) e culturais (paisagem), e de
lugares (de pertena).
Construdo a partir da oralidade e dominando, na sua dimenso
imaterial, o territrio, o Patrimnio Cultural foi, no entanto, sobretudo reconhecido
na sua expresso material (BOUCHENAKI, 2004: 9).
ADIMENSO INTANGVEL DA PR-HISTRIA
A mente humana intangvel, uma abstrao. (...)
Um total de 6 milhes de anos de evoluo
separam as mentes dos homens modernos das dos chimpanzs.
esse perodo de 6 milhes de anos que encerra a chave
para compreender a mente moderna.
(MITHEN, 1996: 10)
A Pr-Histria a Histria das sociedades baseadas exclusivamente na
oralidade. Aproximamo-nos das sociedades pr-histricas atravs da chamada
cultura material, ou seja, do conjunto de artefactos (objectos, estruturas) e ecofactos
(animais, plantas, territrios modificados ou seleccionados pela Humanidade) que
sobreviveram usura do tempo.
Arqueologia Pr-Histrica: entre a cultura material e o patrimnio intangvel
V. I, n 2. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2004.
49
Sendo um campo do saber que se situa no cruzamento das cincias do
Homem, da Terra e da Natureza, no fcil a sua arrumao disciplinar e o seu
ensino universitrio pode ser encontrado, em diferentes pases, associado
Geologia, Geografia, Biologia, Antropologia, Histria ou aos Estudos
Humansticos.
Neste sentido, a Pr-Histria, como a Arqueologia, nasceu no sculo
XIX j como um campo de saber transdisciplinar. Resultado do cruzamento do
antiquarismo classicista com a geologia do quaternrio e com a etnologia
escandinava, a Pr-Histria conheceu, desde a sua origem, essa tripla dimenso do
rigor cientfico, do patrimnio histrico-artstico e do patrimnio imaterial.
Na origem, a Arqueologia Pr-Histrica centrou-se na noo de cultura.
O interesse dos arquelogos foi-se centrando, progressivamente, nos artefactos, e
nas suas associaes recorrentes (no que viria a ser a expresso de G. Childe,
1977). O objectivo era a identificao de etnias, de que exemplo o monumental
trabalho de Bosh-Gimpera (1932), para a pennsula ibrica. Desta forma, os
primeiros pr-historiadores no separavam as dimenses material e imaterial, tendo
como objectivo a compreenso global de culturas.
Note-se que o conceito de cultura fora pela primeira vez formulado em
1871, por Edward Tylor (1920), como um todo complexo que inclui
conhecimentos, crenas, arte, moral, leis, costumes e outras capacidades e hbitos
adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Ao longo do sc. XIX
comeam a sistematizar-se os estudos comparativos (distribuio de moedas,
monumentos megalticos, etc.). Os conjuntos de vestgios (Campos de Urnas,
Cermica Campaniforme, etc.) eramassociados a povos.
O autor que realizou a primeira sistematizao histrico-cultural foi
Oscar Montelius. Desenvolveu o mtodo tipolgico, e orientou a investigao para a
comparao dos artefactos e estruturas em toda a Europa, a despeito dos seus
respectivos contextos. Baseava-se na estratigrafia, e foi um defensor da supremacia
cultural do Mediterrneo na Pr-Histria. Desenvolveu a ideia de relao entre
centros produtores/inovadores e periferias consumidoras.
O difusionismo orientalista de Montelius suscitou reservas de diversos
arquelogos, no tanto na teoria (difusionista) como na sua concretizao
(orientalista). Mas em geral foi aceito: confirmava as teses religiosas judaico-crists,
ao colocar o centro difusor no Prximo Oriente; concordava com a viso de que a
Europa Ocidental era a herdeira do passado glorioso das civilizaes pr-clssicas e
clssicas (dando-lhe legitimidade para a colonizao africana).
Luiz Oosterbeek
Cadernos do LEPAARQ - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimnio
50
Mas s com Kossina, com a sua obra A Origem dos Alemes (1911),
que pela primeira vez os vestgios arqueolgicos so incorporados no conceito de
cultura. Kossina vai defender o carcter nacional da arqueologia, que mais tarde ser
assumido pelo movimento Nazi como parte da sua matriz ideolgica. Em particular,
Kossina defendeu a supremacia racial dos alemes.
Kossina defendeu que a partir do Paleoltico superior o registo
arqueolgico se podia organizar como um mosaico de culturas, de base tnica.
fcil verificar como esta ideia perdura at hoje entre muitos arquelogos.
As ideias de Kossina tiveram pouco eco fora da Alemanha, por razes
bvias. Mas Gordon Childe, australiano, militante socialista, aceitou o conceito de
cultura arqueolgica de Kossina, combinando-o com o esquema cronolgico e
difusionista de Montelius. Em 1925 publicou a primeira verso da sua Aurora da
Civilizao Europeia (CHILDE, 1969), definindo um amplo e complexo mosaico
de culturas, baseadas no registo arqueolgico e definidas a partir de fsseis
directores.
A ideia de fssil director, ou seja, de seleccionar um numero reduzido de
artefactos tipo para definir as culturas, abriu caminho ao funcionalismo. Childe
procurava determinar o papel, a funo, dos artefactos nas sociedades que os haviam
produzido. Deu particular ateno cermica, argumentando que ela tendia a refletir
os gostos locais e a resistir s influncias externas, contrariamente aos artefactos
metlicos, por exemplo (que, por isso, eram mais valiosos para a comparao
cultural).
Graas a Childe, os estdios de desenvolvimento (como o Neoltico),
passam a ser vistos como mosaicos culturais. Foi igualmente importante ao
introduzir a ideia de evoluo descontnua, traduzida nas noes de revoluo
Neoltica e de revoluo Urbana.
Paralelamente, em 1919, foi criada na URSS, a partir da ex-Comisso
Arqueolgica Imperial de S.Petersburgo, a Academia Russa de Histria e Cultura
Material (GAIMK). As linhas de fora deste centro sero o primado da esfera socio-
econmica e a ateno detalhada cultura material. Desde o incio, esta academia
inclua especialistas em fauna, flora, geologia e climatologia (para alm das outras
cincias humanas).
Vladislav Ravdonikas(1939), arquelogo lituano da clula comunista do
GAIMK, defenderia uma histria marxista da cultura material, atacando Montelius,
por este no ter em conta o factor social. A sua preocupao vai desenvolver uma
teoria marxista para a arqueologia, rea em que Marx e Engels pouco haviam
escrito. A questo era tanto mais complicada quanto mais se recuava no tempo. Para
Arqueologia Pr-Histrica: entre a cultura material e o patrimnio intangvel
V. I, n 2. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2004.
51
as pocas histricas o motor da evoluo era a contradio de classes. Mas quais
eramas contradies na Pr-Histria, no comunismo primitivo?
O GAIMK abandonou as definies das idades da pedra, do cobre e do
bronze (tecnologicamente determinadas), procurando estudar os modos de produo,
a organizao social e a ideologia. assim que nasce a arqueologia do micro-
espao, ou seja, as escavaes em rea, de acampamentos paleolticos e de povoados
neolticos. Desde os anos 30 que surgem estudos, na URSS, sobre a diviso de
tarefas (a cermica feita por mulheres, a possibilidade de identificar sociedades
matriarcais, etc.). As transformaes verificadas no registro arqueolgico j no so
explicadas pela difuso ou migrao, mas sim pelo desenvolvimento social interno.
A evoluo social seguiu de perto as formulaes de Marx-Engels para a sociedade
primitiva, na leitura linear que ser feita por Stalin (das sociedades pr-clnicas s
sociedades comunistas).
A partir de 1934, estabelece-se uma Arqueologia Sovitica, concebida
como ramo da Histria especializado na Cultura Material. Em 1937 o GAIMK
passou a designar-se por Instituto de Histria da Cultura Material (na dcada de
1950 re-baptizado de Instituto de Arqueologia), integrando a Academia Sovitica
das Cincias. No seu seio, desenvolver-se-ia uma seco especializada em aspectos
tcnicos, enquanto os estudos de etnognese ganhariamnovo alento.
A Arqueologia histrico-cultural, muito criticada a partir dos anos 70,
foi a responsvel pela fundao da arqueologia como disciplina rigorosa. Os
mtodos da estratigrafia, da seriao, da classificao, da escavao em rea, da
anlise funcional,... so o seu produto. Sobretudo, seja na sua expresso ocidental,
com Gordon Childe, como, sobretudo, na sua verso sovitica, o histrico-
culturalismo acabaria por destacar a importncia de recusar uma Pr-Histria
meramente tipolgica e descritiva, antes propondo esquemas interpretativos que
faziam apelo ao que hoje designamos por cultura imaterial.
A evoluo ulterior da Pr-Histria, mesmo durante o seu perodo neo-
positivista (entre o final da II Guerra Mundial e a dcada de 1980), aprofundou a
reflexo epistemolgica sobre a natureza do conhecimento em Pr-Histria, e em
particular sobre o papel dos no especialistas na construo do discurso cientfico.
The public also makes a difference. In fact, whereas there are certain elements
which are traditionally known and appreciated, there others in exactly theopposite
situation (GONZLEZ MENDZ, 2000: 28).
Na medida em que a Pr-Histria, nos seus intentos interpretativos, faz
recurso aos modelos de origem etnogrfica, propondo-se contar uma histria de
base rigorosa, mas de estrutura argumentativa, ela aproxima-se do conhecimento
Luiz Oosterbeek
Cadernos do LEPAARQ - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimnio
52
oral, antes referido. Com efeito, a Pr-Histria, e com ela a arqueologia histrica das
sociedades com escassa documentao escrita (comunidades rurais, escravos, etc.),
s pode ser compreendida se recorrer dimenso imaterial.
Como refere Mons. Marchisanno (2002: 37) Larte per la sua
immediatezza e visualit strumento di catechesi cos che lannunzio del Vangelo
stato concretizzato in innumerevoli cicli iconografici. Com efeito, a arte, a
arquitectura, proporcionam uma leitura imediata, mesmo que errada. So
testemunhos que, na origem, foram concebidos para desencadear emoes e que so
interpretados como tal por qualquer grupo humano. Castelos, Igrejas, Palcios... mas
tambm certos artefactos mveis, como as esculturas do Aleijadinho ou os quadros
de Van Gogh, todos tm um sentido decorrente da imediata integrao no ambiente
em que ns mesmos nos situamos. O seu contexto , de alguma forma, tambmo
nosso.
O mesmo no acontece com os testemunhos Pr-Histricos. Os dlmens
e os sambaquis, a cermica marajoara e os zolitos, as gravuras do Piau e as casas
subterrneas do Sul, so elementos materiais que no se enquadram no nosso
quotidiano, que j no tm nenhuma funo nele. Contrariamente s Igrejas das
Misses ou s runas de Pompeia, em relao aos testemunhos Pr-Histricos,
rompeu-se o vnculo entre ns e os seus produtores originais, que no sabemos
nomear. A reconstruo em Pr-Histria, para o grande pblico, assemelha-se mais
fico cientfica do que fico histrica e a sua plena interpretao apenas
possvel, fora do estrito ncleo de especialistas, atravs de uma didctica especfica
que leve a ver nesses vestgios os gestos e comportamentos que os originaram.
neste plano que a Pr-Histria constri a ponte entre o Patrimnio construdo e o
Patrimnio imaterial.
CONCLUSES
Pelo facto de a modernidade se definir como ruptura,
a tradio representa a nica fonte possvel de sentido.
(RODRIGUES, 1996: 308)
A gesto integrada do Patrimnio Cultural a forma como ele poder
permanecer relevante para o futuro da nossa sociedade. A gesto integrada um
programa transdisciplinar, que implica a identificao, o inventrio, o estudo, a
Arqueologia Pr-Histrica: entre a cultura material e o patrimnio intangvel
V. I, n 2. Pelotas, RS: Editora da UFPEL. Jul/Dez 2004.
53
conservao e a valorizao dos testemunhos materiais e imateriais, superando a sua
dicotomia.
Gerir o Patrimnio negociar a relao entre propriedade
(conjuntural) e memria (essencial), tendo o duplo objectivo de assegurar a
conservao (para as geraes futuras) e a fruio (pelas geraes actuais), assim
assegurando a relao com as geraes passadas.
Trata-se de um processo de mediao de conflitos: entre propriedade e
essncia, entre o individual e o colectivo, entre preservao e fruio, entre
descrio e interpretao. Mas uma mediao dinmica, que sai das antteses para
gerar novas realidades, novas perspectivas do Patrimnio. Como referem
RUNESSON & HALLIN (2002: 106): The man-made world, unlike a natural
landscape, should not be viewed as a passive background.
Uma gesto transversal de qualidade (QUAGLIUOLO, 2001;
OOSTERBEEK, 2002), dever encarar a estreita relao entre a investigao e a
didctica, propondo o passado como um campo de possibilidades com graus
diversos de probabilidade. O facto de a Pr-Histria ser uma realidade construda
sem recurso memriaescrita, confere-lhe uma dimenso virtual, cuja materialidade
decorre dainterveno fsica dos seus factores (o arquelogo que escava e d luz
os vestgios, que emergem quando finalmente vistos, tocados), sendo muitas vezes
restituda pelas tecnologias de RV, que materializam os discursos interpretativos.
Esta dimenso prxica da construo do Patrimnio Pr-Histrico, em que intervm
muitos no especialistas, contribui para uma viso holstica da realidade, para a
compreenso participada da diversidade cultural (a Pr-Histria um supremo
esforo de reconhecimento da alteridade) e para o reforo das identidades culturais
ancestrais (sublinhando a existncia de um Patrimnio comum da Humanidade).
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
BOSH-GIMPERA, Pedro. Etnologia de la Peninsula Iberica. Barcelona: 1932.
BOUCHENAKI, Mounir. Editorial. In: Museum International. Oxford: UNESCO &
Blackwell Pub, vol. 221-222, 2004, pp. 6-10.
CHILDE, V. Gordon. Introduo Arqueologia. Mem Martins: Publicaes
Europa-Amrica, 1977.
_________________. A aurora da civilizao europia. Lisboa: Portuglia Editora,
1969.
Luiz Oosterbeek
Cadernos do LEPAARQ - Textos de Antropologia, Arqueologia e Patrimnio
54
DAMSIO, Antnio. O sentimento de si: O corpo, a emoo e a neurobiologia da
conscincia. MemMartins: Publicaes Europa-Amrica, 2001.
_________________. Ao encontro de Espinosa: As emoes sociais e a neurologia
do sentir. Mem Martins: Publicaes Europa-Amrica, 2003.
GONZLEZ MNDEZ, Matilde. Evaluation of the historic interest of cultural
elements as management technology. In: La Gestione del Patrimonio Culturale -
Atti del IV Colloquio Internazionale Nuove Tecnologie e Beni Culturali e
Ambientali. Roma: DRI, 2000, pp. 26-37.
GOODY, J ack. The transcription of oral Heritage. In: Museum International.
Oxford: UNESCO & Blackwell Pub, vol. 221-222, 2004, pp. 91-95.
KOSSINA, Gustaf. Die Herkunft der Germanen. 1911.
LVI-STRAUSS, Claude. Relations of symmetry between rituals and myths of
neighboring peoples. In: Structural Anthropology 2. New York: Penguin Books,
1976, pp. 238-255.
MARCHISANO, Francesco. La gestione dei beni storico-artistici nel loro valore
culturale, sociale, religioso. In: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del VI
Colloquio Internazionale Qualit e beni culturali e ambientali. Roma: DRI, 2002,
pp. 32-39.
MITHEN, Steven. The Prehistory of the mind: The cognitive origins of art and
science. New York: Thames and Hudson, 1996.
OOSTERBEEK, Luiz. A past for the future and a past for the present. In: La
Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del IV Colloquio Internazionale Nuove
Tecnologie e Beni Culturali e Ambientali. Roma: DRI, 2000, pp. 22-24.
_________________. Cultural Heritage and Human rights: a matter for long life
learning. In: La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del V Colloquio
Internazionale Formazione, Occupazione e Beni Culturali e Ambientali. Roma:
DRI, 2001, pp. 212-215.
________________. Absolute quality: a point of view. In: La Gestione del
Patrimonio Culturale - Atti del VI Colloquio Internazionale Qualit e beni
culturali e ambientali. Roma: DRI, 2002. pp. 230-233.
QUAGLIUOLO, Maurizio. Quali manager per i ben culturali e ambientali? In: La
Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del V Colloquio Internazionale
Formazione, Occupazione e Beni Culturali e Ambientali. Roma: DRI, 2001, pp. 14-
15.
RAVDONIKAS, V. Istoriya pervobitnogo oblscestva (A histria da sociedade pr-
histrica). Leningrado: 1939.
RODRIGUES. Tradio e Modernidade. In: Revista da Faculdade de Cincias
Sociais e Humanas. Lisboa: Ed. Colibri, n. 9, pp. 301-308, 1996.
RUNESSON, Lennart & GUNILLA, Hallin. Roses and Ruins, Myth and Reality. In:
La Gestione del Patrimonio Culturale - Atti del VI Colloquio Internazionale
Qualit e beni culturali e ambientali. Roma: DRI, 2002, pp. 100-107.
TYLOR, Edward B. Primitive Culture: researches into the development of
mythology, philosophy, religion, language, art and custom. London: J .Murray &
G.P. Putnams sons, 1920.
Você também pode gostar
- Rafhael FrattariDocumento6 páginasRafhael FrattariJuNioR JRAinda não há avaliações
- Articulo Publicado Eco-FastDocumento6 páginasArticulo Publicado Eco-Fast14091967Ainda não há avaliações
- Slide As Duas CasasDocumento10 páginasSlide As Duas CasasamikessiaAinda não há avaliações
- Programação LinearDocumento15 páginasProgramação LinearEdson MiguelAinda não há avaliações
- BARIATRICA Relatorio Final PARA ImprimirDocumento11 páginasBARIATRICA Relatorio Final PARA Imprimiravaliacaoneuropsicologica44Ainda não há avaliações
- Resumo E Deixou de Ser ColôniaDocumento5 páginasResumo E Deixou de Ser ColôniaWillian BentesAinda não há avaliações
- Oficio Circular 1 2018 Sei Drei SempeDocumento3 páginasOficio Circular 1 2018 Sei Drei SempeSun MoonAinda não há avaliações
- 21 Minutos de Poder Na Vida de Um Líder-CompletoDocumento205 páginas21 Minutos de Poder Na Vida de Um Líder-CompletoksiorogerAinda não há avaliações
- Apostila - MSP430 - PeriféricosDocumento11 páginasApostila - MSP430 - Periféricosfilipetaveiros100% (1)
- Vesicula Biliar USGDocumento7 páginasVesicula Biliar USGndjordaoAinda não há avaliações
- Apostila - Fundamentos de Geometria Mercio Botelho Faria Braulia A. Almeida PerazioDocumento72 páginasApostila - Fundamentos de Geometria Mercio Botelho Faria Braulia A. Almeida PerazioElpatron YNAinda não há avaliações
- Caso Clínico 6Documento2 páginasCaso Clínico 6AndréAinda não há avaliações
- Roteiro de Leitura Psicologia Comunitária 1104Documento2 páginasRoteiro de Leitura Psicologia Comunitária 1104Villy LopesAinda não há avaliações
- 062 - A CURA PELA GRATIDÃO Mensagens e Reflexões P Mudar Sua VidaDocumento15 páginas062 - A CURA PELA GRATIDÃO Mensagens e Reflexões P Mudar Sua VidaMisterFilmes Everaldo FilmagemAinda não há avaliações
- Linguagem Oral - Mapa MentalDocumento1 páginaLinguagem Oral - Mapa MentalFrancisco BorgesAinda não há avaliações
- Lista - 4 1Documento5 páginasLista - 4 1Gustavo OliveiraAinda não há avaliações
- 10+art +17235+-+ATIVIDADE+EPILINGUÍSTICA,+DOS+PRINCÍPIOS+À+CARACT +TEÓRICO-METODOLÓGICA+ediçãoDocumento27 páginas10+art +17235+-+ATIVIDADE+EPILINGUÍSTICA,+DOS+PRINCÍPIOS+À+CARACT +TEÓRICO-METODOLÓGICA+ediçãoNathan Bastos de SouzaAinda não há avaliações
- O Islamismo e A Besta Do Apocalipse - Contra o IslamismoDocumento26 páginasO Islamismo e A Besta Do Apocalipse - Contra o IslamismoElieberSouzaMacieldeLimaAinda não há avaliações
- Centro Territorial de Educaçao Profissional Do - 050514Documento13 páginasCentro Territorial de Educaçao Profissional Do - 050514Sâmela MacedoAinda não há avaliações
- Do Do 100+Dicas+Fatais+de+PROCESSO+PENAL-DesbloqueadoDocumento17 páginasDo Do 100+Dicas+Fatais+de+PROCESSO+PENAL-Desbloqueadovieira.280110Ainda não há avaliações
- Slides - Modelos, Metodologias, Etapas de Análise de Acidentes de Trabalho e Tecnologias de Prevenção e Combate A SinistrosDocumento24 páginasSlides - Modelos, Metodologias, Etapas de Análise de Acidentes de Trabalho e Tecnologias de Prevenção e Combate A SinistrosNixon NixonAinda não há avaliações
- Pneumatologia 5Documento25 páginasPneumatologia 5Josan RafaelAinda não há avaliações
- Pragas e InfestantesDocumento19 páginasPragas e InfestantesPedro Tome Dias100% (1)
- Psicologia e Deficiência - Considerações IniciaisDocumento25 páginasPsicologia e Deficiência - Considerações IniciaisXandra CicariniAinda não há avaliações
- Aula V - Fisiopatologia Das Doenças Respiratórias - 3619a10ad4e5281ea6a3d1c0388696Documento60 páginasAula V - Fisiopatologia Das Doenças Respiratórias - 3619a10ad4e5281ea6a3d1c0388696Bizeiro Angelo AngeloAinda não há avaliações
- Protocolo de Enfermagem ISTDocumento66 páginasProtocolo de Enfermagem ISTcristianaAinda não há avaliações
- Traçado CefalométricoDocumento106 páginasTraçado CefalométricoCaroline BrígidaAinda não há avaliações
- A Mente MoralistaDocumento2 páginasA Mente MoralistaGrazi BiancuzziAinda não há avaliações
- Redação FábulaDocumento3 páginasRedação Fábulapedrorufino_Ainda não há avaliações
- Artigo AglomerantesDocumento11 páginasArtigo AglomerantesRenan Almeida BacciAinda não há avaliações