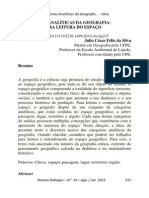Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Natureza No Espaço - Milton Santos
A Natureza No Espaço - Milton Santos
Enviado por
rogeriosousafelix0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações11 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
8 visualizações11 páginasA Natureza No Espaço - Milton Santos
A Natureza No Espaço - Milton Santos
Enviado por
rogeriosousafelixDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
GEOGRAFARES, n 6, 2008 155
A natureza do espao para
Milton Santos
INTRODUO
O espao se globaliza, mas no mundial
como um todo, seno como metfora. Todos
os lugares so mundiais, mas no h espao
mundial. Quem se globaliza, mesmo, so as
pessoas e os lugares. (SANTOS, 1994, p. 31)
No h espao global e sim espaos de glo-
balizao, no existe um tempo global e
nico mas somente um relgio mundial, e
as redes globais transportam o universal ao
local. Todavia, so as redes locais as cons-
tituidoras das condies tcnicas do traba-
lho direto. Os vetores da hegemonia criam
localmente uma desordem, suas normas so
indiferentes aos contextos nos quais se inse-
rem pois sua fnalidade o mercado global,
a mais-valia universal. Pontos distantes so
unidos, pela telecomunicao, numa mesma
lgica produtiva, estabelecendo processos
globais. O mundo, ativo atravs das empre-
sas gigantes, um conjunto de possibilida-
des dependente das oportunidades ofertadas
pelos lugares; ele necessita da mediao dos
lugares pois estes que lhe oferecem a pos-
sibilidade de realizao, de se tornar espao.
A ordem global procura impor uma nica ra-
cionalidade e os lugares vo responder con-
forme os modos de sua prpria racionalidade.
Estas so algumas das afrmaes do gegra-
A NATUREZA DO ESPAO PARA
MILTON SANTOS
Rui Ribeiro de Campos
Graduado em Geografa, Mestre em Educao pela PUC-Campinas, Doutor em Geografa pela UNESP,
Professor de Epistemologia da Geografa, Pensamento Geogrfco Brasileiro e Geografa Poltica da
Faculdade de Geografa na PUC-Campinas
fo Milton Santos (1926-2001) a respeito do
mundo, uma soma, que tambm sntese,
de eventos e lugares. A cada momento, mu-
dam juntos o tempo, o espao e o mundo.
Por isso, em cada perodo histrico o espao
geogrfco outro, e as ferramentas concei-
tuais para a sua anlise precisam ser revita-
lizadas. Da ser difcil estabelecer o signif-
cado de diversos conceitos utilizados pelo
autor, notadamente de um gegrafo fecundo,
pois eles no possuem o mesmo signifcado
em toda a sua trajetria intelectual. O con-
ceito de espao geogrfco um exemplo.
Um dos motivos o fato de a realidade es-
tar sempre se modifcando, se tornando mais
complexa e fazendo com que o conceito no
d mais conta de seu entendimento pois se
aplicava a uma outra realidade. Outro mo-
tivo est no fato de que, no incio de uma
carreira, normalmente se adota os conceitos
dominantes no ambiente universitrio viven-
ciado como aluno. E ainda, porque caracte-
riza o verdadeiro intelectual a busca perma-
nente, a crtica constante, principalmente de
si mesmo. Dogmatismos empedernidos no
habitam a mente de intelectuais verdadeiros.
Por estas razes e pelos objetivos deste tex-
to, preferimos fcar com o signifcado dado
a diversos conceitos em duas de suas obras
GEOGRAFARES, n 6, 2008 156
Rui Ribeiro de Campos
recentes. E de maneira alguma se pretende
aqui esgotar os signifcados dos mesmos.
Nossa pretenso procurar desvendar o pen-
samento de um autor signifcativo, realizar
uma introduo ao pensamento de Milton
Santos (ou seja, a primeira fnalidade did-
tica) e proporcionar um pequeno texto para
debates. uma tentativa de apresentar alguns
conceitos por ele utilizados e/ou criados. No
nossa inteno uma anlise dos mesmos e
nem, a partir deles, procurar aqui um enten-
dimento do mundo e de seu atual perodo.
A NATUREZA DO ESPAO
A Geografa, se tem a pretenso de ser trata-
da como uma cincia, precisa ter uma forma
especfca de analisar a contemporaneidade.
Se estabelecer como eixo a anlise do terri-
trio, realizar uma anlise mais abrangente
e integradora do que outras cincias, se estas
se limitarem a partes, ao presente ou a inte-
resses minoritrios, e no estiverem voltadas
a um futuro mais justo, pacfco e universa-
lizante da cidadania. A anlise do presen-
te deve descobrir nele o futuro que projeta;
se no o almejado, propostas e aes para
abort-lo devem ser feitas. Um economista
que prope que uma nao se abstenha da
conduo de seu prprio destino, que ana-
lisa as medidas poltico-econmicas sob a
tica de interesses hegemnicos de grupos
externos, que sobrepe o mercado socie-
dade, alm de ser um simples servial, no
um cientista social e nem um intelectual,
na signifcao mais profunda destes termos.
Se o gegrafo reconhece uma inseparabili-
dade entre sociedade e espao geogrfco,
se consegue ver o territrio como objeto das
aes e tambm como sujeito, como fazia
Milton Santos, no s estabelece uma forma
geogrfca de compreender o mundo, como
o faz diferente de outras abordagens e com
importncia social por possuir uma viso no
fragmentada dos processos existentes, pois o
territrio o atual objeto da Geografa ana-
lisado como algo dinmico, o grande reve-
lador dos principais problemas de uma nao.
O ponto de partida da anlise de Milton San-
tos a noo de espao como [...] o conjunto
indissocivel de sistemas de objetos naturais
ou fabricados e de sistemas de aes, deli-
beradas ou no. (SANTOS, 1994, p. 49)
o espao, portanto, o meio, o lugar material
da possibilidade dos eventos. Desta noo
procura reconhecer as categorias analticas
internas (como paisagem, confgurao ter-
ritorial, diviso territorial do trabalho, es-
pao produzido ou produtivo, rugosidades,
formas-contedo), levanta a questo dos re-
cortes espaciais (debatendo problemas como
regio e lugar, rede e escalas) e discute a
questo da racionalidade do espao, prop-
sitos que pressupem o reconhecimento de
alguns processos bsicos que, originaria-
mente, so externos ao espao (como tc-
nica, ao, objetos, normas e eventos, uni-
versalidade e particularidade, totalidade e
totalizao, smbolos e ideologia, e outros).
O espao geogrfco indissocivel do tem-
po. , no dizer de Carlos Walter Gonalves,
[...] um espao-tempo, para o que a perio-
dizao se torna central enquanto fundamen-
to terico-metodolgico (apud SANTOS,
2002, p. 179), pois ela permite a identifcao
do que novo no processo e possibilita uma
ao transformadora lcida. [...] o espao
tem um papel privilegiado, uma vez que ele
cristaliza os momentos anteriores e o lugar
de encontro entre esse passado e o futuro,
mediante as relaes sociais do presente que
nele se realizam. (SANTOS, 1994, p. 122)
Quando um novo momento chega para subs-
tituir outro, ele encontra no espao geogrf-
co formas preexistentes s quais ele deve se
adaptar para poder se estabelecer (1978). As-
sim, o espao a condio para a realizao
do novo modo de produo e os objetos geo-
grfcos existentes, instalados para realizar os
objetivos da produo em um dado momento,
infuenciam o modo que se instala e podem
permanecer com novas funes e retratando
o passado que possibilitou o perodo atual.
Estas sobras materiais foram por ele de-
nominadas de rugosidades, uma metfora
de inspirao geomorfolgica. So obje-
tos do passado que permanecem e servem
2. Normalmente, o autor usa a
expresso sistema de objetos re-
ferindo-se ao conjunto de artefatos
tcnicos construdos pelo trabalho
humano ao longo do tempo, dando
menor relevncia aos artefatos ditos
naturais.
1. Este texto se baseia, essencialmen-
te, em dois livros de Milton Santos:
A natureza do espao: tcnica e tem-
po, razo e emoo. So Paulo: HU-
CITEC, 1996 (308 pp.), e Tcnica,
espao, tempo: globalizao e meio
tcnico-cientfco informacional.
So Paulo: HUCITEC, 1994 (190
p). Foi elaborado, com fnalidades
basicamente didticas, de introdu-
o ao pensamento miltoniano.
GEOGRAFARES, n 6, 2008 157
A natureza do espao para
Milton Santos
ao presente; existiram como signifcado
e se comportam como um trao de unio
com os novos signifcados da vida social.
As rugosidades so o espao construdo, o tem-
po histrico que se transformou em paisagem,
incorporado ao espao. [...] nos oferecem [...]
restos de uma diviso de trabalho internacio-
nal, manifestada localmente por combinaes
particulares do capital, das tcnicas e do traba-
lho utilizados. [...] O modo de produo que,
[...] cria formas espaciais fxas, pode desapa-
recer e isto feqente sem que tais formas
fxas desapaream. (SANTOS, 1978, p. 138)
A periodizao permite entender o movimen-
to do mundo, permite compreender que o
homem que, bem ou mal, o constri ( por
isso que a atual globalizao no irrever-
svel), que tempos diversos coabitam num
mesmo perodo e que, mudando a realidade,
o instrumental precisa ser readequado. Se o
espao um sistema, ele um conjunto de
elementos, materiais ou no, entre os quais
existe uma relao que deve ser procurada
e defnida. um todo, permeado por idias
ou princpios que lhe do sentido e expli-
cam sua estrutura, seus resultados. E, como
um sistema aberto do mundo dos fsicos,
pode trocar energia e massa com o exterior.
Se o espao geogrfco um sistema de obje-
tos, ele um conjunto de coisas que, funcio-
nalmente entrelaadas, formam um todo coe-
rente e constituem uma unidade completa. Se
um sistema de aes, um conjunto de ges-
tos, foras, atos, atitudes, que fazem mover a
sociedade. Um sistema infuencia o outro e
por ele infuenciado, formando um conjunto
maior chamado espao geogrfco. Visto as-
sim, os dois conjuntos so indissociveis e
a amplitude deste todo na anlise geogrfca
depende da escala de anlise. E a anlise des-
tes sistemas que permite levantar os proble-
mas e no s os econmicos da totalidade
estabelecida. Por isso, parece-nos que, em
determinados momentos, espao geogrfco,
meio geogrfco e territrio usado, so con-
ceitos quase similares nos textos miltonianos
4
.
Tendo como eixo o fenmeno tcnico, visto
como um todo, e a partir das condies da
5. Meio tcnico-cientfco: [...] o
momento histrico no qual a cons-
truo ou reconstruo do espao se
dar com um crescente contedo de
cincia e de tcnicas. [...] O fm do
sculo XVIII e, sobretudo, o sculo
XIX vem a mecanizao do territ-
rio: o territrio se mecaniza. ..., esse
momento o momento da criao
do meio tcnico, que substitui o meio
natural. [...] A partir, sobretudo, do
fm da Segunda Guerra Mundial
[...] as remodelaes que se impem,
tanto no meio rural, quanto no meio
urbano, no se fazem de forma in-
diferente quanto a esses trs dados:
cincia, tecnologia e informao.
(SANTOS, 1994, p. 139) O pero-
do tcnico cientfco que possibilita
inventar a natureza, criar sementes
como se elas fossem naturais (Ibi-
dem, p. 143); foi a biotecnologia
que permitiu que os cerrados do
Centro-Oeste se transformassem em
um caleidoscpio de produtos.
tcnica atual (informacional), defne o atual
meio geogrfco como tcnico-cientfco-in-
formacional. Nos espaos da racionalidade,
[...] o mercado tornado tirnico e o Estado
tende a ser impotente. Tudo disposto para que
os fuxos hegemnicos corram livremente, des-
truindo e subordinando os demais fuxos. Por
isso, tambm, o Estado deve ser enfaquecido,
para deixar campo livre (e desimpedido) ao
soberana do mercado. (SANTOS, 1994, p. 34)
O meio geogrfco, que j foi meio natural
e meio tcnico, atualmente um meio tc-
nico-cientfco-informacional, pois cincia,
tecnologia e informao constituem a base
tcnica da vida social atual. No comeo da
Histria, segundo Santos (1994, p. 49), exis-
tiam tantos sistemas tcnicos quanto eram
os lugares; no decorrer da mesma aconteceu
uma diminuio da quantidade de sistemas
tcnicos, principalmente durante o capitalis-
mo, que acelerou o movimento de unifca-
o, de tal modo que atualmente se observa
a predominncia de um nico sistema tc-
nico como base material da mundializao.
Pela primeira vez na histria do homem, nos
defontamos com um nico sistema tcnico,
presente no Leste e no Oeste, no Norte e no Sul,
superpondo-se aos sistemas tcnicos precedentes,
como um sistema tcnico hegemnico, utilizado
pelos atores hegemnicos da economia, da cul-
tura, da poltica. (SANTOS, 1994, p. 42/43)
O meio tcnico-cientfco
5
formado pela
tecnoesfera e psicoesfera. A primeira, [...]
o resultado da crescente artifcializao do
meio ambiente. A esfera natural crescente-
mente substituda por uma esfera tcnica, na
cidade e no campo. A psicoesfera, por sua
vez, [...] o resultado das crenas, desejos,
vontades e hbitos que inspiram comporta-
mentos flosfcos e prticos, as relaes in-
terpessoais e a comunho com o Universo.
(SANTOS, 1994, p. 32) A tecnoesfera ,
portanto, [...] uma natureza crescentemen-
te artifcializada, marcada pela presena de
grandes objetos geogrfcos, idealizados e
construdos pelo homem, articulados entre si
em sistemas (Ibidem, p. 127) O prtico-iner-
te local
6
formado por uma tecnoesfera (a
4. Em seus ltimos textos, Milton
Santos preferia a palavra meio es-
pao, tanto por ser esta mais usada
para o espao sideral, quanto pela
palavra espao ter ganhado um uso
crescentemente metafrico em diver-
sas cincias.
3. Do grego, systema: reunio,
grupo.
GEOGRAFARES, n 6, 2008 158
Rui Ribeiro de Campos
esfera do mundo tcnico que se superpe e
tantas vezes substitui a natureza SANTOS,
2002, p. 106 , que mais pertence ao reino da
necessidade) e por uma psicoesfera (um dado
emprico no-material, que pertence ao rei-
no da liberdade). Concebe as tcnicas como
sistemas demarcadores de diversas pocas e
como algo onde o humano e o no-humano
so inseparveis. So elas [...] um conjun-
to de meios instrumentais e sociais, com os
quais o homem realiza a sua vida, produz e,
ao mesmo tempo, cria espao (SANTOS,
1996, p. 25) e as tcnicas nos do a forma
principal da relao homem-natureza, de in-
termediao da unio, no trabalho, entre es-
pao e tempo. Fundamentos possveis de uma
teoria do espao o espao formado de ob-
jetos tcnicos , as tcnicas so datadas e se
constituem em uma medida do tempo. Entre-
tanto, a considerao das tcnicas de produ-
o de modo isolado leva a uma maior com-
partimentao da realidade (espao agrcola,
espao industrial, espao dos transportes, e
outros) e, por isso, a noo de espao geo-
grfco s pode ser alcanada se o fenmeno
tcnico for visto em sua total abrangncia.
Apesar de suas vocaes originais, o espao
o redefnidor dos objetos tcnicos ao coloc-
los num conjunto coerente, e o valor de cada
elemento dado pelo conjunto da sociedade.
O meio geogrfco foi durante milnios um
meio natural (pr-tcnico), durante dois ou
trs sculos um meio tcnico (maqunico) e
hoje um meio tcnico-cientfco-informacio-
nal. Toda tcnica contm histria, a revela,
congelando o tempo, e no se deve pensar
em um espao geogrfco situado fora do
tempo o transcurso, a sucesso de eventos
e sua trama. Da ser a sociedade humana se
realizando no uso de seu espao e de seu
tempo o ponto de partida, e o lugar, ao rela-
tivizar seu uso e integr-las num conjunto, o
atribuidor de realidade histrica s tcnicas.
Nas fases anteriores da Histria, as ati-
vidades dependeram da tcnica e da ci-
ncia mas, recentemente, ocorre uma in-
terdependncia da cincia e da tcnica
em todos os aspectos da vida, fato que
se verifca em todas as partes do mundo.
Nesta nova fase histrica, o Mundo est marcado
por novos signos, como: a multinacionalizao das
frmas e a internacionalizao da produo e do
produto; a generalizao do fenmeno do crdito,
que refora as caractersticas da economizao da
vida social; os novos papis do Estado em uma so-
ciedade e uma economia mundializadas; o fenesi
de uma circulao tornada fator essencial da acu-
mulao; a grande revoluo da informao que
liga instantaneamente os lugares, graas aos pro-
gressos da informtica. (SANTOS, 1994, p. 123)
Assim, na Geografa, o tempo deve ser traba-
lhado pelo eixo das coexistncias, da simulta-
neidade (diferente do tempo como sucesso,
que o chamado tempo histrico). Em um lu-
gar, o tempo das diversas aes e dos diversos
agentes, o modo como utilizam o tempo, no
o mesmo. Os fenmenos que acontecem so
tambm concomitantes. O tempo como suces-
so o que se chama de tempo histrico, mas
o tempo geogrfco o da simultaneidade.
No espao, para sermos crveis, temos de con-
siderar a simultaneidade das temporalidades
diversas. [...] ... no h nenhum espao em
que o uso do tempo seja o mesmo para todos os
homens. Pensamos que a simultaneidade dos
diversos tempos sobre um pedao da crosta da
Terra que seja o domnio propriamente dito
da Geografa. (SANTOS, 1994, p. 164).
A Geografa deve se ocupar das relaes entre
a sociedade e seu entorno em diversas escalas,
tanto de toda a comunidade humana como do
lugar menor. Subdividir esta cincia tirar o
seu carter globalizante. No h como separar
sociedade e espao geogrfco, no importa o
sentido dado a este ltimo, pois o que chama-
mos de meio geogrfco o resultado de [...]
uma adaptao sucessiva da face da Terra s
necessidades dos homens (SANTOS, 2002,
p. 81). Esse meio, em cada perodo histrico,
um novo meio e ele se torna mais produtivo
quanto maior for o seu contedo em cincia,
tecnologia e informao. Por isso, o rotulou
de meio tcnico-cientfco-informacional;
mas o meio no se manifesta de modo igual
no planeta, sendo em alguns lugares (como
Europa, Amrica Anglo-Saxnica, Japo e
parte da Amrica Latina) de forma extensa e
contnua, e em outros (o restante do mundo)
apenas se manifestando como manchas ou
6. Categoria do prtico-inerte (de
Sartre): o resultado de totalizaes
do passado, criando confguraes
resistentes na vida social. (SAN-
TOS, 1994, p. 84)
GEOGRAFARES, n 6, 2008 159
A natureza do espao para
Milton Santos
pontos. Uns so espaos adaptados s exi-
gncias das aes caractersticas da globali-
zao (espaos luminosos); outros so reas
no dotadas das virtualidades necessrias ao
atual momento (espaos opacos). Tambm
por isso que afrmou que no existe espao
global, mas apenas espaos de globalizao.
De qualquer modo, o espao uma
reunio dialtica de fxos e fuxos. O
[...] espao como conjunto contraditrio, formado
por uma confgurao territorial e por relaes de
produo, relaes sociais; e, fnalmente, [...] o
espao formado por um sistema de objetos e um
sistema de aes. Foi assim em todos os tempos,
s que hoje os fxos so cada vez mais artifciais
e mais fxos, fxados ao solo; os fuxos so cada
vez mais diversos, mais amplos, mais numero-
sos, mais rpidos. (SANTOS, 1994, p. 110)
Os fxos, que podem ser fbrica, plantao,
casa, loja ou porto, emitem fuxos que se
constituem em movimentos entre os fxos.
Os fuxos necessitam dos fxos para se rea-
lizarem e so comandados pelas relaes so-
ciais. Se os fxos so alterados pelos fuxos,
estes tambm se modifcam ao encontro dos
fxos. Os fuxos no tm a mesma rapidez, a
mesma velocidade. As coisas que fuem e que
so materiais (produtos, mercadorias, mensa-
gens materializadas) e no materiais (idias,
ordens, mensagens no materializadas) no
tm a mesma velocidade. (SANTOS, 1994,
p. 166) Os fxos podem ser econmicos, so-
ciais, religiosos, culturais, e outros, como lo-
jas, hospitais, escolas, praas, hotis. H fxos
pblicos, que se instalam com base em prin-
cpios sociais, e fxos privados, localizados
segundo a lei da oferta e da procura, segundo
as exigncias do lucro. Uma cidade um fxo
cruzado por fuxos (pessoas, mercadorias, or-
dens, idias, ...). Uma cidade difere da outra
tambm por seus fxos e seus fuxos (diversos
em volume, durao, intensidade e sentido) e a
alterao deles modifca a prpria signifcao
da cidade para seus moradores, signifcao
que diferente conforme as classes sociais.
O aparecimento de dois novos fenmenos
constitui a base de explicao histrica da
nova realidade do espao. Um uma ver-
dadeira unicidade tcnica, pois em todos
os lugares os conjuntos tcnicos existentes
so, aparentemente, os mesmos, a despei-
to dos diferentes graus de complexidade;
outro a fragmentao do processo produ-
tivo em escala internacional, que se efetua
em funo desta mesma unicidade tcnica.
Antes, os sistemas tcnicos eram apenas locais, ou
regionais, e to numerosos quantos eram os luga-
res ou regies. Quando apresentavam traos seme-
lhantes no havia contemporaneidade entre eles, e
muito menos interdependncia funcional. Por ou-
tro lado, a impulso que recebem esses conjuntos
tcnicos atuais (ou suas faes) nica, vinda de
uma s fonte, a mais-valia tornada mundial ou
mundializada, por intermdio das frmas e dos
bancos internacionais. (SANTOS, 1994, p. 125)
Os atuais sistemas tcnicos se defnem pela
sua onipresena, pela universalidade e por sua
tendncia unifcao. Os dominantes, [...]
aqueles que servem aos atores hegemnicos
da economia, da cultura, da poltica, tendem a
ter a mesma composio em todos os lugares.
(SANTOS, 1994, p.112) Estes exigem cada
vez mais uma unidade de comando. Outro
aspecto importante que os objetos [...] so
criados com intencionalidades precisas, com
um objetivo claramente estabelecido de ante-
mo. Da mesma forma, cada objeto tambm
localizado de forma adequada a que produza
os resultados que dele se esperam. (Ibidem)
A intencionalidade mercantil mas, freqen-
temente, antes simblica (por exemplo, a
obra a ser feita a salvao da regio, vai
trazer o progresso ou a modernidade); ou
seja, estes objetos novos exigem discursos.
Nas regies [...] onde o sistema de objetos
e o sistema de aes so mais densos, a est
o centro do poder. (Ibidem, p. 114) Onde
so menos complexos e menos inteligentes,
reside a sede da dependncia, da incapaci-
dade de dirigir a si mesmo. O termo regio
7
signifca reger, comandar, mas atualmente
[...] h cada vez mais regies que so apenas re-
gies do fazer, e, cada vez menos, regies do man-
dar, regies do reger. Aquelas que so regies do
fazer so cada vez mais regies do fazer para os
outros. [...] Os objetos obedecem a quem tem o
7. Em latim, Rego, regere signifca
(em sentido fgurado): ter o coman-
do de, dirigir, reger, comandar.
GEOGRAFARES, n 6, 2008 160
Rui Ribeiro de Campos
poder de comand-los. [...] No por acaso que
a raiz da palavra ciberntica a mesma da pala-
vra governador. [...] Conhecendo os mecanismos
do mundo, percebemos por que as intencionalida-
des estranhas vm instalar-se em um dado lugar,
e nos armamos para sugerir o que fazer no inte-
resse social. (SANTOS, 1994, p. 114, 116 e 117)
O conjunto de objetos geogrfcos nos d a
confgurao territorial e nos defne o prprio
territrio e so cada vez mais carregados de
informao
8
. Aqueles criados pelas atividades
hegemnicas so dotados de intencionalidade
especfca, o que faz com que o nmero de
fuxos sobre o territrio se multiplique tam-
bm. (Ibidem, p. 140) H objetos que so o
tempo cristalizado mas no se faz, necessa-
riamente o que se quer com os mesmos, pois
tambm decidem o que se pode fazer com eles.
Entretanto, o espao atualmente, um siste-
ma de objetos cada vez mais artifciais e mais
tendentes a fns que so estranhos ao lugar
e a seus moradores. Para Santos, interessam
Geografa os objetos mveis e os imveis,
mas objetos como sistemas e no somente
como colees. Integrante do presente, o ob-
jeto no um vestgio da ao mas seu teste-
munho; a signifcao e o valor geogrfcos
dos objetos derivam do papel desempenhado
por eles no processo social, dentro de um sis-
tema de aes. Hoje, muitas das aes exer-
cidas em um lugar derivam de necessidades
alheias, o que fora a distino entre a escala
de suas realizaes e a escala de seu coman-
do. Tambm no se deve separar, na anlise
geogrfca, objetos e aes, at porque a ef-
ccia de uma ao relaciona-se com a adequa-
o ao objeto. Recoloca-se, a, a noo de
forma-contedo, da hibridez do espao geo-
grfco, pois a forma se recria a cada evento;
este, para se realizar, encaixa-se na forma dis-
ponvel mais adequada realizao das fun-
es das quais portador. No nem forma,
nem contedo, mas forma-contedo, unindo
passado e futuro, natural e social, processo e
resultado, funo e forma. Tambm distingue
paisagem (conjunto de formas, sistema mate-
rial que no se explica por si mesmo) de es-
pao (resultado da intruso da sociedade nas
formas-objetos), o que nos permite concluir
que uma mesma paisagem pode compor, his-
toricamente, diversos espaos geogrfcos.
Um exemplo citado pelo autor esclarece: uma
bomba de nutrons faria o que na vspera era
espao ser uma paisagem aps a exploso. O
espao [...] a sntese, sempre provisria,
entre o contedo social e as formas espaciais
(SANTOS, 1996, p. 88). Ele [...] forma-
do por um conjunto indissocivel, solidrio e
tambm contraditrio, entre sistemas de obje-
tos e sistemas de aes, no considerados iso-
ladamente, mas como o quadro nico no qual
a histria se d. (SANTOS, 1994, p. 111)
A noo de intencionalidade fundamenta o
processo da inseparabilidade dos objetos e
das aes, num movimento incessante de dis-
soluo e recriao do sentido, de sucesso
de formas-contedo. A categoria chave para
o entendimento deste processo a de tota-
lidade, que existe dentro de um permanente
processo de totalizao, que faz com que os
lugares, a cada movimento da sociedade, se
recriem e se renovem. O motor deste movi-
mento e, portanto, da diferenciao espacial,
a diviso do trabalho, responsvel, a cada
ciso da totalidade, de levar aos lugares um
novo contedo e um novo signifcado. Os ve-
tores desta mudana so os eventos, portado-
res de um acontecer histrico e, portanto, de
um tempo concreto. A trilha a ser percorrida
pelo gegrafo, [...] seria partir da totalidade
concreta como ela se apresenta neste pero-
do de globalizao uma totalidade emprica
para examinar as relaes efetivas entre a
Totalidade-Mundo e os Lugares (SANTOS,
1996, p. 92). Pois a totalidade a realida-
de em sua integridade que explica as par-
tes, at porque o todo maior que a soma
de suas partes; mas uma totalidade sempre
incompleta, sempre procurando fazer-se.
O mundo comeou a ser internacional nos s-
culos XV e XVI, e s virou mundial agora.
Tornou-se mundial talvez em funo da for-
ma de viso do globo. [...] Temos assim diante
de ns o mundo globalizado; diferente da
internacionalizao, que, de alguma forma,
um trunfo do marxismo. A totalidade se tor-
nou emprica, no uma criao de nosso pen-
samento. (SANTOS, 1994, p. 178 e 179)
8. Talvez possamos afrmar que os
objetos em geral podem ser conside-
rados como fxos, mas somente so
objetos geogrfcos se considerados,
de modo indissocivel, com os fuxos,
dos quais as redes so um exem-
plo. So os fuxos que colocam (ou
tendem a colocar) os fxos em uma
mesma escala, em um mesmo tempo
ou ritmo.
GEOGRAFARES, n 6, 2008 161
A natureza do espao para
Milton Santos
A diviso do trabalho, movida pela produ-
o, o motor da diferenciao espacial, ao
atribuir, a cada modifcao sua, novos con-
tedos e funes aos lugares; hoje, o que im-
pulsiona a diviso internacional do trabalho
a informao, cujo resultado a diviso ter-
ritorial do trabalho. Para o autor, o valor real
de um recurso (seja ele populao, produto,
dinheiro ou inovao) depende de sua quali-
fcao geogrfca, da [...] signifcao con-
junta que todos e cada qual obtm pelo fato
de participar de um lugar (SANTOS, 1996,
p. 107). Fora dos lugares, so abstraes pois
a defnio conjunta e individual de cada um
depende de sua localizao, o que faz da for-
mao scio-espacial
9
e no do modo de
produo o principal instrumento para o en-
tendimento da histria e do presente de cada
pas. O lugar est sempre acolhendo determi-
nados vetores e descartando outros, processo
formador e mantenedor de sua individualida-
de. O acolhimento de uma nova diviso do
trabalho no exclui, necessariamente, os res-
tos de divises anteriores, dando uma com-
binao especfca (e, portanto, distingidora)
de temporalidades diversas, pois cada diviso
cria um tempo prprio, diferente do anterior.
Neste processo permanece, nos lugares, um
trabalho morto, o meio ambiente construdo
que infui na repartio do trabalho vivo; e o
que fca do passado como forma (as rugosida-
des). O lugar o depositrio obrigatrio dos
eventos, que so sempre novos e supem a
ao humana, o que torna evento e ao sin-
nimos. Os eventos no so apenas fatos mas
tambm idias, no se do de modo isolado
mas em conjuntos sistmicos, e so sempre
presente mas no necessariamente instantne-
os, pois se considera a durao, o tempo de
presena efcaz. A sucesso de eventos altera
o sentido das formas; o objeto pode perma-
necer pois pode ter autonomia de existncia
mas no a tem de signifcao. O mundo
em movimento redistribui, constantemente,
eventos (materiais ou no), valorizando di-
ferencialmente os lugares; estes e as regies
(um lugar, como as cidades grandes, tambm
pode ser uma regio) se defnem como fun-
cionalizao do mundo, pois neles e por
eles que se percebe empiricamente o mundo.
O entendimento das diferentes formas histri-
cas de estruturao, funcionamento e articula-
o dos territrios depende do conhecimento
dos sistemas (uma tcnica no aparece s e
nem funciona isoladamente) tcnicos suces-
sivos, dos instrumentos artifciais usados pelo
homem (a ferramenta, a mquina, o autma-
to). O atual (e prolfco) casamento da tcnica
e da cincia (tecnocincia) a base material e
ideolgica que fundamenta o discurso e a pr-
tica da globalizao. Inovao galopante, di-
fuso rpida (comandada por uma mais-valia
que opera no nvel do mundo e em todos os
lugares), envolvimento de muito mais gente
e colonizao de muito mais reas, caracteri-
zam o sistema atual. Vivemos a era da infor-
mao e ela a base do poder; o computador
o smbolo do perodo e a informatizao o
modo dominante de organizao do trabalho.
Esta era das telecomunicaes se criou em ra-
zo da combinao realizada entre tecnologia
digital, poltica neoliberal e mercados globais.
Ao territrio das regies superpe-se um
territrio das redes (SANTOS, 2002, p. 82)
As redes no so virtuais e sim realidades
concretas, [...] formadas de pontos interliga-
dos que, praticamente se espalham por todo
o planeta, ainda que com densidade desigual,
segundo os continentes e pases. (Ibidem)
So elas a base da atual modernidade, so
elas a condio de realizao da economia
e da sociedade globais (ou seja, a condio
da globalizao e a essncia do atual meio
geogrfco), so o veculo mediante o qual
fuem as informaes, sendo estas ltimas
o motor fundamental dos dinamismos dos
grupos hegemnicos. A qualidade e a quan-
tidade de redes so hoje um elemento distin-
guidor de regies e lugares, inclusive de suas
posies, se relevantes ou se subordinadas.
Outra caracterstica de nossa poca a uni-
cidade do tempo, a convergncia de mo-
mentos, a possibilidade de conhecer eventos
longnquos instantaneamente e de perceb-
los simultneos, atravs das tcnicas de co-
municao. So momentos coetneos, mas
no iguais. Os satlites convergem tempo e
espao pois, para eles, todos os lugares esto
mesma distncia e esta no altera o custo
9. A expresso formao social foi ra-
ramente utilizada por Marx e, quan-
do a utilizou, foi com o signifcado de
sociedade. Foi muito usada por mar-
xistas estruturalistas que procuravam
distinguir [...] o conceito cientfco de
formao social da noo ideolgica
de sociedade, [...] (BOTTOMORE,
Tom (ed.). Dicionrio do pensamento
marxista. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor, 1988, p. 159) A expresso, no
seu uso concreto, refere-se a tipos de
sociedade ( feudal, burguesa, ...) e a
sociedades particulares (a sociedade
brasileira, p. ex.). Outros marxistas
preferiram a expresso formao
econmica e social, que tem um certo
valor [...] na medida em que revela
explicitamente a idia presente no
conceito marxista de sociedade de que
os elementos econmicos e sociais esto
interligados numa estrutura; mas
no faz referncia aos elementos ideo-
lgicos [...] (Ibidem). Milton Santos
reinventou esta expresso, tornando-
a mais densa e historicamente mais
adequada para as anlises atuais,
incluindo o espao como fundamen-
tal para o entendimento de qualquer
sociedade. ver o espao banal (sobre
ele, ver nota 12) em suas conexes sis-
tmicas com a totalidade.
GEOGRAFARES, n 6, 2008 162
Rui Ribeiro de Campos
da transmisso, no fazendo mais da distn-
cia um fator de isolamento. Mas o que mais
circula so informaes pragmticas que
no atingem a todos os lugares, manipuladas
por poucos atores em seu prprio benefcio.
O setor fnanceiro regulador da economia
internacional e o planeta se transformou em
um campo nico de concorrncia. Vivemos o
tempo dos objetos, e se antes o material de-
terminava como o objeto seria fabricado, hoje
a forma do objeto e a funo dele esperada
que vo determinar o material; e o envelhe-
cimento rpido do patrimnio tcnico no
realizado por uma razo tcnica mas sim por
uma doutrina (e prtica) poltica: a competi-
tividade. Esta possui como vetor fundamental
a informao
10
e os territrios so equipados
para facilitar sua circulao. Da considerar
um equvoco a idia de que o Estado se tor-
nou desnecessrio, defendendo que [...] a
emergncia de organizaes e frmas multina-
cionais reala o papel do Estado (SANTOS,
1996, p. 195). Da mesma maneira um erro
proclamar o fm do territrio, da regio ou
falar em no-lugar quando [...] nenhum su-
bespao do Planeta pode escapar ao processo
conjunto de globalizao e fragmentao, isto
, individualizao e regionalizao (Ibi-
dem, p. 196). O tempo acelerado amplia a di-
ferenciao dos lugares e estes se distinguem
pela diferente capacidade de fornecer renta-
bilidade aos investimentos, o que permite fa-
lar em produtividade espacial ou geogrfca,
que no duradoura (permanece at outro
lugar oferecer melhores vantagens de locali-
zao), dada a existncia de um exrcito de
reserva de lugares que estabelece uma com-
petio interlocal, uma guerra dos lugares.
O territrio a categoria central em suas an-
lises, pois ele que delimita fronteiras, por
seu meio (atravs de seus atributos e das pol-
ticas fscais existentes) que o capital penetra.
Por isso, o territrio hoje um subsistema do
planeta e um subsistema da sociedade. a
base da vida material, seu uso regulado pelo
Estado e nele, atualmente, no h mais espa-
os vazios, sendo os mesmos ocupados de
modo real ou intencional. No uma tabula
rasa, um simples palco, [...] porque indis-
sociavelmente integrado a todas as pessoas,
empresas e instituies que o habitam, e assim
dinamizado , por sua vez, tornado atuante
(SANTOS, 2002, p. 47). Territrio brasileiro,
por exemplo, [...] onde vivem, trabalham,
sofrem e sonham todos os brasileiros, o
repositrio fnal de todas as aes e de todas
as relaes, o lugar geogrfco comum dos
poucos que sempre lucram e dos muitos per-
dedores renitentes, [...] (Ibidem, p. 48). Por
isso ele o melhor revelador das situaes
conjunturais e estruturais, e das crises. Para
Milton Santos, achamos ns, o territrio
o lugar geogrfco por excelncia, pois a
construo de uma base material sobre a qual
a sociedade brasileira produz a sua histria.
O territrio um conjunto, formado pelos
sistemas naturais e artifciais (ou seja, os
sistemas naturais mais os acrscimos hist-
ricos materiais colocados pelo homem, que
compem a base tcnica e que permitem as
novas modernizaes quando implantados)
e pelas pessoas, instituies e empresas (ou
seja, as prticas sociais, o uso do substrato f-
sico) nele abrigadas. Constitui, pelos lugares
( a comunidade dos lugares), o quadro da
vida social, no qual tudo interdependente
e onde o local, o nacional e o global se fun-
dem. unitrio, o que no signifca que no
possa ser desagregado quando o Estado, que
regula seu uso, no age em sua defesa e se
transforma em agente dos atores hegemni-
cos da atual globalizao, quando este Estado
regulador do externo, tentando matar a so-
lidariedade social e a prpria idia de nao,
e impingindo como norma a desregulao.
Hoje, nos arranjos espaciais, h pontos des-
contnuos, mas interligados, defnidores de
um espao de fuxos reguladores, onde se
admite dois recortes: as horizontalidades
(os processos diretos da produo) e as ver-
ticalidades (os processos de circulao). As
horizontalidades so pontos que se agregam
sem descontinuidade, a fbrica da produo
propriamente dita, o locus de uma coopera-
o mais limitada, o palco do cotidiano: [...]
espaos contnuos, formados de pontos que se
agregam sem descontinuidade, como na def-
nio tradicional de regio. [...] Horizontali-
dades so reas produtivas: regies agrcolas,
10. Se, no passado, os nexos que de-
fniam a organizao regional eram
nexos de energia, cada vez mais,
hoje, esses nexos so nexos de infor-
mao. (SANTOS, 1994, p. 92)
GEOGRAFARES, n 6, 2008 163
A natureza do espao para
Milton Santos
cidades, os conjuntos urbano-rurais. (SAN-
TOS, 1994, p. 93) De outro modo: o espao
da vida, o espao banal, o tempo lento dos
que ali habitam e no se interessam somen-
te pela dimenso econmica; o espao no
qual se desenvolve uma contra-racionalidade.
As verticalidades so [...] pontos no espao
que, separados uns dos outros, asseguram o
funcionamento global da sociedade e da eco-
nomia (SANTOS, 1994, p. 93; 1996, p. 225),
que do conta dos outros momentos da produ-
o (circulao, distribuio, consumo) e so
os vetores de uma racionalidade superior, do
discurso pragmtico dos setores hegemnicos,
criadores de um cotidiano obediente. As ver-
ticalidades, segundo Santos (1994, p. 93) so
os sistemas urbanos. Se as verticalidades so
vetores de uma racionalidade superior e de
seu discurso pragmtico, as horizontalidades
[...] so tanto o lugar da fnalidade imposta
de fora, de longe e de cima, quanto o da con-
trafnalidade, localmente gerada, o teatro de
um cotidiano conforme, mas no obrigatoria-
mente conformista e, simultaneamente, o lugar
da cegueira e da descoberta, da complacn-
cia e da revolta. (SANTOS, 1994, p. 93/94)
As atuais horizontalizaes so a condio e
o resultado das novas condies da produo.
E as verticalizaes se constituem no resulta-
do das novas necessidades de intercmbio e
da regulao. (Ibidem p. 104) A verticalidade
representa o poder dos de fora, o domnio
da racionalidade triunfante, instrumental, que
se interessa por uma nica dimenso (a eco-
nmica), que tenta comandar e exigir rapidez
ou um tempo diferente do realmente vivido
no lugar. As verticalidades so formadas
por pontos, as horizontalidades por planos.
(Idem, 2002, p. 110) So simultneas e com-
plementares, e entre elas no h uma separa-
o real; suas [...] racionalidades coexistem
e se interpenetram, modifcam-se mutuamen-
te, cada qual se afrmando, a cada instante, em
funo de seus prprios objetivos. (Ibidem,
p. 111)
11
As cidades so, em geral, o ponto
de interseco entre horizontalidades e verti-
calidades. Foras centrpetas (de agregao,
de convergncia) conduzem a horizontaliza-
o e as foras centrfugas (de desagregao,
11. Um exemplo, talvez no muito
preciso, ocorre com uma lngua ver-
tical (a inglesa) e a lngua portugue-
sa, que ainda permanece horizon-
tal. A lngua inglesa no universal
mas universalizante, a que se usa
para se referir s aes hegemnicas.
O saber vertical, normalmente um
vetor tcnico (efcaz, contudo carece-
dor de sentido e que inclui a lngua
vertical) e pretensamente universal,
tenta se impor ao saber local autn-
tico, horizontal.
quando retiram os elementos de comando da
prpria regio) conduzem a verticalizao.
Para Santos, a marcha do processo de racio-
nalizao, que j atingiu os outros setores,
estaria agora se instalando no prprio meio
geogrfco, no meio de vida dos homens.
Por ser um campo de ao instrumental, o
espao pode ser considerado racional em vir-
tude de a tcnica ser tambm tcnica infor-
macional. E, ao contrrio do que aparenta, a
adaptao aos imperativos da modernizao
globalizadora mais difcil na cidade que no
campo, pois naquela mais trabalhoso re-
novar a materialidade por ela ser mais rgi-
da em razo de seu estoque de capital fxo.
As cidades locais mudam de contedo. Antes,
eram as cidades dos notveis, hoje se transfor-
mam em cidades econmicas. A cidade dos no-
tveis, onde as personalidades marcantes eram o
padre, o tabelio, a professora primria, o juiz, o
promotor, o telegrafsta, cede lugar cidade eco-
nmica, onde so imprescindveis o agrnomo
(que antes vivia nas capitais), o veterinrio, o
bancrio, o piloto agrcola, o especialista em adu-
bos, o responsvel pelos comrcios especializados.
[...] Tudo isso faz com que a cidade local deixe
de ser a cidade no campo e se transforme na ci-
dade do campo. (SANTOS, 1994, p. 148 e 149)
Ainda cabe observar que a partir da implan-
tao da racionalidade dominante, implan-
tam-se contra-racionalidades, tanto do pon-
to de vista social (entre pobres, migrantes,
minorias), do econmico (atividades, tra-
dicional ou recentemente, marginalizadas)
e do geogrfco (reas menos modernas,
opacas). Incapaz de se subordinar s ra-
cionalidades dominantes, esta experincia
de escassez a base para uma adaptao
criadora, o que faz destas irracionalidades
outras formas de racionalidade e que apon-
tam para a construo de um novo sentido.
Ao mesmo tempo em que amplia a signif-
cao dos capitais fxos (como estradas, ter-
ra arada, silos etc.) e dos capitais constantes
(como maquinrio, sementes, adubos, bio-
cidas etc.), torna-se maior a necessidade de
movimento, aumentando o nmero e a impor-
tncia dos fuxos, assim como do dinheiro, e
dando um relevo peculiar vida de relaes.
GEOGRAFARES, n 6, 2008 164
Rui Ribeiro de Campos
Como a localizao das diversas etapas do
processo produtivo (produo, circulao, dis-
tribuio e consumo) pode, de agora em dian-
te, ser dissociada e autnoma, amplifcam as
[...] necessidades de complementao entre os lu-
gares, gerando circuitos produtivos e fuxos cuja
natureza, direo, intensidade e fora variam se-
gundo os produtos, segundo as formas produtivas,
segundo a organizao do espao preexistente e os
impulsos polticos. [...] Os circuitos produtivos so
defnidos pela circulao de produtos, isto , de ma-
tria. Os circuitos de cooperao associam a esses
fuxos de matria outros fuxos no obrigatoria-
mente materiais: capital, informao, mensagens,
ordens. As cidades so defnidas como pontos no-
dais, onde estes crculos de valor desigual se encon-
tram e se superpem. (SANTOS, 1994, p. 128)
Cada lugar , a sua maneira, o mundo
(Idem, 1996, p. 252) e a atual histria con-
creta recoloca a questo do lugar numa po-
sio central. Milton Santos insistia na viso
de totalidade e fazia restries valorao
demasiada, estreita, do aspecto econmi-
co. Nada fazemos atualmente, dizia ele, que
no seja a partir dos objetos que nos circun-
dam, o que fora o gegrafo a trabalhar com
todos os objetos e todas as aes; o espao
banal
12
o espao dos gegrafos. Para ele,
a cidade grande um enorme espao banal,
o lugar mais signifcativo, o espao no
qual os fracos podem subsistir, at por es-
caparem ao totalitarismo da racionalidade.
Por isso, defendia que, na cidade, so os po-
bres que mais olham para o futuro. Vivem
eles nas zonas opacas (espaos de criativida-
de) opostas s zonas luminosas (espaos da
exatido), e suas carncias os foram a ima-
ginar um outro futuro (o desconforto criador).
Distingue a cultura de massas, hegemnica,
amolecedora da conscincia e que se alimenta
das coisas, da cultura popular, profunda, que
se nutre dos homens. Esta ltima possui ra-
zes na terra em que se vive, [...] simboliza o
homem e seu entorno, encarna a vontade de
enfrentar o futuro sem romper com o lugar
(SANTOS, 1996, p. 262) e, por isso, quando
algum migra para a cidade grande se defron-
ta com um espao que no ajudou a criar, do
qual desconhece a histria. O que traz con-
sigo de pouca ajuda para a luta cotidiana
quanto menos inserido, mais o indivduo
sofre o choque da novidade e, por isso, ne-
cessita criar uma terceira via de entendimento
da cidade. Assim, o espao geogrfco atual
um conjunto indissocivel de sistemas de
objetos e de sistema de aes; essas aes
constituem, no plano global, normas de uso
dos sistemas localizados de objetos mas,
no plano local, o prprio territrio a nor-
ma para o exerccio das aes. A partir destes
dois planos se constituem a razo global e a
razo local, [...] que em cada lugar se su-
perpem e, num processo dialtico, tanto se
associam, quanto se contrariam (Ibidem, p.
267). As redes, como instrumentos de produ-
o, circulao e informao mundializadas,
so globais e so elas que transportam o uni-
versal ao local. o lugar que oferece ao mun-
do a possibilidade de sua realizao pois, para
se tornar espao, o Mundo depende das
virtualidades do Lugar (Ibidem, p. 271). A
ordem global procura impor uma nica racio-
nalidade a todos os lugares e estes respondem
ao mundo conforme as diversas maneiras de
sua prpria racionalidade. Por isso, [...] cada
lugar , ao mesmo tempo, objeto de uma ra-
zo global e de uma razo local, convivendo
dialeticamente (Ibidem, p. 273). Um lugar
permanece em um mesmo ponto de intersec-
o das coordenadas geodsicas (a posio
fsica), mas sua localizao est sempre mu-
dando (a posio econmica e scio-poltica).
As aes realizadas em um lugar podem ser
estranhas a ele e a seus habitantes por serem
produtos de necessidades alheias e gera-
das em pontos distantes (as verticalidades).
CONSIDERAES FINAIS
A chamada globalizao, o estgio atual do
processo de internacionalizao, constitui
[...] a amplifcao em sistema-mundo de
todos os lugares e de todos os indivduos, em-
bora em graus diversos. (SANTOS, 1994, p.
48) Ela procura unifcar, homogeneizar (em
benefcio de um pequeno nmero de atores)
mas, necessariamente, ainda no integra (as
novas tecnologias possibilitam a integrao
mas ainda no a realizaram). As tentati-
12. Espao banal, [...] isto , o es-
pao de todos os homens, de todas as
frmas, de todas as organizaes, de
todas as aes numa palavra, o es-
pao geogrfco. (SANTOS, 1994,
p. 53). um conceito que [...] com-
porta a coexistncia do diverso, onde
coabitam os objetos naturais para
Milton Santos, a natureza est cada
vez mais envolvida pela sociedade ,
os objetos tcnicos, a informao e a
comunicao, enfm, um espao com-
plexo distinto do econmico, do social
ou de qualquer outro espao temtico,
de qualquer campo do conhecimento.
(Gonalves, in: SANTOS, 2002, p.
176) Esse lugar da coexistncia do
diverso no pode ser visto sem suas
conexes sistmicas com a totalidade,
com a formao scio-espacial.
GEOGRAFARES, n 6, 2008 165
A natureza do espao para
Milton Santos
vas de construo de um mundo s sempre
conduziram a confitos, porque se tem bus-
cado unifcar e no unir. (Ibidem, p. 35)
E o fato de que
[...] o processo de transformao da sociedade in-
dustrial em sociedade informacional no se com-
pletou inteiramente em nenhum pas, faz com que
vivamos, a um s tempo, um perodo e uma crise, e
assegura, igualmente, a percepo do presente e a
presuno do futuro, desde que o modelo analtico
adotado seja to dinmico quanto a realidade em
movimento e reconhea o comportamento sist-
mico das variveis novas que do um signifcao
nova totalidade. (SANTOS, 1994, p. 121/122)
Com produo e informao
13
globaliza-
das (permitindo o lucro em escala mundial),
os lugares tendem a ser tornar globais, com
o que ocorre em um repercutindo nos de-
mais. Mas as relaes globais so ainda re-
servadas a um pequeno nmero de agentes
(bancos e empresas transnacionais, e alguns
Estados) que necessitam do controle dos es-
pritos para a regulao das fnanas. Por
isso, o discurso globalizado, para ter efccia
nos lugares, necessita de pensadores nacio-
nais associados e de um sotaque domstico.
H hoje uma realidade histrica unitria em
um mundo extremamente diversifcado. An-
tes havia uma histria de lugares, regies,
pases. Podiam at ser continentais, em fun-
o de alguns imprios que se estabelece-
ram; agora que se inicia, verdadeiramen-
te, a histria universal (SANTOS, 2002, p.
153). Por isso, os protestos contra a atual
situao do mundo no podem ser rotulados
de antiglobalizao, pois no buscam um
retorno a um perodo anterior s Grandes
Navegaes; so movimentos sociais contra
esta e favorveis a uma outra globalizao.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
SANTOS, Milton. Por uma geografa nova:
da crtica da geografa a uma geografa crtica.
So Paulo: HUCITEC/EDUSP, 1978, 236 p.
__________. Tcnica, espao, tempo: glo-
balizao e meio tcnico-cientfco informa-
cional. So Paulo: HUCITEC, 1994, 190 p.
__________. A natureza do espa-
o: tcnica e tempo, razo e emoo.
So Paulo: HUCITEC, 1996, 308 p.
__________. O pas distorcido: o Bra-
sil, a globalizao e a cidadania.
So Paulo: Publifolha, 2002, 221 p.
RESUMO
O artigo procura caracterizar, de modo di-
dtico, os principais conceitos utilizados
pelo gegrafo Milton Santos (1926-2001).
Com base em suas obras, o texto busca dar
uma viso do pensamento miltoniano no f-
nal do sculo XX, que possui as tcnicas
como sistemas demarcadores de uma pe-
riodizao, procurando esclarecer concei-
tos como globalizao, espao geogrfco,
formao scio-espacial, territrio, espa-
o luminoso e opaco, totalidade e outros.
Palavras-chave: Milton Santos espao geo-
grfco espaos luminosos e espaos opacos.
ABSTRACT
The article aims to defne, in a didactic
way, the main concepts used by the geogra-
pher Milton Santos (1926-2001). Based in
his work, the text approach is a view of the
Miltons thought in the end of the 20th Cen-
tury, which contains techniques as age marker
systems, as an attempt to explain concepts
such as globalization, geographical space,
social and spacial formation, territory, lumi-
nous and opaque spaces, totality and others.
Key Words: Milton Santos geographical
spaces luminous spaces and opaque spaces.
13. Informao no sinnimo de
comunicao, pois [...] podemos
transmitir informaes sem criar-
mos ou alimentarmos quaisquer
laos sociais. [...] Na experincia
comunicacional intervm processos
de interlocuo e de interao que
criam, alimentam e restabelecem os
laos sociais que partilham os mesmos
quadros de experincia e identifcam
as mesmas ressonncias histricas de
um passado em comum. Comunicar
[...] etimologicamente signifca pr
em comum. (SANTOS, 1996, p.
253).
Você também pode gostar
- Ser Bonzinho Não É o CaminhoDocumento138 páginasSer Bonzinho Não É o CaminhoJosimar LinsAinda não há avaliações
- O Homem Egípcio PDFDocumento137 páginasO Homem Egípcio PDFNelson Neto100% (1)
- Etica Ap1 10 AcertosDocumento12 páginasEtica Ap1 10 AcertosIvens Lima88% (16)
- O Texto LiterarioDocumento20 páginasO Texto LiterarioRosa Do Sertão100% (1)
- Apostila Pregacao Expositiva OSPDocumento40 páginasApostila Pregacao Expositiva OSPIbacen JapuibaAinda não há avaliações
- Educacao Corpo e ArteDocumento212 páginasEducacao Corpo e ArteGilmar Silva100% (1)
- Manual de Instruções para Esta Vida - Versão 2 Otimizada PDFDocumento160 páginasManual de Instruções para Esta Vida - Versão 2 Otimizada PDFjbonezzi100% (1)
- Arthur C. Clarke - Contos Do Planeta Terra PDFDocumento164 páginasArthur C. Clarke - Contos Do Planeta Terra PDFrasttemun thayAinda não há avaliações
- Omaterialismohistorico LivroDocumento71 páginasOmaterialismohistorico LivroDavid RafaelAinda não há avaliações
- Resenha - Fides Et RatioDocumento4 páginasResenha - Fides Et RatioFilipe AraújoAinda não há avaliações
- O ESPACO RURAL E URBANO Campo e Cidade CDocumento20 páginasO ESPACO RURAL E URBANO Campo e Cidade CClélio SantosAinda não há avaliações
- As Contribuic o Es de Pla Cide Rambaud PDocumento10 páginasAs Contribuic o Es de Pla Cide Rambaud PClélio SantosAinda não há avaliações
- Palavras-Chave: Curta-Metragem Ensino de Geografia Cinema de Rua Lugar RugosidadeDocumento5 páginasPalavras-Chave: Curta-Metragem Ensino de Geografia Cinema de Rua Lugar RugosidadeClélio SantosAinda não há avaliações
- WetherDocumento10 páginasWetherClélio SantosAinda não há avaliações
- Uso Do Território Na Cidade de União Dos Palmares AL o Circuito Inferior Nas Suas Áreas Central e Periférica-DesbloqueadoDocumento172 páginasUso Do Território Na Cidade de União Dos Palmares AL o Circuito Inferior Nas Suas Áreas Central e Periférica-DesbloqueadoClélio SantosAinda não há avaliações
- Lopes GuilhermeCarneiroLeaoA MDocumento198 páginasLopes GuilhermeCarneiroLeaoA MClélio Santos100% (1)
- Silva Paulo Rogerio de Freitas - Configuracao Espacial de AlagoasDocumento234 páginasSilva Paulo Rogerio de Freitas - Configuracao Espacial de AlagoasClélio SantosAinda não há avaliações
- Cultura e Dinâmicas TerritoriaisDocumento195 páginasCultura e Dinâmicas TerritoriaisClélio SantosAinda não há avaliações
- Consumo ProdutivoDocumento20 páginasConsumo ProdutivoClélio SantosAinda não há avaliações
- IPTU No Brasil - Um Diagnostico Abrangente PDFDocumento80 páginasIPTU No Brasil - Um Diagnostico Abrangente PDFClélio SantosAinda não há avaliações
- Regioes de Desenvolvimento Do Estado de PernambucoDocumento1 páginaRegioes de Desenvolvimento Do Estado de PernambucoClélio SantosAinda não há avaliações
- Categorias GeográficasDocumento14 páginasCategorias GeográficasClélio SantosAinda não há avaliações
- Vianna Fazer y Desfazer DerechosDocumento217 páginasVianna Fazer y Desfazer DerechosValeStutzinAinda não há avaliações
- A Magia Da Imagem - GullarDocumento2 páginasA Magia Da Imagem - Gullarodranoel2014Ainda não há avaliações
- Socrates & PlataoDocumento49 páginasSocrates & PlataoTais LeandraAinda não há avaliações
- A Estrutura Das Revoluções ImprimirDocumento2 páginasA Estrutura Das Revoluções ImprimirAnonymous 6ybIfWwAinda não há avaliações
- Candeia e o AlqueireDocumento18 páginasCandeia e o AlqueiremsdbiasiAinda não há avaliações
- A Funcionalidade Dos Edifícios CorporativosDocumento256 páginasA Funcionalidade Dos Edifícios Corporativosrebeca_borges_10% (1)
- Jaclyn Reding - Série Branca - 2 - Magia Branca (Rev. PL)Documento269 páginasJaclyn Reding - Série Branca - 2 - Magia Branca (Rev. PL)Thaís Dos SantosAinda não há avaliações
- Friedrich Juergenson - Telefone para o Além PDFDocumento230 páginasFriedrich Juergenson - Telefone para o Além PDFSomaia MontagnerAinda não há avaliações
- As Tres Marias de Rachel de Queiroz Lite PDFDocumento10 páginasAs Tres Marias de Rachel de Queiroz Lite PDFMargarida GonçalvesAinda não há avaliações
- TD de Aulão de 3 Série Do Ens. Méd. de Filosofia, em 2021, Na EEEP Walquer Cavalcante MaiaDocumento3 páginasTD de Aulão de 3 Série Do Ens. Méd. de Filosofia, em 2021, Na EEEP Walquer Cavalcante MaiaDIEGO DE FARIAS LOPESAinda não há avaliações
- 1 Curriculo Planejamento e Avaliação Da AprendizagemDocumento33 páginas1 Curriculo Planejamento e Avaliação Da AprendizagemJanaina Souza Oliveira PaulenaAinda não há avaliações
- Annotated PROJETO20IIIDocumento8 páginasAnnotated PROJETO20IIIJéssica BampiAinda não há avaliações
- Senso ComumDocumento37 páginasSenso Comumroseane17Ainda não há avaliações
- Lori Lambe A Memória Da LínguaDocumento15 páginasLori Lambe A Memória Da LínguaJoão NuitAinda não há avaliações
- A Loucura Da Vida Social em Black Mirror Bandersnatch e Bird Box: Uma Releitura A Partir de Gilles Deleuze e Félix GuattariDocumento10 páginasA Loucura Da Vida Social em Black Mirror Bandersnatch e Bird Box: Uma Releitura A Partir de Gilles Deleuze e Félix GuattariFabiana DominguesAinda não há avaliações
- Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Filosofia E Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Antropologia SocialDocumento233 páginasUniversidade Federal Do Rio Grande Do Sul Instituto de Filosofia E Ciências Humanas Programa de Pós-Graduação em Antropologia SocialAmado JacquesAinda não há avaliações
- Reginaldo Jose Dos Santos JuniorDocumento207 páginasReginaldo Jose Dos Santos JuniorJonatas AlexandreAinda não há avaliações
- Geografia e Mídia Impressa - Katuta - LivroDocumento264 páginasGeografia e Mídia Impressa - Katuta - LivroTalita CasagrandAinda não há avaliações
- Resumo - Os Setes Saberes Necessários À Educação Do Futuro - Morin, EDocumento3 páginasResumo - Os Setes Saberes Necessários À Educação Do Futuro - Morin, EWilson PaulinoAinda não há avaliações
- A IMAGINAÇÃO EM VYGOTSKY - Versão FinalDocumento10 páginasA IMAGINAÇÃO EM VYGOTSKY - Versão FinalFLAVIA DINIZ ROLDAOAinda não há avaliações