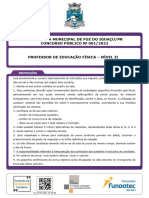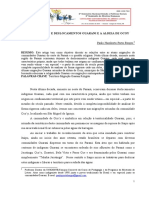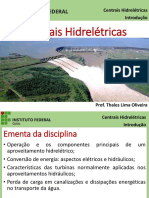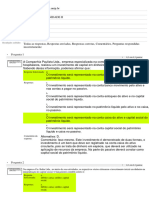Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
AlemPioneirosForasteiros Parte 1
AlemPioneirosForasteiros Parte 1
Enviado por
jorge_henrique830 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações105 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações105 páginasAlemPioneirosForasteiros Parte 1
AlemPioneirosForasteiros Parte 1
Enviado por
jorge_henrique83Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 105
JIANI FERNANDO LANGARO
PARA ALM DE PIONEIROS E FORASTEIROS
Outras histrias do Oeste do Paran
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLNDIA
INSTITUITO DE HISTRIA
2006
JIANI FERNANDO LANGARO
PARA ALM DE PIONEIROS E FORASTEIROS
Outras histrias do Oeste do Paran
Dissertao apresentada ao curso de Ps-
Graduao em Histria da Universidade
Federal de Uberlndia (UFU) como
requisito para a obteno do ttulo de
Mestre em Histria Social, sob a
orientao do Professor Doutor Paulo
Roberto de Almeida.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLNDIA
INSTITUITO DE HISTRIA
JANEIRO/2006
FICHA CATALOGRFICA
Elaborada pelo Sistema de Bibliotecas da UFU / Setor de
Catalogao e Classificao / mg / 12/05
L271p
Langaro, Jiani Fernando.
Para alm de pioneiros e forasteiros : outras histrias
do oeste do Paran / Jiani Fernando Langaro. - Uberlndia,
2005.
280f. : il.
Orientador: Paulo Roberto de Almeida.
Dissertao (mestrado) - Universidade Federal de Uber
lndia, Programa de Ps-Graduao em Histria.
Inclui bibliografia.
1. Histria social - Teses. 2. Paran - Histria - Teses.
3. Trabalhadores - Paran - Histria -Teses. I. Almeida,
Paulo Roberto. II. Universidade Federal de Uberlndia. Pro-
grama de Ps-Graduao em Histria. III. Ttulo.
CDU: 930.2:316 (043.3)
BANCA EXAMINADORA
_____________________________________________________
Professora Doutora Clia Rocha Calvo
_____________________________________________________
Professor Doutor Rinaldo Jos Varussa
_____________________________________________________
Professor Doutor Paulo Roberto de Almeida
(orientador)
Aos meus pais, Natlio e Marlene
e ao meu irmo, Jerri,
pela fora e compreenso.
AGRADECIMENTOS
Gostaria de prestar meus sinceros agradecimentos a todas as pessoas que
colaboraram para a viabilizao do presente trabalho. impossvel nomear a todos,
assim peo desculpas queles que no forem citados, embora estendo a eles minha
gratido.
Agradeo queles que colaboraram diretamente com a presente pesquisa, os quais
esto relacionados ao final deste trabalho, concedendo depoimentos orais e fotografias.
Tambm queles que forneceram materiais e informaes, em especial Castro, pelos
recortes de jornais, Rudi e Geci Reolon, pelo painel contendo a planta da sede municipal
de Santa Helena e Natlio e Marlene Langaro, meus pais, pelos jornais, revistas e
demais materiais a mim cedidos. Aos servidores das instituies consultadas pela
ateno e solicitude.
Ao Prof. Dr. Paulo Roberto de Almeida, por ter aceito a tarefa de orientar-me e
por ter sido no apenas orientador, mas tambm amigo, compreendendo-me nos
momentos em que precisava, mas sabendo efetuar cobranas quando as julgava
necessrias. Sem ele, o presente estudo no teria sido possvel.
Ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e Tecnolgico) pela
bolsa de pesquisa concedida no perodo de redao desta dissertao; ao PROCAD
(Programa de Cooperao Acadmica) da CAPES (Coordenao de Aperfeioamento
de Pessoal de Nvel Superior) pela bolsa recebida no segundo semestre de 2004, por
meio da qual foi possvel cursar uma disciplina na PUCSP (Pontifcia Universidade
Catlica de So Paulo) e Prefeitura Municipal de Santa Helena que, por meio de lei
prpria, auxilia os estudantes locais ressarcindo valores gastos com o transporte para as
instituies nas quais estudam.
A todos os professores do programa de ps-graduao em Histria da UFU
Universidade Federal de Uberlndia, com quem mantive contato, em especial aos
professores da linha de pesquisa Trabalho e Movimentos Sociais pela ateno dedicada
nas disciplinas, bancas e demais atividades realizadas.
Gostaria de registrar meu agradecimento ao Professor Doutor Hermetes Reis de
Arajo, Professor Doutor Wenceslau Gonalves Neto e Professora Doutora Heloisa
Helena Pacheco Cardoso, pelas questes apresentadas na banca de avaliao do projeto
ao ingressar no programa.
Professora Doutora Dilma Andrade de Paula pela ateno sempre despendida;
Professora Doutora Clia Rocha Calvo e, novamente, Professora Doutora Heloisa
Helena Pacheco Cardoso, pelos importantes apontamentos realizados nas disciplinas
que ministraram e na banca de qualificao.
Aos professores das demais linhas de pesquisa que tive a oportunidade de
conhecer, principalmente, ao Professor Doutor Alcides Freire Ramos, Professora
Doutora Rosngela Patriota e Professora Doutora Jacy Alves de Seixas.
Aos servidores e monitores do Programa de Ps-Graduao em Histria da UFU,
em especial Gonalo, Maria Helena e Sandra, pela disposio em atender-me.
Devo meus agradecimentos tambm Professora Doutora Olga Brites, da PUC
SP, pela receptividade e pelas sugestes apresentadas na disciplina cursada naquela
instituio.
A todos os professores do curso de Histria da UNIOESTE Universidade
Estadual do Oeste do Paran, na qual realizei minha graduao e com quem procurei
manter contato dentro dos limites impostos pela dedicao ao presente trabalho.
Em especial, sou grato Professora Doutora Geni Rosa Duarte que me orientou na
iniciao cientfica e no trabalho de concluso de curso de graduao, ao Professor
Doutor Davi Felix Schreiner pelo incentivo sempre prestado, ao Professor Doutor
Robson Laverdi e ao Professor Doutor Rinaldo Jos Varussa, integrantes da banca de
avaliao do trabalho de concluso de curso pelos apontamentos que muito me
ajudaram nesta nova etapa.
Agradeo, mais uma vez, antecipadamente, Professora Doutora Clia Rocha
Calvo e ao Professor Doutor Rinaldo Jos Varussa, integrantes da banca de defesa, na
certeza de que seus apontamentos sero de fundamental importncia para minha
trajetria e crescimento profissional.
A todos os amigos de Uberlndia, em especial Karla (companheira da APG
Associao de Ps-Graduandos), Flvia e Gilson que muito gentilmente me acolheram
em sua casa quando estava em processo de mudana para essa cidade. Tambm queles
com quem fiz amizade na UFU, Rafael, Jussara (tambm companheira na APG), Diogo,
Tadeu e tantos outros.
Aos colegas e amigos da linha de pesquisa e das disciplinas, em especial a Renato,
Mnica (companheira na APG e no Colegiado da Ps), Edna, Roberta, Luciana, Srgio
Paulo e Ivani (que resolveu questes burocrticas quando econtrava-me longe). Ao
Beto, companheiro nas viajens para So Paulo e nos dilemas de pesquisa. Aos colegas
da APG, Leandro e Marcelo e aos vizinhos e amigos, Dona Maria, Letcia, Gabriel,
der, Bruno, Julliany e Michael.
A todos os amigos de So Paulo, principalmente, Ana Karine, Alan, Fernanda,
Lucirene, Marlene, Emlia e Andr. queles que conheci em Marechal Cndido
Rondon, em especial Emlio, Selma, Giseli, Carla, Camila, Mara, Luciana, a pequena
Izabel, Edimara e Fabiane.
Aos meus pais, Natlio e Marlene, e ao meu irmo, Jerri Antnio, pela presena
constante em minha vida.
Peo desculpas a todos pelas ausncias durante o perodo em que trabalhei na
presente dissertao. Agradeo, ainda, a compreenso e solidariedade recebida nos
momentos em que mais precisei.
Como qualquer experincia humana, a
memria tambm um campo minado pelas
lutas sociais: um campo de luta poltica, de
verdades que se batem, no qual esforos de
ocultao e clarificao esto presentes na
luta entre sujeitos histricos diversos que
produzem diferentes verses, interpretaes,
valores e prticas culturais. A memria
histrica constitui uma das formas mais
poderosas e sutis da dominao e da
legitimao do poder. Reconhecemos que tem
sido sempre o poder estabelecido que definiu,
ao longo do tempo histrico, quais memrias e
quais histrias deveriam ser consideradas
para que se pudesse se estabelecer uma certa
Memria para cunhar uma Histria certa. E
a est nosso campo de atuao como
historiadores comprometidos no social,
interessados em voltar aos acontecimentos
passados no apenas para conhecer sua
histria, mas para buscar as razes que o
engendraram, buscando no presente o que
resta desse passado tendo como horizonte a
transformao no presente e a construo de
um futuro diferente do que temos hoje.
Projeto PROCAD, Cultura Trabalho e Cidade:
Muitas Memrias, Outras Histrias, 2000.
RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo discutir as muitas memrias em disputa no
Oeste do Paran, tomando como base o Municpio de Santa Helena e as outras histrias
que emergem dessa tenso. Produzidas em diferentes momentos, tais verses referem-se
a processos sociais desenvolvidos entre 1950 e 2005 e relacionam o local ao regional.
Abordo, inicialmente, o processo de constituio de uma memria na esfera
pblica de Santa Helena, trabalhando com fontes como livros de histria, monumentos,
materiais de imprensa e de divulgao do poder pblico local. Constituda, geralmente,
a partir das elites do lugar, tal verso expressa projetos elaborados para o municpio.
Realizo um estudo relacional, a partir do olhar lanado por trabalhadores que
vivem no municpio, sobre suas trajetrias de vida. Tomo suas narrativas como
testemunhos vivos da memria e local privilegiado para captar, no lugar, as muitas
verses em disputa. Esses sujeitos, ento, realizam um trnsito, por entre as diferentes
formas de perceber o passado e afirmam-se no lugar, a partir de suas memrias.
Intercruzando fontes orais, materiais jornalsticos e algumas fotografias, procuro
observar as outras histrias que so constitudas nessa disputa. Abordo as maneiras de
viver e trabalhar, constitudas localmente, em que muitos trabalhadores associam
elementos rurais e urbanos, ao mesmo tempo em que vo constituindo, de maneira
diversa e at contraditria, uma fronteira entre campo e cidade.
Trato das formas pelas quais eles utilizam suas lembranas, a fim de referenciar
projetos e demandas que lhes so prprios. Suas recordaes constituem-se, assim, em
instrumento de luta social, tendo como foco principal reivindicao da riqueza local,
representada pela terra na dcada de 1970 e, a partir da dcada de 1990, pelos royalties
pagos pela usina hidroeltrica de Itaipu Prefeitura Municipal de Santa Helena.
Observo, ainda, a partir da dcada de 1990, uma transformao ocorrida com
relao ao trabalho em tais memrias. Nas verses produzidas na esfera pblica, ele
deixa de ser um centro convergente, passando a ocupar esse lugar a noo de
desenvolvimento. Nas narrativas dos trabalhadores o labor apresentado, porm, o
foco principal das narrativas recai sobre o acesso riqueza local, mediado pelo poder
pblico. Tal fator aponta para a historicidade dessas memrias e para sua constituio
em meio s relaes sociais.
PALAVRAS-CHAVE: Memrias. Trabalhadores. Cidade.
ABSTRACT
The present essay has the purpose of discussing the many memories in dispute in
the West of Paran, having as base the Municipal District of Santa Helena and other
stories that emerge from this tension. Produced in different moments, those versions
refer to social processes developed between 1950 and 2005 and relate the place to the
regional.
I approach, at first, the constitution process of a memory in the public sphere of
Santa Helena, working with sources as History books, monuments, press material and
also material for divulgation of the local public power. Usually constituted by the
elites of the place, that version expresses projects elaborated for the municipal district.
I accomplish a relational study, starting from the look given by workers that live
in the municipal district, about their life trajectories. I take their narratives as live
testimonies of the memory and place privileged to capture, in the place, the many
versions in dispute. These subjects, then, carry out a transit, among the different ways of
perceiving the past and establish themselves in the place, starting from their memories.
By crossing oral sources, journalistic materials and some photographs, I seek to
observe the other stories that are constituted in this dispute. I approach the ways of
living and working, locally constituted, in which many workers associate rural and
urban elements, at the same time that they constitute, in a diverse and even
contradictory way, a border between the countryside and the city.
I talk about the ways by which they use their remembrances, intending to
reference projects and demands, which are particular to them. Their reminiscences are
constituted, thus, in instrument of social struggle, having as main focus the demanding
for the local richness, represented by the land in the seventies and, from the nineties on,
by the royalties paid by Itaipu power plant to Santa Helena City Hall.
I observe, moreover, starting in the nineties, a change occurred in relation to the
work in those memories. In the versions produced in the public sphere, it is no longer a
convergent center, but the notion of development occupies this spot. In the workers
narratives the labor is presented, but the main focus of the narratives reverts to the
access to the local richness, mediated by the public power. Such factor points to the
historicity of these memories and to its constitution among the social relations.
KEY-WORDS: Memories. Workers. City.
SUMRIO
APRESENTAO.................................................................................................. 11
CAPTULO I
CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE O PASSADO:
USOS E LUGARES DE MEMRIA ...................................................................... 39
CAPTULO II
ENTRE TRAJETRIAS E EXPECTATIVAS:
MUITAS MEMRIAS DE UM LUGAR ................................................................ 104
CAPTULO III
REINVENTANDO A VIDA:
CULTURA, TRABALHO E AFIRMAO POLTICA EM SANTA HELENA .... 161
CONSIDERAES FINAIS .................................................................................. 232
FONTES ................................................................................................................. 240
Depoimentos orais ................................................................................................ 240
Fotografias levantadas em lbuns de famlia....................................................... 244
Fotografias dos trabalhadores entrevistados, produzidas pelo autor.................... 250
Mapas e planta urbana......................................................................................... 251
Fontes estatsticas................................................................................................. 251
Fontes memorialsticas......................................................................................... 252
Monumentos e lugares de memria fotografados pelo autor............................ 253
Hino, materiais publicitrios e informativos produzidos
pela Prefeitura Municipal de Santa Helena......................................................... 253
Fontes jornalsticas e revistas............................................................................... 254
Recortes de jornais ............................................................................................... 255
BIBLIOGRAFIA..................................................................................................... 257
ANEXOS ................................................................................................................. 270
Anexo I Mapa do Estado do Paran .................................................................. 270
Anexo II Mapa da Mesorregio Oeste do Paran .............................................. 271
Anexo III Mapa do Municpio de Santa Helena em 1980
(antes do alagamento para a formao do reservatrio de Itaipu
e da emancipao do Distrito de So Jos) .......................................................... 272
Anexo IV Mapa do Municpio de Santa Helena aps o alagamento
para a formao do reservatrio de Itaipu e da emancipao
do Distrito de So Jos.......................................................................................... 273
Anexo V Planta da Sede Municipal de Santa Helena (Parte 1) .......................... 274
Anexo VI Planta da Sede Municipal de Santa Helena (Parte 2) ........................ 276
APRESENTAO
Por mais elaborados que sejam os mecanismos
internos, as tores e autonomias, a prtica
terica constitui o ponto extremo do
reducionismo: uma reduo: no da
religio ou da poltica economia,
mas das disciplinas do conhecimento a apenas
um tipo bsico de Teoria. A teoria est
sempre recaindo numa teoria ulterior. Ao
recusar a investigao emprica, a mente est
para sempre confinada aos limites da mente.
No pode caminhar do lado de fora.
imobilizada pela cibra terica e a dor s
suportvel se no movimentar seus membros.
Edward Palmer Thompson,
O termo ausente: experincia, 1978.
A partir do presente trabalho, abordo como problemtica central, as muitas
memrias em disputa no Oeste do Paran, tomando como base o Municpio de Santa
Helena e prestando ateno nas outras histrias que emergem desse embate.
1
Trato de
verses do passado, produzidas no mbito municipal, mas que, de uma maneira geral,
referem-se prpria regio, constitudas a partir de processos sociais desenvolvidos,
principalmente, entre 1950 e 2005.
Tomo como ponto de partida o estudo de uma memria produzida na esfera
pblica local, a qual busca tornar-se hegemnica. Constituda a partir de marcos
triunfantes, que tm como base projetos vencedores, aponta para um lugar constitudo
em uma linha evolutiva linear, tendo como eixo articulador o progresso e o
desenvolvimento. Por meio de diferentes suportes, como livros de histria, projetos
culturais, monumentos e imprensa, delineia-se o que deve ser lembrado, quando e onde,
minimizando e desqualificando as outras relaes estabelecidas com o passado.
Apresenta uma histria pautada na colonizao planejada, desenvolvida no
municpio a partir da dcada 1920 por meio de iniciativas esparsas, e entre as dcadas
1
O Oeste do Paran localiza-se na regio que faz fronteira com a Repblica do Paraguai, oeste, a
Repblica Argentina, sudoeste e o Estado de Mato Grosso do Sul, noroeste. As principais cidades
so Cascavel, Foz do Iguau e Toledo. Trata-se de uma regio cuja economia baseia-se na agroindstria
e na agricultura mecanizada, integrada no circuito internacional do agronegcio, desenvolvida,
geralmente, em pequenas propriedades rurais, com trabalho familiar, embora existam, tambm,
latifndios nesse local. Santa Helena constitui-se em um pequeno municpio dessa regio, na fronteira
com o Paraguai, possuindo uma populao estimada de 20.000 habitantes. Embora tenham sido
movidos esforos para o desenvolvimento do turismo, sua economia gira em torno da agricultura, sendo
cultivados, predominantemente, soja e milho, aliados produo leiteira e avcola, tendo essa ltima
crescido nos ltimos anos.
12
de 1950 e 1960, acompanhando um movimento regional de conquista do Oeste do
Paran, pela sociedade nacional. Mesmo quando o perodo anterior abordado, sua
ordenao caminha no sentido de apresentar tal evento como racional, um marco de
fundao da sociedade local, que teria nacionalizado aquela fronteira, antes, sob
ocupao estrangeira.
2
De tal processo emergem os pioneiros, alcunha que define,
geralmente, migrantes sulinos, descendentes de europeus (em especial italianos e
alemes) e pequenos proprietrios rurais, tratados com uma espcie de heris locais.
De maneira mais secundria, outros marcos e questes se fazem presentes na
esfera pblica, como a construo da usina hidroeltrica de Itaipu,
3
cujo reservatrio
inundou boa parte do territrio municipal de Santa Helena. Essa rea era composta, em
sua grande maioria, por propriedades rurais.
4
Pude notar na imprensa, em especial, uma
tentativa de ressignificar esse momento percebido, geralmente, a partir dos problemas
trazidos para o lugar como um marco de desenvolvimento, com as possibilidades de
implementao do turismo, que teriam sido proporcionadas pela construo da praia
artificial nos arredores da sede municipal.
Por outro lado, percebi que acompanhava esse movimento, o intento de se
minimizar as lutas empreendidas pelas pessoas que se sentiram prejudicadas pelas
desapropriaes e pelas formas como aquele projeto estava sendo concretizado. Em
outros momentos, pude notar, a despotencializao dos trabalhadores locais como
sujeitos, reduzindo sua experincia a mero produto de certos marcos de memria, como
a construo daquela represa.
Tais fatores levaram-me a refletir sobre as formas como os trabalhadores estavam
sendo abordados em certos materiais de imprensa e fotojornalismo local e regional.
Percebi que eram, geralmente, apresentados de maneira estereotipada, como pobres,
2
Adiante, no primeiro captulo, trabalharei mais especificamente esses marcos de memria.
3
Conforme aponta Paludo, a Itaipu Binacional surgiu de um conscio internacional que envolveu os
governos do Brasil e do Paraguai. Em 26 de abril de 1973 foi firmado o acordo para sua construo,
sendo assinado pelos presidentes ditadores dos dois pases, General Emlio Garrastazu Mdici e
General Augusto Stroessner. As obras, bem como as desapropriaes das reas que seriam atingidas
pela usina hidroeltrica, iniciaram-se em 1977. In: PALUDO. op. cit. p. 5. (Informaes vinculadas em
nota de rodap).
4
De acordo com Prediger, foram desaproriados 26.561 hectares de terras, representado 26,34 % da rea
agricultvel do Municpio de Santa Helena. In: PREDIGER. op. cit. p. 10. Welter aponta que nesse
processo, 31% do territrio municipal foi alagado. In: WELTER. op. cit. p. 22. Carniel, por sua vez,
destaca que a rea alagada corresponde a 1.418 km, repesentando 41,5 % da rea do municpio. In:
CARNIEL, Solange Maria. O Oeste paranaense e a singularidade de So Jos das Palmeiras 1969-
1985. Niteri/RJ: UFF, 2003. (Dissertao de Mestrado em Histria Social). p. 56.
13
no sentido de serem dependentes de assistncia social, proporcionada pelos poderes
pblicos e entidades filantrpicas.
Pude constatar uma relao entre essas memrias pblicas e projetos que iam
sendo delineados para o municpio. Em certos meios, deparei-me com a prpria
tentativa de classificar-se determinados sujeitos como pioneiros ou de fora, na
busca pela viabilizao de certos planos e de afirmar-se quem teria direito (ou mais
direito) ao lugar.
Tal processo ia sendo constitudo por diferentes foras polticas, tendo sua frente
membros da elite local, composta por empresrios e agricultores, os mais abastados
do lugar principalmente, mas longe de ser exclusivamente alm de profissionais
liberais e certos funcionrios pblicos, geralmente, ocupantes de cargos de mais alto
escalo para os termos locais. Esse estrato social, por sua vez, articula-se por meio de
certos espaos da sociedade local, como os clubes esportivos e recreativos e entidades
como o Lions Club e Rotary Club, sendo mais caracterizado pela cultura e valores por
eles produzidos do que pela renda que possuem. As questes relacionadas aos
trabalhadores nos materiais jornalsticos ligados a tais grupos apareciam em seus
esforos para granjear apoio e referncia popular para seus projetos.
A partir de tais constataes, passo a discutir as muitas memrias que compem o
lugar, utilizando depoimentos orais produzidos com pessoas que vivem e trabalham no
municpio. Compreendo suas narrativas no como uma outra verso, obscurecida pela
memria pblica local e fazendo-lhe oposio, mas como lugar privilegiado para a
apreenso de diferentes dimenses da disputa pelo passado. Tratam-se de formas de
organizar, em outros marcos e mediaes, os mesmos processos de transformao
histrica do lugar. Delas emerge uma outra noo de tempo, constituda por essas
pessoas a partir dos significados que tais mudanas possuram para suas vidas.
Abordo o olhar que esses trabalhadores lanam sobre suas trajetrias de vida. Em
muitos momentos possvel notar como suas lembranas vo sendo constitudas em
uma ntima relao com aquelas verses pblicas. A memria do pioneirismo,
principalmente, mas de outros marcos de memria da regio, como a mecanizao da
agricultura,
5
costumam ser apresentados, em suas narrativas, para explicar suas
experincias locais passadas. Tais lembranas, entretanto, so tratadas a partir dos
5
Trata-se do processo de tecnificao da produo agrcola na regio (com o uso de mquinas,
agrotxicos e sementes selecionadas) e de sua incluso no mercado internacional, ocorrida a partir da
dcada de 1970. Tal processo ser melhor discutido ao longo do presente trabalho.
14
prprios interesses desses sujeitos, de seu lugar social e experincia de classe. Possuem
um carter poltico, tendo essas pessoas buscado, a partir de tais recursos, afirmar suas
presenas no municpio. Explicam, inclusive, seus insucessos sociais a partir de fatores
que no se limitam ao pessoal, mas que esto relacionados com questes mais amplas.
Nesse intercruzamento de memrias, trabalho a possibilidade de captarem-se as
outras histrias que vo sendo tecidas a partir dessa disputa e que vo para alm
daquela memria pblica, de seus marcos cristalizados e dos debates em torno de
pioneiros e de fora, ou poderia se dizer, forasteiros. Utilizo como recurso no
somente depoimentos orais, mas tambm algumas matrias jornalsticas e fotografias
que foram coletadas junto a uma das pessoas entrevistadas na pesquisa.
Pontuo as maneiras de viver e trabalhar que tais sujeitos foram constituindo no
lugar, associando elementos rurais e urbanos, ao mesmo tempo em que vo
estabelecendo, no todos da mesma maneira, uma fronteira entre campo e cidade. Trato,
ainda, das formas como esses trabalhadores afirmam-se politicamente, utilizando suas
memrias como instrumento de luta social na reivindicao por direitos.
Percebo que as demandas desses sujeitos relacionam-se, geralmente, busca por
participar da riqueza local, que na dcada de 1970 era representada pela conquista da
terra e, posteriormente, a partir da dcada de 90, traduz-se no reivindicar participao
nos royalties
6
pagos por Itaipu prefeitura municipal. A partir de sua experincia social
e do aprendizado poltico forjado ao longo de suas trajetrias e nessa disputa pelas
muitas memrias, esses sujeitos foram constituindo maneiras prprias de tensionar essa
sociedade, muitas vezes passando ao largo de noes mais cristalizadas de movimentos
sociais. Suas formas de lutar, muitas vezes, apresentam-se ancoradas em um sentido
6
Carniel aponta que os royaltes constituem-se em compesaes financeiras pagas por Itaipu aos governos
brasileiro e paraguaio, em vitude da utilizao do potencial hidrulico do Rio Paran. A usina iniciou
sua produo de energia em 1985, e conforme aponta, at 1991 tal compensao ficou restrita ao
Tesouro Nacional. O pagamento dos valores referentes a esse perodo foi negociado entre os anos de
1992 e 2001. Em 1991, com a criao da Lei dos Royalties, outros rgos governamentais foram
inseridos na lista dos beneficiados por tais crditos. Alm do Tesouro Nacional e outras instituies
federais, que no menciona, aponta os governos estaduais do Paran e de Mato Grosso do Sul, 15
municpios do Paran e um de Mato Grosso do Sul, que tiveram suas reas afetadas durante o processo
de construo da hidroeltrica e outros estados e municpios no diretamente atingidos. A partir da
criao dessa lei at 2002, ainda de acordo com Carniel, os valores pagos somaram 1,49 bilho de
dlares, sendo que desses, Santa Helena recebeu 143,8 milhes. In: CARNIEL. op. cit. p. 56. (em nota
de rodap). Toma como base: MLLER, Arnaldo Carlos. Hidroeltricas, meio ambiente e
desenvolvimento. So Paulo: Makron Books, 1995. Cabe frisar que a base de clculo para os valores
pagos corresponde rea alagada dos municpios. Nesse sentido, Santa Helena costuma receber a maior
parcela por ter sido o mais atingido no processo de construo do reservatrio.
15
mais individual ou restrito ao crculo familiar e de amizades, embora faam parte da
experincia e cultura de classe desses trabalhadores, produzida na dinmica histrica.
Embora, em vrios momentos, as demandas desses trabalhadores acabam sendo
mediadas pelo governo municipal, como a busca por empregos pblicos, isso no
significa uma mera submisso deles s foras hegemnicas. As pessoas, de uma maneira
geral, tambm elaboram projetos e reivindicam sua participao na riqueza local a partir
de seus prprios interesses e objetivos. Disputam, dessa maneira, o prprio ncleo de
deciso, de como aplicar os royalties concentrados na prefeitura municipal, entidade
que recebe tais recursos.
Essas outras histrias apresentam o dilogo que procurei estabelecer com esses
trabalhadores, no intuito de trazer um pouco de suas vidas e das lutas travadas por eles
no lugar. Expressam a interpretao que constru, a partir das evidncias analisadas,
sobre diferentes dimenses que a disputa pelas muitas memrias adquire na vida social
local.
No presente estudo, trato de memrias e histrias que se referem ao mesmo tempo
ao local, compreendido como o Municpio de Santa Helena e ao regional, ou seja, o
Oeste do Paran de uma maneira geral. Apesar dessa interrelao local-regional ser a
referncia para o desenvolvimento do trabalho, ela no se encerra sobre si mesma.
O Oeste do Paran, desde a dcada de 1950, principalmente, vem sendo alvo de
projetos desenvolvidos no mbito nacional e estadual. Esse o caso, por exemplo, da
colonizao das dcadas de 1950 e 1960, da mecanizao da agricultura iniciada na
dcada de 1970 e da construo de Itaipu, realizada em fins da dcada de 1970 e incio
de 1980.
Essa regio vem sendo pensada em nveis mais amplos, dando suporte aos projetos
econmicos nacionais. Tal fator se traduz no papel ocupado por ela no sistema agrrio
nacional, em que se apresenta composta, predominantemente, por pequenas
propriedades rurais embora reitero que existem tambm latifndios ligadas ao
circuito da agroexportao ou na funo de fornecedora de energia eltrica, fomentando
o desenvolvimento industrial do pas.
Elementos dessa memria do pioneirismo parecem no se limitar regio em
estudo, fazendo-se presentes ao longo da rea de expanso da fronteira agrcola, indo
do Sul do pas at regies mais distantes, como no Estado de Mato Grosso, no Centro-
Oeste. Por outro lado, embora o Oeste do Paran constitua-se em uma referncia para
16
muitos sujeitos, vrias evidncias levantadas no trabalho de pesquisa, em especial, as
narrativas orais, remetem-se a lugares que esto para alm desse local.
De uma maneira geral, constituiu-se sobre a regio uma memria triunfante,
transformando-se os projetos vencedores em marcos que cristalizam uma histria local.
Evolutiva e linear, ela explica o que seria o progresso do lugar. Em Santa Helena
produzem-se verses semelhantes quelas da regio, traduzindo, em termos locais, essa
verso triunfante, de desenvolvimento. Apesar de admitir-se a existncia de
problemas como a violncia e o ambiente poltico-eleitoral tenso
7
costuma-se apresentar
o municpio como um local rico, resultando em qualidade de vida para a populao,
indistintamente dos lugares que ocupam nessa sociedade.
O Oeste do Paran tambm possui uma significativa produo acadmica na rea
de histria que, acredito, compe as memrias construdas na esfera pblica regional e
local. Cabe frisar, no entanto, que no privilegiei a discusso de tais trabalhos em sua
atuao naquela esfera, em virtude dos recortes necessrios realizao deste estudo,
por meio dos quais optei por restringir minha anlise, principalmente s verses
presentes em Santa Helena e expressas por meio de outros materiais.
Quanto quela produo, conforme aponta Emlio Gonzalez, em 1981 foi
instituda a FACIMAR Faculdade Cincias Humanas de Marechal Cndido Rondon,
com a criao do curso de Histria, resultante, em parte, de demandas locais por
trabalhos acadmicos dessa rea.
8
Aps, essa instituio foi incorporada a UNIOESTE
Universidade Estadual do Oeste do Paran, compondo um de seus campus, sendo
aquele, atualmente, o nico curso de Histria de toda a instituio. Como o mais antigo
7
A Revista Regio, em dezembro de 1999, apresentou uma matria tratando do elevado nmero de
homicdios no municpio. Conforme segue a argumentao, esse quadro seria ocasionado por
problemas sociais em virtude da fama de Santa Helena ser um local rico, atraindo muitas pessoas de
outros locais que, aps mudarem-se, acabam por ficar desempregadas. Tal questo chama a ateno,
novamente, para tenses entre quem residiria no municpio e os considerados de fora. In:
IMPORTANDO CRIME: nmero de homicdios assusta em Santa Helena. In: Regio em Revista,
Marechal Cndido Rondon/PR, ano 1, n 01, p. 27, dezembro de 1999. Regional. Posteriormente, o
nome desse veculo de comunicao foi mudado para Revista Regio. Paludo, com base em sua
documentao de pesquisa, aponta que ainda em 1968, nas primeiras eleies municipais realizadas em
Santa Helena, ocorreu a morte de um eleitor, em um dos comcios ento realizados. In: PALUDO.
op.cit. pp. 19-20.
8
Essas consideraes so realizadas pelo autor em seu trabalho, o qual realiza uma anlise da
historiografia do Oeste do Paran, em especial a do Municpio de Marechal Cndido Rondon (PR),
apontando para a constituio de marcos de memria do lugar, como a Colonizao, Mecanizao
do Campo e Modernizao da Agricultura e o Projeto da Germanidade, de implementao do
turismo no local, em torno da Oktoberfest. In: GONZALEZ, Emilio. As camadas da Memria: A
produo de marcos memorialsticos na historiografia regional do Oeste do Paran (Marechal Cndido
Rondon 1950 1990). In: Tempos Histricos. Marechal Cndido Rondon, v. 05/06, pp. 185-219,
2003/2004. p. 192.
17
da regio, possui uma produo significativa, voltada pesquisa de temas de interesse
para o lugar.
Muitas pessoas que residem em Santa Helena realizam seus estudos naquele
campus, compondo, tambm, os quadros discentes do curso de Histria. Muitos deles
acabam produzindo pesquisas sobre o municpio, o que proporciona ao acervo da
biblioteca dessa instituio muitos trabalhos de concluso de curso e monografias,
elaborados ao final da graduao e de alguns cursos de especializao na rea j
promovidos pela UNIOESTE.
Ao analisar algumas das obras produzidas no mbito dessa historiografia, pude
constatar que muitos trabalhos incorporam certos elementos dessa memria pblica
local e seus marcos, ressignificando-os. A imagem de harmonia projetada sobre a
colonizao
9
algo que se faz presente em muitos desses trabalhos, mesmo naqueles
que tratam de processos sociais desenvolvidos em perodos posteriores, a partir da
dcada de 1970. comum a constituio de uma espcie de linearidade, pela qual toma-
se como ponto de partida a sociedade formada na colonizao que teria sido
transformada por meio da mecanizao da agricultura.
Ocorrida na dcada de 1970, atribuda a esse processo, a incorporao do Oeste
do Paran ao sistema capitalista internacional, realizado por meio do agronegcio. A
partir disso teria ocorrido uma maximizao no uso das reas rurais, produzindo-se a
excluso de trabalhadores do campo no-proprietrios, e de pequenos agricultores.
Esses, de acordo com tais autores, tiveram que rumar para outras fronteiras agrcolas ou
para os ncleos urbanos regionais. Os trabalhadores que atualmente vivem na regio,
mesmo nas cidades, dentro dessa compreenso, teriam todos uma origem comum na
colonizao.
Com relao aos trabalhos produzidos tomando como recorte o Municpio de
Santa Helena, muitas dessas obras reproduzem algo semelhante.
10
O ponto de
9
Entre outros, esse carter fica muito presente nos seguintes trabalhos, consultados em termos de regio
Oeste do Paran: GREGORY, Valdir. Os eurobrasileiros e o espao colonial: migraes no Oeste do
Paran (1940-1970).Cascavel/PR: EDUNIOESTE, 2002; KLAUCK, Samuel. Gleba dos Bispos.
Colonizao no Oeste do Paran: Uma experincia catlica de ao social. Porto Alegre: Est Edies,
2004; SAATKAMP, Venilda. Desafios, lutas e conquistas: histria de Marechal Cndido Rondon. Cascavel-PR:
ASSOESTE, 1985; SCHLOSSER, Marli T. S. Modernizao agrcola: um estudo de discursos
jornalsticos na regio oeste do Paran (1966-1980). In: LOPES, Marcos A. (org.) Espaos da
memria: fronteira. Cascavel: EDUNIOESTE, 2000. pp. 67-78; e, SCHREINER, Davi Felix.
Cotidiano, Trabalho e Poder: a formao da cultura do trabalho no Extremo Oeste do Paran. 2. ed.
Toledo: Ed. Toledo, 1997.
10
COLODEL, Jos Augusto. Obrages e Companhias Colonizadoras: Santa Helena na Histria do Oeste
Paranaense at 1960. Santa Helena/Pr: Prefeitura Municipal, 1988; COLODEL, Jos Augusto.
18
desequilbrio, no entanto, apontado para essa sociedade, localizado na construo da
usina hidroeltrica de Itaipu.
Boa parte dos trabalhos que abordam a construo de Itaipu est preocupada em
denunciar as arbitrariedades com que foram procedidas as desapropriaes e os danos
causados pela usina, tanto queles que foram desapropriados, quanto para o municpio.
Por conta disso, em certos casos, os sujeitos e as formas como as pessoas
experimentaram tal processo so relegados a um plano secundrio.
As memrias, institudas por meio desses trabalhos acadmicos, e que compem a
historiografia local e regional, elegem a colonizao como um marco fundador da
regio e um momento de atrao populacional. A mecanizao da agricultura, e a
construo de Itaipu, por seu turno, so consideradas como responsveis pela evaso
populacional.
Nem todos os trabalhos, preciso ressaltar, acabam por reduzir suas problemticas
a tais modelos. Deparei-me, tambm, com obras de outros autores que, por sua vez,
realizam uma srie de crticas a essas verses.
11
Embora vrios desses estudos no
Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo: ensino fundamental. Santa Helena/PR:
Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educao e Cultura, 2000; FOCHEZATTO, Anadir.
Um estudo das experincias cotidianas coletivas de resistncia dos expropriados da Itaipu. Marechal
Cndido Rondon/PR: UNIOESTE, 2002. (Trabalho de Concluso de Curso em Histria); KOZERSKI,
Jos Alberto. Negcios pblicos: Santa Helena (1970-2002). Marechal Cndido Rondon/PR:
UNIOESTE, 2002. (Trabalho de Concluso de Curso em Histria); MACHADO, Jones Jorge. A
formao da classe e o cotidiano dos pescadores profissionais de Santa Helena. Marechal Cndido
Rondon/PR: UNIOESTE, 2002. (Trabalho de Concluso de Curso em Histria); MAFFISSONI, Joice.
Sonhos e perspectivas das mulheres santaelenenses na colonizao do Oeste do Paran. Marechal
Cndido Rondon/PR, UNIOESTE, 1999. (Monografia de Especializao em Histria Social na
Historiografia Contempornia); MAFFISSONI, Joice. Vivncia das Mulheres Separadas no
Municpio de Santa Helena PR. Marechal Cndido Rondon/PR: UNIOESTE, 1996. (Trabalho de
Concluso de Curso em Histria); PALUDO, Alair Incio. A reorganizao poltica em Santa Helena
no contexto da redemocratizao nacional: 1979-1985. Marechal Cndido Rondon/PR: UNIOESTE,
2002. (Trabalho de Concluso de Curso em Histria); PILETTI, Rosngela. A histria dos pescadores
de So Vicente Chico Santa Helena. Marechal Cndido Rondon/PR: UNIOESTE, 1999. (Trabalho de
Concluso de Curso em Histria); PREDIGER, Ezilda Ana. O impacto scio-econmico da Usina
Hidreltrica de Itaipu para o municpio de Santa Helena. Marechal Cndido Rondon/PR: UNIOESTE,
1998. (Monografia de Especializao em Histria Social na Historiografia Contempornia); e,
WELTER, Clarice. Santa Helena turstica: a construo de um discurso. Marechal Cndido
Rondon/PR: UNIOESTE, 2002. (Trabalho de Concluso de Curso em Histria).
11
Em termos regionais posso apontar: CARNIEL. op. cit; CESCONETO, Eugnia Aparecida. Catadores
de lixo: uma experincia da modernidade no oeste paranaense (Toledo, 1980/1999). Niteri/RJ: UFF,
2002. (Dissertao de Mestrado em Histria Social); GONZALEZ, Emilio. As camadas da Memria:
A produo de marcos memorialsticos na historiografia regional do Oeste do Paran (Marechal
Cndido Rondon 1950 1990). In: Tempos Histricos. Marechal Cndido Rondon, v. 05/06, pp.
185-219, 2003/2004; LAVERDI, Robson. Tempos diversos, vidas entrelaadas: trajetrias itinerantes
de trabalhadores na paisagem social do Extremo Oeste Paranaense (1970-2000). Niteri/RJ: UFF,
2003. (Tese de Doutorado em Histria Social); MYSKIW, Antonio Marcos. Colonos, posseiros e
grileiros: conflitos de terra no Oeste Paranaense (1961/66). Niteri: UFF, 2002. (Dissertao de
Mestrado em Histria Social); e, RIBEIRO, Sarah Iurkiv Gomes Tibes. Um passe de mgica: breve
ensaio sobre a construo da inexistncia de ndios no Oeste paranaense. In: Tempo da Cincia:
19
confrontam, diretamente, essa memria pblica e/ou seus marcos, eles descortinam uma
srie de tenses que existiram em diferentes processos sociais desenvolvidos na regio,
como os conflitos agrrios.
Outros trabalhos, dentre esses, realizam uma crtica mais incisiva, apontando, de
um lado, para os limites desses marcos de memria, e, de outro, para a pluralidade de
sujeitos envolvidos nos processos estudados, inclusive, na colonizao e para as
tenses que neles existiram. Chamam a ateno para a presena de migrantes vindos do
Sudeste e Nordeste do Brasil naquele perodo, bem como para a presena de povos
indgenas na regio. Destacam a ao criativa e o carter de sujeito que essas pessoas
assumiram nos diferentes perodos abordados.
Essa relao estabelecida com a memria pblica constitui-se em plo de grande
importncia para o trabalho acadmico. A prpria necessidade de criticar suas
elaboraes e marcos aponta para isso. A disputa pelo passado na regio e no municpio
envolve a historiografia, sendo que os trabalhos acadmicos a compem, reafirmando
ou criticando certas verses.
A relao que possuo com a regio, com o municpio e com sua memria pblica,
muito grande. Nasci e vivi por muitos anos na sede municipal de Santa Helena, onde
ainda moram meus pais. A famlia de meu pai, de ascendncia italiana, migrou do Rio
Grande do Sul para um dos distritos do municpio ainda na dcada de 1960, podendo ser
considerada como pioneira.
Minha vida no lugar, no entanto, no foi mediada por esse fator. Por meio da
alcunha colonizador, de maneira geral, so lembrados aqueles que foram mais bem-
sucedidos no lugar. Minha experincia deu-se a partir da situao de pobreza, vivida
no apenas por mim, no ambiente recessivo da dcada de 1980, como filho de
desapropriados de Itaipu e nas relaes de classe que vivenciei, em especial, como
trabalhador assalariado a partir de minha adolescncia. Tais fatores tiveram grande
importncia em minha trajetria, pois, apesar de viver em um pequeno municpio do
interior, ele tambm se constitui como uma sociedade estratificada, sendo o espao
pblico uma arena em que se delimitam lugares e valores de classe.
revista de cincias sociais e humanas. Toledo, v. 8, n. 15, pp. 59-68, jan./jun. 2001; Em termos locais
tal crtica realizada por: RADAELLI, Snia Regina. Coisa de algum, no comum: conflitos pela
posse da terra em Santa Helena (1960-1980). Marechal Cndido Rondon/PR: UNIOESTE, 2004.
(Trabalho de Concluso de Curso em Histria); enquanto que outro trabalho estabelece sua reflexo,
sem no entanto aprision-lo em tais marcos: BOTH, Claudia Simone. Trabalho informal: experincias
de empregadas domsticas no municpio de Santa Helena PR. Marechal Cndido Rondon/PR:
UNIOESTE, 2003. (Trabalho de Concluso de Curso em Histria).
20
Em minha vida no municpio, deparava-me diariamente com um outro lugar, que
no aquele propagandeado, a partir da dcada de 1990, na esfera pblica. Tornava-se
visvel para mim pobreza e as dificuldades vividas pela populao local. Apesar disso,
inquietava-me a relao que os trabalhadores do lugar estabeleciam com os grupos que
estavam frente do poder pblico municipal, aproximando-se deles, no chegando a
constituir um projeto popular autnomo.
Percebia, tambm, para alm das leituras de trabalhos acadmicos que realizei, um
constante movimento de pessoas que iam e vinham para o municpio. Mudar-se parecia
fazer parte de suas expectativas, nem sempre decorrendo de dificuldades financeiras.
Realizando-se a todo o momento, percebia que a mobilidade no podia ser aprisionada
em certos marcos de memria e nem segregada das aspiraes dessas pessoas. Ficava
visvel que essa sociedade era composta em meio a um contnuo movimento de
transformao, sendo que os moradores locais estavam longe de formar uma
comunidade, com uma trajetria comum.
Por outro lado, as memrias de meu pai sobre o perodo colonizatrio, diferiam
muito das verses difundidas regionalmente. Ele havia migrado acompanhando meus
avs e no havia se adaptado muito bem ao lugar. Talvez por isso apresentasse uma
outra memria, em que as tenses existentes nesse processo eram sua tnica.
Tais fatores me levaram a questionar esse modelo, muitas vezes harmonioso, de
evoluo da histria local, que culminava na idia de um contnuo desenvolvimento
do lugar. Durante a graduao em Histria, na UNIOESTE de Marechal Cndido
Rondon, preocupava-me muito com a denncia dos processos de explorao e de
dominao, apontando que eles existiam tambm na regio.
Como parte desse processo, inquietavam-me certos trabalhos acadmicos que
pareciam reafirmar elementos daquela memria, interessando-me pelas vertentes que,
julgava, observavam a sociedade de uma maneira mais crtica. Foi assim que acabei por
tomar contato e aproximar-me daquelas obras que estavam pensando a regio a partir da
crtica de sua memria pblica.
Envolvido nessas questes, durante o curso de graduao, ainda, desenvolvi uma
pesquisa de histria oral,
12
em que discutia trajetrias de alunos que freqentavam
12
Uma sntese das questes trabalhadas naquela pesquisa pode ser encontrada em: LANGARO, Jiani
Fernando. Peregrinos e Calejados: Experincias de escolarizao entre as classes trabalhadoras em
Marechal Cndido Rondon (PR). Marechal Cndido Rondon/PR: UNIOESTE, 2003. (Trabalho de
Concluso de Curso em Histria).
21
escolas voltadas a adultos no Municpio de Marechal Cndido Rondon. A partir desse
momento comecei a no mais me preocupar em apenas denunciar os processos de
explorao e dominao sofridos por aqueles trabalhadores, mas, principalmente, em
compreender as formas como iam constituindo suas vidas e significando as diferentes
situaes que vivenciavam.
Como problemtica, procurava discutir a importncia do letramento para suas
vidas, bem como sua articulao com o trabalho. Compreendendo que aqueles alunos
eram sujeitos da histria, procurava trabalhar as formas como eles significavam a
educao em suas vidas, assim como reformulavam o espao escolar, a partir de
demandas que lhes eram prprias.
Ao ingressar no Programa de Ps-Graduao da Universidade Federal de
Uberlndia, pretendia dar continuidade quela pesquisa. Entendia que ela havia ficado
mais restrita a trabalhadores urbanos e sua relao com a educao, na dcada de
1990, principalmente. Pretendia, no mestrado, ouvir mais trabalhadores rurais e ampliar
o recorte espacial para toda a regio, alm de trabalhar outros aspectos da cultura desses
trabalhadores. Pretendia abordar tais questes a partir da dcada de 1970, por
compreender que nesse perodo havia ocorrido uma srie de transformaes econmicas
regionais, incorporando a mecanizao da agricultura, que teria expulsado do
campo, como um marco, estabelecido anteriormente ao dilogo com os sujeitos da
pesquisa.
Com as leituras e demais discusses realizadas em sala-de-aula durante o curso,
tive a oportunidade de repensar minha proposta inicial. Tal fator auxiliou-me no
enfrentar os questionamentos iniciais, que trazia para minha pesquisa.
O problema, primeiramente, era iniciar a discusso sobre a vida daqueles
trabalhadores para alm de sua relao com a escolaridade. Entendia como o principal
que minha pesquisa a busca pelos modos-de-vida desses trabalhadores e seu fazer-se
como classe, em um estudo que dialogaria com essa memria pblica do lugar.
Da forma como atuava perante minha pesquisa, no estava conseguindo alcanar
esse objetivo. Estava preso s minhas propostas iniciais, procurando, por meio das
fontes orais, principalmente, relacionar e confrontar as leituras que havia feito. Foi
necessrio mudar essa maneira de trabalhar, estando mais aberto s questes que me
eram apresentadas pelo prprio processo histrico estudado.
Operei mudanas na forma como realizava os depoimentos orais, no tomando
mais a freqncia escola na vida adulta como requisito para a realizao da entrevista.
22
Passei a desenvolv-las de maneira mais aberta, o que se traduziu em uma inverso,
pois, ao invs de buscar a vida daqueles sujeitos a partir da educao, passei a procurar,
em seus mais diversos aspectos, sua cultura e sua prpria vida.
Nessa linha de atuao, foi necessrio realizar uma srie de mudanas na postura
que adotava, perante a pesquisa. Havia congelado, em minhas reflexes, uma srie de
conceitos, o que colaborava para esse olhar, um tanto restritivo, que lanava sobre as
fontes. Algumas obras, muitas realizadas durante o curso e debatidas em sala-de-aula,
auxiliaram-me nesse trabalho.
A leitura e discusso do Prefcio da obra A formao da classe operria
inglesa
13
, de E. P. Thompson, foi de grande valia, no sentido de repensar a noo de
classe social. O autor concebe classe como resultado da ao humana e refuta as teses
que a colocam como uma criao ou um mero reflexo da estrutura econmica
capitalista:
Por classe, entendo um fenmeno histrico, que unifica uma srie de
acontecimentos dspares e aparentemente desconectados, tanto na matria-
prima da experincia como na conscincia. Ressalto que um fenmeno
histrico. No vejo a classe como uma estrutura, nem mesmo como uma
categoria, mas como algo que ocorre efetivamente (e cuja ocorrncia pode
ser demonstrada) nas relaes humanas.
14
De acordo com Thompson, classe algo produzido pelos trabalhadores em sua
vida social e no existe como mera abstrao, como uma categoria de anlise
acadmica. Ocorre, efetivamente, nas relaes que as pessoas estabelecem, sendo algo
histrico. Construda pelos sujeitos, est em constante movimento de formulao e
reformulao, no podendo, tal noo, ser transplantada, simplesmente, para qualquer
realidade.
Subjacente a essa noo de classe social, o autor tambm apresenta sua concepo
de sujeito. Conforme aponta, as pessoas, a partir das relaes que vivem, constituem-se
como sujeitos, atuando de maneira criativa na sociedade. Explica que o movimento na
histria produzido pelas pessoas, por meio da experincia humana. No texto O termo
ausente: experincia,
15
o autor destaca que Karl Marx, em seus estudos, apontou para a
existncia dos modos de produo. No conseguiu, todavia, explicar como eles vo
sendo transformados no tempo. A partir disso prope:
13
THOMPSON, E. P. Prefcio. In: A formao da classe operria inglesa. V. I, Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1987, pp. 9-14.
14
Idem. p. 9.
15
THOMPSON, E. P. O termo ausente: experincia. In: A misria da teoria... op. cit. pp. 180-201.
23
O que descobrimos (em minha opinio) est num termo que falta: experincia
humana. esse, exatamente, o termo que Althusser e seus seguidores desejam
expulsar, sob injrias, do clube do pensamento, com o nome de empirismo.
Os homens e mulheres tambm retornam como sujeitos, dentro deste termo
no como sujeitos autnomos, indivduos livres, mas como pessoas que
experimentam suas situaes e relaes produtivas determinadas como
necessidades e interesses e como antagonismos, e em seguida tratam essa
experincia em sua conscincia e sua cultura (as duas outras expresses
excludas pela prtica terica) das mais complexas maneiras (sim,
relativamente autnomas) e em seguida (muitas vezes, mas nem sempre,
atravs das estruturas de classe resultantes) agem, por sua vez, sobre sua
situao determinada.
16
Thompson nega que as estruturas econmicas determinem a totalidade da vida
humana. As pessoas tm suas escolhas limitadas dentro da realidade em que vivem, mas
suas vidas no so totalmente determinadas. O autor refuta as teses do filsofo francs
Louis Althusser e sua concepo de ideologia, pois esse tomaria os valores
dominantes em uma sociedade como determinantes da vida de todas as pessoas.
Apesar do contato que j havia estabelecido com as obras de Thompson,
encontrava-me preso, ainda, a uma idia de classe como estrutura. Acabava deixando de
perceber muitos aspectos das experincias dos trabalhadores e do movimento constante
de seu fazer-se e refazer-se. Ao mesmo tempo, havia formulado um tipo ideal de
trabalhador, geralmente pobre e assalariado, ou atuando na informalidade.
Formulei, decorrente dessa concepo de classe, uma noo um tanto esttica de
cultura, mais precisamente de cultura popular. Acreditava que ela era prpria dos
trabalhadores, se no original, fruto de uma reelaborao quase que automtica dos
elementos produzidos pela cultura da classe dominante.
Outras leituras colaboraram para repensar tais noes, em especial, das obras de
autores vinculados aos estudos culturais britnicos, crculo que reunia intelectuais de
diferentes reas do conhecimento, como o j mencionado E. P. Thompson.
17
Tal
discusso gira em torno da compreenso de que a cultura compreende maneiras de
viver, no se restringindo s manifestaes artsticas ou imateriais de uma sociedade.
No estando separada das relaes sociais, tal noo implica, para os autores, em
relaes de dominao e subordinao.
16
Idem. p. 182.
17
Foi de grande valia, entre outras, a leitura dos textos: HALL, Stuart. Notas sobre a desconstruo do
popular. Da Dispora. Identidades e mediaes culturais. Belo Horizonte: UFMG; Braslia: UNESCO,
2003. pp. 248-64. p. 252; THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular
tradicional. So Paulo: Cia das Letras, 1998; e, WILLIAMS, Raymond. Marxismo e literatura. Rio de
Janeiro: Zahar ed. 1979.
24
Com relao cultura popular, ela compreendida no como algo puramente
autntico, isolado do restante da sociedade e automaticamente em oposio a uma
cultura de elite, mas, conforme apontam, ela possui, tambm, uma historicidade, sendo
constituda pelos sujeitos envolvidos, em uma relao com a cultura dos demais estratos
sociais.
A cultura aparece, nas obras dos integrantes dos estudos culturais, como algo
fundamental para compreender a sociedade em sua dinmica de transformao. Negam,
a dicotomia base/superestrutura, como forma de compreender as mudanas histricas.
Segundo esse modelo, a base se constituiria na estrutura econmica, em que as
transformaes efetivamente ocorreriam na sociedade, e a superestrutura seria composta
pelas idias e demais elementos do vivido, compreendidos como meros reflexos da
base.
Sobre essa questo, o crtico literrio britnico Raymond Williams enftico, ao
observar as concepes de alguns intelectuais da corrente marxista, com a qual ele
dialoga: Analistas ortodoxos comearam a pensar na infra-estrutura e na
superestrutura como se fossem entidades concretas e separveis. Com isso, perderam
de vista os prprios processos no relaes abstratas, mas processos constitutivos
que o materialismo histrico deveria ter, como sua funo especial, ressaltado.
18
Conforme aponta, tal separao artificial, decorrente de um processo de abstrao da
realidade em categorias meramente acadmicas.
Tanto base, ou infra-estrutura e superestrutura comporiam uma mesma
realidade. Crticas semelhantes so apontadas por Thompson, no texto Folclore,
Antropologia e Histria Social:
Dois erros arraigados na tradio marxista foram confundir o to importante
conceito de modo de produo (no qual as relaes de produo e seus
correspondentes conceitos, normas e formas de poder devem ser tomados como
um todo) com uma acepo estreita de econmico e o de, identicamente,
confundir as instituies, a ideologia e a cultura faccionria de uma classe
dominante com toda cultura e moralidade.
19
De acordo com o autor, o modo de produo refere-se a toda forma como a
sociedade estruturada. Elementos no diretamente ligados vida material tm uma
importncia fundamental, tanto na manuteno, como na transformao de uma
18
WILLIAMS, Raymond. Infra-estrutura e superestrutura. In: Marxismo e literatura. Op. cit. p. 85.
19
THOMPSON, E. P. Folclore, antropologia e histria social. In: As peculiaridades dos ingleses e
outros artigos. Campinas: Ed. da Unicamp, 2001. pp. 227-67. p. 259.
25
sociedade. Aponta a necessidade de pensar-se no apenas em idelogia, mas nos
valores e na dinmica que envolve a cultura, nas disputas e divises nela existentes.
Chama a ateno, ainda, para que os valores dominantes em um perodo no sejam
necessariamente, compartilhados por toda aquela sociedade.
Tais reflexes foram importantes para minha pesquisa. Ao inici-la, conferia uma
ateno muito grande aos processos de transformao estruturais ocorridos na regio,
situando a mecanizao da agricultura como um marco histrico local. Em
detrimento, negligenciava todo um campo de investigao representado pela
importncia das aes dos sujeitos e os demais aspectos de suas vidas e cultura, para as
mudanas histricas, que, demonstravam ocorrer de maneira bem mais complexa do que
inicialmente pareciam.
Foi de grande importncia, tambm, a leitura e discusso do livro Muitas
memrias, outras histrias
20
, a fim de repensar o trabalho em histria social, a cultura e
a memria. Trata-se de uma obra coletiva que sintetiza as discusses realizadas por
diversos historiadores que esto vinculados a vrias instituies de ensino superior
brasileiras e estiveram reunidos entre os anos 2001 e 2004, por meio do PROCAD
(Programa de Cooperao Acadmica).
O livro tornou-se um instrumento fundamental para o desenvolvimento da
pesquisa, sendo que os autores tratam de questes relacionadas com experincias e
prticas de pesquisa em histria social no Brasil, conferindo ateno, principalmente,
para o estudo da memria social. Logo na Introduo, os autores desse texto expem
um pouco de sua trajetria profissional. Conferem destaque para a histria social muito
pautada no movimento operrio, que precisou ser transformada em virtude das prprias
questes que iam surgindo no Brasil, em funo, principalmente, da emergncia dos
movimentos sociais, a partir do final a dcada de 1970. Apontam que as prprias
transformaes que foram produzidas na realidade os foraram a mudar suas
concepes entre elas, a de mudana social que estavam cristalizadas no discurso
acadmico. Conforme avaliam:
Deixando para trs aquele tempo em que o sujeito era dado a priori, como
categoria meramente terica, efetuamos a crtica ao discurso da negatividade,
na qual o projeto poltico, baseado na teoria teleolgica da transformao nos
havia colocado. E mais: operamos, de fato, no exerccio da pesquisa, e de
nossa prtica social, o deslocamento para um outro tempo, no qual se prope o
20
FENELON, Da Ribeiro; MACIEL, Laura Antunes; ALMEIDA, Paulo Roberto de; KHOURY, Yara
Aun. (orgs.). Muitas memrias, outras histrias. So Paulo: Olho dgua, 2004.
26
espao da memria social como o da visibilidade de sujeitos reais que tm
potncia. Nessa direo, destacam-se os estudos dos modos de viver e das
culturas que nos falam as memrias.
21
Os autores estudam sujeitos reais, que tratam, em suas conscincias, os elementos
do vivido e produzem seus modos-de-vida. Tratam, a partir de diferentes linguagens, a
memria como prtica social e forma de expresso de pessoas e grupos sociais.
Apontam que ela constitui-se em fato, em dado social e interveno operada na
realidade vivida. Consideram, ainda, que existem muitas memrias e que, a partir
delas, reside necessidade de produzir-se outras histrias, no estando o
conhecimento historiogrfico resignado em sua academicidade, fora dessa disputa.
Tal questo trabalhada mais diretamente por Yara Aun Khoury,
22
em um dos
artigos do livro, embora expresse muitas das concepes compartilhadas pelos demais
autores. Conforme aponta:
No trabalho com essas problemticas e na reflexo sobre os procedimentos que
adotamos, tornamo-nos mais atentos bagagem intelectual e cultural que
molda nossa prpria formao. Ao lidarmos com a memria como campo de
disputas e instrumento de poder, ao explorarmos modos como memria e
histria se cruzam e interagem nas problemticas sociais sobre as quais nos
debruamos, vamos observando como memrias se instituem e circulam, como
so apropriadas e se transformam na experincia social vivida. No exerccio da
investigao histrica por meio do dilogo com pessoas, observamos, de
maneira especial, modos como lidam com o passado e como este continua a
interpelar o presente enquanto valores e referncias.
23
As memrias so tratadas como algo ativo na sociedade e produzidas pelos
sujeitos. So transformadas e reelaboradas, estando em constante movimento, em meio
s disputas e tenses, nas quais os sujeitos se formam e formulam seu aprendizado.
A autora aponta para as dificuldades e os avanos obtidos ao procurar trabalhar
com a sociedade, em movimento, sem enquadrar os sujeitos estudados em grupos cujos
contornos estejam estabelecidos previamente. Discute a necessidade de se observar
como as pessoas vo constituindo os limites da vida social, em um constante
movimento de fazer e refazer.
Nesse caminho, de acordo com Khoury, os autores tambm se deparam com a
necessidade de pensar a cultura popular. Conforme destaca: ...enquanto
21
FENELON, Da Ribeiro; CRUZ, Heloisa Faria; PEIXOTO, Maria do Rosrio Cunha. Introduo:
muitas memrias, outras histrias. In: Idem. pp. 5-13. p. 7.
22
KHOURY, Yara Aun. Muitas memrias, outras histrias: cultura e o sujeito na histria. In:
FENELON, Da Ribeiro et al. (orgs.). op. cit. pp. 116-138.
23
Idem. p. 118.
27
aprimoramos a conscincia da historicidade do conhecimento, pensando-o como
constitutivo da dinmica social por onde ele se engendra, vamos ampliando a noo de
cultura e modificando a noo de cultura popular, considerando-a no algo parte, em
oposio a uma cultura dominante, mas o espao da diferena e ambas constitutivas da
mesma cultura, que de todos.
24
importante notar que a cultura considerada, pelos autores, como o lugar do
poltico e da vida das pessoas. Afastam-se da noo de cultura popular como extico
ou, de acordo com as discusses promovidas durante o curso, como patrimnio
histrico imaterial, considerando, de maneira isolada, apenas alguns de seus aspectos,
como as festas e outras manifestaes. Ela buscada como lugar do vivido, em que as
pessoas constituem-se e manifestam seus posicionamentos em meio tenso social.
De maneira geral, o livro apresenta a necessidade do historiador saber trabalhar
com realidades cujos limites excedem aquilo que compreende sobre a sociedade. Os
autores chamam a ateno para a incapacidade dos modelos tericos responderem a
todas as questes de uma pesquisa. Para tanto, apontam para a necessidade de
estabelecer um dilogo com as fontes, afim de compreend-las em sua dinmica prpria,
nos sentidos e relaes sociais que expressam.
A importncia da obra para o desenvolvimento deste estudo reside na discusso
realizada acerca de concepes que foram fundamentais para o desenvolvimento da
pesquisa. A postura que os autores defendem sobre o trabalho do historiador, em
especial, foi muito importante nessa valorizao do dilogo entre o conhecimento
acadmico e as evidncias.
Outras leituras foram importantes, tambm, para refletir no apenas sobre
conceitos, mas tambm sobre o trabalho com as fontes utilizadas na pesquisa.
25
A partir
delas, pude refletir melhor sobre a utilizao de jornais, revistas, fotografias,
24
Idem. p. 118-9.
25
A esse respeito, colaboraram principalmente: CRUZ, Heloisa de Faria. A cidade do reclame:
propaganda e periodismo em So Paulo 1890/1915. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 13, pp. 81-
92, junho/96; FENELON, Da Ribeiro et al. (orgs.). op. cit.; GRANET-ABISSET, Anne Marie, O
historiador e a fotografia. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 24, pp. 9-26, junho de 2002;
GRANGEIRO, Cndido Domingues. Introduo. As artes de um negcio: a febre fotogrphica. So
Paulo: 1862-1886. So Paulo: Mercado de Letras, 2000; KNAUSS, Paulo. O descobrimento do Brasil
em escultura: imagens do civismo. In: Projeto Histria. So Paulo, n 20, pp. 175-192, abril de 2000;
KOSSOY, Boris. Fotografia e Histria. So Paulo: tica, 1989; KOSSOY, Boris. Fotografia e
memria: reconstituio por meio da fotografia. In: SAMAIN, Etienne. (org.). O fotogrfico. So
Paulo: Hucitec, 1998. pp. 41-7; e, MAUAD, Ana Maria. Fragmentos de memria: oralidade e
visualidade na construo das trajetrias familiares. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 22, pp. 157-
169, junho de 2001.
28
monumentos e obras memorialsticas como fontes histricas. Posso apontar, em
especial, a contribuio da j mencionada obra Muitas memrias, outras histrias,
26
para a compreenso de diferentes linguagens como meios instituintes de memrias,
expresso de relaes sociais e parte constituinte da dinmica de transformao
histrica.
Com relao s fontes orais, muitos foram os trabalhos que me auxiliaram a
pens-las como material a ser utilizado na pesquisa histrica.
27
A obra de Alessandro
Portelli, crtico literrio italiano que se dedica histria oral, foi de vital importncia,
em especial sua noo de subjetividade:
O principal paradoxo da histria oral e das memrias , de fato, que as fontes
so pessoas, no documentos, e que nenhuma pessoa, quer decida escrever sua
prpria autobiografia (como o caso de Frederick Douglass), quer concorde
em responder a uma entrevista, aceita reduzir sua prpria vida a um conjunto
de fatos que possam estar disposio da filosofia de outros (nem seria capaz
de faz-lo, mesmo que o quisesse). Pois, no s a filosofia vai implcita nos
fatos, mas a motivao para narrar consiste precisamente em expressar o
significado da experincia atravs dos fatos: recordar e contar j interpretar.
A subjetividade, o trabalho atravs do qual as pessoas constroem e atribuem o
26
FENELON, Da Ribeiro et al. (orgs.). op. cit.
27
Foi importante para a realizao dessas reflexes, principalmente: ALMEIDA, Paulo Roberto de. &
KOURY, Yara Aun. Histria oral e memrias: entrevista com Alessandro Portelli. In: Histria e
Perspectivas, Uberlndia/MG, n. 25 e 26, pp. 27-54, jul./dez. 2001/jan./jun. 2002; FENELON, Da
Ribeiro et al. (orgs.). op. cit; FERREIRA, Marieta de Moraes, e AMADO, Janana (org.). Usos &
Abusos da Histria Oral. Rio de Janeiro: Ed. da Fundao Getlio Vargas, 1996; KHOURY, Yara
Aun. Narrativas orais na investigao da histria social. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 22, pp.
79-103, junho de 2001.; PORTELLI, Alessandro. A Filosofia e os Fatos: Narrao, interpretao e
significado nas memrias e nas fontes orais. In: Tempo. Rio de Janeiro, v.1, n. 2, pp. 59-72, 1996;
PORTELLI, Alessandro. As fronteiras da memria: o massacre das fossas ardeatinas. Histria, mitos,
rituais e smbolos. In: Histria e Perspectivas, Uberlndia/MG, n. 25 e 26, pp. 9-26, jul./dez.
2001/jan./jun. 2002; PORTELLI, Alessandro. Dividindo o mundo: o som e o espao na transio
cultural. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 26, pp. 47-64, junho de 2003; PORTELLI, Alessandro.
Forma e significado na histria oral: a pesquisa como um experimento em igualdade. In: Projeto
Histria. So Paulo, PUC/SP, n. 14, pp. 7-24, fevereiro de 1997; PORTELLI, Alessandro. Histria
oral como gnero. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 22, pp. 9-58, junho de 2001; PORTELLI,
Alessandro. Memria e dilogo: desafios da histria oral para a ideologia do sculo XXI. In:
Histria oral: desafios para o sculo XXI. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz/Casa de Oswaldo Cruz/CPDOC
Fundao Getlio Vargas, 2000. pp. 67-71; PORTELLI, Alessandro. O que faz a histria oral
diferente In: Projeto Histria. So Paulo, PUC/SP, n. 14, pp. 25-39, fevereiro de 1997; PORTELLI,
Alessandro. (coord.). Repblica dos sciuci: a Roma do ps-guerra na memria dos meninos de Dom
Bosco. So Paulo: Editora Salesiana, 2004; PORTELLI, Alessandro. Sonhos ucrnicos: memrias e
possveis mundos dos trabalhadores. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 10, pp. 41-58, 1993;
PORTELLI, Alessandro. Tentando aprender um pouquinho: algumas reflexes sobre a tica na
histria oral. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 15, pp. 13-33, abril de 1997; SAMUEL, Raphael.
Histria local e histria oral. Revista Brasileira de Histria. So Paulo, v. 9, n. 19, pp. 219-243, set.
89/fev. 90; SAMUEL, Raphael. Teatros da memria. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 14, pp. 41-
88, fevereiro de 1997; THOMSON, Alistair. Quando a memria um campo de batalha:
envolvimentos pessoais e polticos com o passado do exrcito nacional. In: Projeto Histria n. 16.
So Paulo, pp. 277-96, fev. 1998; e, THOMSON, Alistair. Recompondo a memria: questes sobre a
relao entre a histria oral e as memrias. In: Projeto Histria. So Paulo, n. 15, pp. 51-71, abril de
1997.
29
significado prpria experincia e prpria identidade, constitui por si
mesmo o argumento, o fim mesmo do discurso. Excluir ou exorcizar a
subjetividade como se fosse somente uma fastidiosa interferncia na
objetividade factual do testemunho quer dizer, em ltima instncia, torcer o
significado prprio dos fatos narrados.
28
Segundo o autor, existe um terreno comum, formado por idias, prticas sociais e
demais elementos vividos pelas pessoas. A partir dele, muitas memrias so produzidas.
A percepo individual de certos eventos e elementos constituintes do social, elaboradas
por sujeitos a partir de uma cultura, constantemente refeita, constitui-se na subjetividade
dos depoimentos orais.
A memria, segundo Portelli, social e compartilhada, no sendo igual para todas
as pessoas. A subjetividade de uma narrativa no se constitui em uma impreciso, que
deve ser eliminada durante o processo de anlise dos depoimentos orais. Trata-se de
algo fundamental para sua compreenso, pois revela os sentidos atribudos pelas pessoas
aos eventos narrados e a relao que estabelecem com eles.
Seu estudo torna-se imprescindvel para o presente trabalho, uma vez que elege as
pessoas e suas vidas como principal foco de preocupao. As narrativas dos
trabalhadores entrevistados, neste estudo, so compreendidas, tambm, como
possibilidades, existentes nessa sociedade. De acordo com Portelli, a representatividade
dos depoimentos orais no se d a partir de critrios quantitativos:
...a palavra-chave aqui possibilidade. No plano textual a
representatividade das fontes orais e das memrias se mede pela
capacidade de abrir e delinear o campo das possibilidades expressivas.
No plano dos contedos, mede-se no tanto pela reconstruo da
experincia concreta, mas pelo delinear da esfera subjetiva da
experincia imaginvel: no tanto o que acontece materialmente com as
pessoas, mas o que as pessoas sabem ou imaginam que possa suceder. E
o complexo horizonte das possibilidades o que constri o mbito de
uma subjetividade socialmente compartilhada.
29
Embora cada entrevista seja nica e apresente um certo posicionamento do
narrador, de tais relatos emergem as possibilidades existentes no terreno comum, de
onde a pessoa fala. Esses horizontes do possvel constituem-se no apenas naquilo que
realmente foi vivido, mas no que pode vir a acontecer. nesse ponto que reside
importncia das fontes orais, por expressar, em uma sociedade, esse conjunto de valores
e elementos compartilhados. O nmero de pessoas entrevistadas, bem como o de
28
PORTELLI, Alessandro. A Filosofia.... op. cit. pp. 60-1.
29
Idem. p. 70.
30
narrativas utilizadas para a produo do trabalho final, torna-se relativo s necessidades
colocadas pelas questes levantadas na pesquisa.
Dentre os estudos consultados, que tratam das fontes orais, muitas outras questes
foram importantes e colaboraram para a realizao deste trabalho. Entre elas, possvel
apontar a relao estabelecida entre pesquisador e narrador, as diferentes
temporalidades que se intercruzam nas narrativas e demais elementos constituintes dos
processos de formao de memrias e depoimentos orais. Em especial, foi muito
produtivo o contato com as experincias de pesquisa que tratavam do movimento
dinmico de reformulao das memrias, destacando que elas tambm esto em um
processo contnuo de transformao, possuindo, dessa maneira, historicidade.
No possvel sintetizar aqui todos os estudos que foram teis para a realizao
do presente estudo. Suas colaboraes foram muitas e encontram-se presentes nas
reflexes que desenvolvo ao longo do trabalho. Apesar disso, um dos maiores
aprendizados obtidos no decorrer dessas leituras foi o de no simplesmente buscar
conceitos prontos a fim de aplic-los pesquisa. Como possvel observar, nesses
textos e, principalmente, na obra de Thompson, cada situao e perodo estudado
apresenta suas particularidades. As aes dos sujeitos so nicas e para estud-las torna-
se necessrio tomar o cuidado para no sobrepor o conhecimento acadmico sobre suas
atuaes.
Compreendi que tais trabalhos no se constituam em modelos a serem
seguidos. Consistiam na experincia daqueles autores e, enquanto tal, poderiam oferecer
reflexes importantes, colaborando em minha pesquisa. No dariam conta, entretanto,
de responder s questes de meu estudo que, a bem da verdade, somente seriam
equacionadas por meio do trabalho de pesquisa.
Esses aspectos ficam muito patentes no texto Intervalo: a lgica Histrica,
30
de
Edward Palmer Thompson, no qual o autor reflete sobre o trabalho do historiador:
Por lgica histrica entendo um mtodo de investigao adequado a
materiais histricos, destinado, na medida do possvel, a testar hipteses
quanto estrutura, causao, etc., e a eliminar procedimentos
autoconfirmadores (instncias, ilustraes). O discurso histrico
disciplinado da prova consiste num dilogo entre conceito e evidncia, um
dilogo conduzido por hipteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa emprica,
de outro.
31
30
THOMPSON, E. P. Intervalo: a lgica Histrica. In: A misria da teoria ou um planetrio de erros.
Zahar Editores: Rio de Janeiro, 1981. pp. 47-62.
31
Idem. p. 49.
31
Ao pesquisador em histria, conforme aponta, no cabe a tarefa de buscar um
sistema pronto de idias, um modelo terico para aplicar em sua pesquisa, pois dessa
maneira se estaria sobrepondo o conhecimento acadmico sobre a realidade estudada e
s outras questes para as quais as evidncias apontam. O autor destaca a necessidade
de se realizar um trabalho dialtico, de constante trnsito entre o conhecimento
produzido e aquilo que o estudo dos processos histricos, que so nicos, e as fontes
vo descortinando.
Tal concepo me despertou a ateno para estar aberto s questes que iam se
apresentando no decorrer da pesquisa. Novas problemticas foram surgindo, colocando
em cheque muitas questes que considerava como resolvidas e lanando luz sobre
problemas que precisavam ser enfrentados, diante daquilo que estava estudando.
As modificaes que empreendi na pesquisa foram, tambm, decorrentes de uma
nova postura que assumi perante esse trabalho. Antes, refugiava-me no conhecimento
acadmico, tratando minha proposta como algo cientfico, elaborada a partir de
interesses tcnicos. Disso decorria uma sobrevalorizao do terico, em detrimento
daquilo que as fontes apontavam para mim em relao sociedade estudada. Precisei
assumir-me como sujeito da pesquisa, demonstrando o lugar social de onde partia, com
minhas reflexes, assim como expressar os caminhos que estava percorrendo nessa
tarefa. Foi Preciso adotar, para meu trabalho, o olhar poltico que Sarlo aponta como
necessrio, referindo-se ao estudo das obras de arte.
32
Entendendo a pesquisa histrica como uma relao estabelecida entre o
historiador, suas fontes e a sociedade, aponto parte de minhas intervenes no
desenvolvimento do presente trabalho. A escolha por limitar a pesquisa ao Municpio de
Santa Helena, deu-se pela impossibilidade de desenvolver um estudo que abrangesse
toda a regio, em virtude do tempo disponvel para seu desenvolvimento. Mas, tal opo
deu-se, principalmente, em virtude do conhecimento que possua de sua dinmica social
e pela srie de inquietaes que trazia dele.
Apesar de no buscar nas evidncias uma mera ilustrao de idias pr-
concebidas, preciso frisar que minha interveno se fez presente na organizao do
conjunto documental e na elaborao da proposta de pesquisa. As diferentes
temporalidades, elaboradas pelos entrevistados, foram possveis no apenas em virtude
32
SARLO, Beatriz. Um olhar poltico: em defesa do partidarismo na arte. In: Paisagens Imaginrias:
intelectuais, arte e meios de comunicao. So Paulo: Edusp, 1997. pp. 55-63.
32
da postura deles perante suas narrativas, mas, tambm, por minha proposta ter como
objetivo estar aberta a elas e, a partir disso, realizar um dilogo, confrontando-as com
os marcos daquela memria pblica triunfante do lugar.
Aponta para tal aspecto, o fato de uma das pessoas entrevistadas por mim, t-lo
sido, tambm, em outro projeto, voltado ao desenvolvimento da memria pblica do
lugar. As diferentes posturas, com relao ao passado, tambm decorrem de escolhas e
de posturas polticas adotadas por mim no decorrer da pesquisa.
Quanto ao trabalho de pesquisa, iniciei com o levantamento de fontes orais.
Procurei abordar trabalhadores de diferentes ofcios, que naquele momento estivessem
morando em Santa Helena. No estabeleci uma categoria profissional para estudar, em
especfico, uma vez que percebia um constante trnsito realizado por esses sujeitos no
local, por entre diferentes atividades. No restringi o estudo somente a um local do
municpio, embora todas as pessoas entrevistadas estivessem residindo na sede
municipal de Santa Helena ou em localidades adjacentes, como Linha Guarani e Linha
Santo Antnio, pertencentes ao Distrito de Sub-Sede So Francisco e Linha Buric,
integrante do distrito-sede.
33
Como boa parte dos trabalhadores residentes no local no nasceu ali, privilegiei as
narrativas daqueles vindos no perodo posterior dcada de 1970, embora, no decorrer
da pesquisa, tal critrio no permaneceu fixo. Isso porque, em todo o trabalho, tomei o
cuidado de estar atento s diferentes temporalidades, assim como s diversas noes de
espao que os entrevistados e demais fontes iam apresentando, no me prendendo muito
a recortes pr-estabelecidos.
Procurei no definir, a priori, as pessoas que entrevistaria, uma vez que
compreendia ser a classe algo formado pelos trabalhadores e no o resultado de
processos desenvolvidos apenas no mbito de estruturas econmicas. Procurei, porm,
no produzir depoimentos orais com pessoas que compreendia fazer parte dessa espcie
de elite local, acreditando que outras fontes j expressavam de seus posicionamentos,
como os jornais. Optei por privilegiar as narrativas que acreditava serem mais
populares, por compreender que estava buscando nessas fontes captar dimenses da
33
Localmente, Linha refere-se comunidade rural onde no existe aglomerao urbana. Como sua
sede, geralmente considerado o local onde fica edificado uma igreja (geralmente catlica) e o centro
social (pavilho de festas). Os demais ncleos urbanos, alm da sede municipal, so popularmente
chamados de vilas. Algumas regies do municpio so reconhecidas pela prefeitura municipal como
distritos, levando o nome das vilas onde ficam localizadas as sub-prefeituras municipais. O distrito-
sede compreendido pela rea rural que est submetida diretamente sede municipal, no possuindo
sub-prefeitura.
33
disputa pelas muitas memrias do lugar e no opor uma memria popular a uma
outra, de elite. Evitei, tambm, a recorrncia a certas falas autorizadas, ou seja,
pessoas reconhecidas localmente como aptas a falar do passado, ou que fizessem
parte do conjunto de sujeitos lembrados, geralmente, naquela memria pblica,
construda sobre Santa Helena.
Reitero, que tais critrios, no eram muito fixos, mesmo porque os contornos que
marcam a diferena e a desigualdade no esto claramente estabelecidos no social.
Como resultado, compus um conjunto de 18 depoimentos orais,
34
produzidos com
pessoas de diferentes idades, nascidas no municpio ou vindas em diversos perodos,
com condies financeiras das mais variadas e atuando em diversos ofcios, sendo, em
sua maioria, trabalhadores assalariados, autnomos, informais, alguns pequenos
agricultores e microempresrios.
Para realizar essa tarefa, parti de um conjunto inicial de pessoas j conhecidas por
mim. Elas foram indicando outras, amigos e vizinhos, comumente, que poderiam se
dispor a conceder seus depoimentos orais. A escolha foi aleatria em alguns casos, uma
vez que cheguei a abordar na rua ou em suas casas certas pessoas que costumava ver por
Santa Helena.
Optei, todavia, por realizar as entrevistas em suas residncias, por compreender
que seus locais de trabalho poderiam no ser adequados para realizar tal tarefa.
Acreditava que o ambiente domstico seria o local onde eles mais se sentiriam
vontade para realizar a entrevista. Procurava deix-los livres para marcar o dia e horrio
para realizar essa atividade, respeitando, sempre, sua disponibilidade de tempo.
De maneira geral fui bem recebido pelas pessoas, embora seus envolvimentos com
a proposta tivessem sido diferenciados. No ocorreram casos de pessoas que
requisitassem alguma espcie de pagamento pela concesso da entrevista. Algumas, no
entanto, ficaram um pouco receosas em participar da pesquisa, temendo que tais
narrativas pudessem lhes causar algum prejuzo.
Os depoimentos foram realizados no ms de julho de 2004 e, de acordo com o
avano da campanha pelas eleies municipais, alguns trabalhadores sentiram-se
inseguros em prestar seus depoimentos. Cheguei a deparar-me com um caso em que
34
Ao final do presente trabalho, junto relao de fontes, apresento cada um dos trabalhadores
entrevistados. Aponto, tambm, algumas informaes sobre suas trajetrias de vida que considero
importantes para a pesquisa. Alm disso, destaco alguns aspectos constantes da experincia de
entrevista, desde a forma como cheguei at a pessoa, at quando e onde foi realizada.
34
uma pessoa pediu desculpas, mas no quis gravar entrevista. Para contornar tal situao,
comecei a abordar os possveis entrevistados no mais afirmando que faria uma
pesquisa em histria, o que poderia lembrar pesquisas eleitorais, mas um estudo de
histria.
Mesmo assim, durante todo esse processo de produo de depoimentos orais,
alguns aceitavam conceder entrevistas desde que no abordassem questes de cunho
poltico-eleitoral que, localmente, costumam apresentar-se de maneira tensa. Houve,
entretanto, pessoas que se sentiram mais vontade, inclusive para expressar seus
posicionamentos e simpatias eleitorais.
De qualquer forma, isso colocou-me em um dilema tico. A fim de equacion-lo,
procurei trabalhar de maneira crtica as narrativas dessas pessoas, mas, tentando
preserv-las, no as expondo diretamente a certas situaes constrangedoras ou que,
posteriormente, lhes pudessem causar certos danos. Abordei algumas questes sem
fazer meno direta a pessoas em especfico, sendo isso possvel porque o objetivo do
presente trabalho no consiste em realizar uma srie de estudos de caso, mas apresentar
horizontes possveis da vida desses trabalhadores.
Para a produo dos depoimentos, no lancei mo de um questionrio previamente
elaborado. Pedia para as pessoas entrevistadas, ao incio do depoimento, que
sintetizassem suas trajetrias de vida e, a partir dos temas e enredos que iam sendo
apresentadas por elas, realizava os questionamentos. Possua, entretanto, alguns temas
de interesse que me orientavam nessa tarefa, tais como: o lugar onde haviam nascido;
outros locais em que haviam morado; como e quando haviam rumado para o Oeste do
Paran e, especialmente, para Santa Helena; atividades em que haviam trabalhado;
expectativas para o futuro; e, certos hbitos e prticas, como alimentao, lazer e
religiosidade. Procurava perceber diferentes aspectos da vida que essas pessoas iam
constituindo no lugar e os sentidos atribudos por elas para suas trajetrias.
No momento da redao do presente trabalho, no foi necessrio utilizar todas
essas narrativas. Apesar disso, no estabeleci de antemo quais depoimentos seriam
ocupados, optando por trabalhar as narrativas que acreditava serem as mais adequadas
para responder problemtica geral do trabalho.
Alm dessas, outras fontes foram levantadas junto a alguns entrevistados que se
mostraram em sua maioria, mais acolhedores pesquisa e se dispuseram a ceder
fotografias de seus lbuns de famlia. Elas retratam, comumente, momentos de festas e a
35
vida em famlia. Por conta dos recortes necessrios ao desenvolvimento da pesquisa,
infelizmente, sua utilizao ficou limitada.
A partir das narrativas dos entrevistados, senti a necessidade de recorrer a outras
fontes, a fim de realizar um estudo relacional. Notava que muitos elementos daquela
memria pblica eram tratados por essas pessoas em seus depoimentos. Tal fator
apontou para a necessidade de se pensar como tal memria constitua-se e, inclusive, as
transformaes que nela haviam sido operadas. Notei que seria, a partir do
intercruzamento de diferentes linguagens, entre elas, as fontes orais, que conseguiria
trabalhar, de maneira mais clara, a disputa entre as muitas memrias do lugar.
Foi assim que passei a utilizar, como fontes, monumentos e aquilo que denomino,
ao longo do trabalho, de lugares de memria de Santa Helena, ou seja, locais pblicos
que fazem apelo ao passado do lugar. Fotografei esses locais, em sua maioria, para
poder apresent-los no texto, enquanto que outros reproduzi de materiais promocionais
da prefeitura municipal, como o Calendrio de Eventos, os quais compem, tambm, o
conjunto de evidncias consultadas.
Levantei, ainda, alguns jornais, em sua maioria editados no prprio municpio e
um conjunto de exemplares da Revista Regio, de Marechal Cndido Rondon. Esses
jornais, assim como materiais promocionais da administrao municipal, faziam parte
de um pequeno acervo pessoal que havia formado durante o processo de pesquisa. Alm
desses, recebi alguns recortes de jornal de Castro, militante do PT (Partido dos
Trabalhadores) de Santa Helena. Conforme aponta, ele fazia parte da ACULT
(Academia Cultural), entidade no-governamental do municpio, voltada promoo da
cultura e como parte das atividades que realizava, reunia recortes de matrias
jornalsticas que se referiam a temas de interesse aos projetos dessa entidade, como
matrias que tratassem do municpio, de educao e ensino superior (em especial os
referidos a UNIOESTE).
Os recortes de jornais, a mim doados, j estavam selecionados para o descarte, no
lhe interessando mais. Conforme aponta, o objetivo daquela entidade era, a partir da
organizao desse material, formular subsdios para um processo de educao, a fim de
formar uma nova sociedade, voltada democracia. Faziam parte, portanto, de um
projeto de constituio de um outro lugar de memria no municpio.
Quanto s revistas, elas foram recebidas, como cortesia, por meu pai, o senhor
Natlio Langaro. Ele tomou o cuidado de guard-las, formando uma coleo, que
durante o processo de pesquisa foi cedida para mim.
36
Serviram como fonte para a discusso, as obras do historiador Jos Augusto
Colodel, composta de dois livros publicados e uma srie de artigos veiculados em
jornais locais, que sero apresentados e discutidos no decorrer do trabalho. Esse autor
esteve voltado ao trabalho com a memria, vinculado a projetos da Prefeitura Municipal
de Santa Helena.
Levantei, ainda, um conjunto de fontes auxiliares. Entre elas esto estatsticas do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) e do IPARDES (Instituto
Paranaense de Desenvolvimento Econmico e Social), material esse que serviu mais
para minha orientao no trabalho com certas questes. Possibilitaram-me perceber
como tais rgos esto tratando certos elementos daquela realidade, como a variao
populacional e a relao entre campo e cidade. A partir de uma perspectiva quantitativa,
possvel notar que as estatsticas tambm so formas de instituirem-se memrias.
Reuni uma srie de mapas e a planta urbana da sede municipal de Santa Helena, os
quais foram teis no sentido de procurar orientar os possveis leitores, ao longo do texto,
na localizao e visualizao de muitos dos lugares mencionados. Em certos momentos,
foi possvel perceber e trabalhar sua insero nessa disputa pelo passado.
Como resultado desse trabalho de pesquisa, apresento esta dissertao de mestrado
dividida em trs captulos. No primeiro captulo, intitulado: Construindo um olhar
sobre o passado: usos e lugares de memria, abordo um pouco do processo de
constituio dessa memria pblica de Santa Helena.
Analiso a obra memorialstica de Jos Augusto Colodel, monumentos e locais
pblicos, chamados, por mim, de lugares de memria, como prdios e praas, que
apresentam um apelo ao passado, alm de materiais publicitrios e informativos
produzidos pela prefeitura municipal. Fao um estudo, a partir de exemplares de
imprensa e fotojornalismo local e regional, sobre as formas como os elementos dessa
memria so veiculados em tais linguagens e circulam nessa sociedade, procurando
perceber as formas como os trabalhadores locais so tratados por eles. Busco trabalhar
as formas como tais memrias expressam projetos elaborados para o municpio, por
determinados grupos sociais, principalmente, aqueles vinculados s elites locais.
No segundo captulo, intitulado: Entre trajetrias e expectativas: muitas
memrias de um lugar, discuto o olhar que trabalhadores de Santa Helena projetam
sobre suas trajetrias de vida, procurando perceber as formas como eles vo
recompondo as memrias de suas vidas e os sentidos que vo atribuindo aos diversos
momentos narrados.
37
Observo a constituio no de uma memria popular pura ou em oposio
quela constituda na esfera pblica, mas as formas como essas pessoas transitam por
aquelas verses, expressando as muitas memrias, existentes no lugar e inserindo suas
narrativas nessa disputa pelo passado. Percebo um carter poltico nas narrativas dos
trabalhadores entrevistados, relacionado, geralmente, com a afirmao desses sujeitos,
na sociedade local. Procuro compreender as intencionalidades contidas na subjetividade
desses depoimentos, entendendo-os como fato e posicionamento dos trabalhadores
entrevistados perante essa sociedade. Tomo como fonte, nesse captulo, basicamente, os
depoimentos orais produzidos com trabalhadores locais, realizando, ainda, um dilogo
deles entre si, bem como com a obra de Colodel e com a bibliografia de pesquisa, nos
momentos em que compreendi ser necessria a realizao dessa tarefa.
No terceiro captulo, intitulado: Reinventando a vida: cultura, trabalho e
afirmao poltica em Santa Helena, trabalho com as outras histrias que emergem
daquela disputa pelas muitas memrias. Trata-se de uma discusso acerca das maneiras
de viver e trabalhar constitudas por esses sujeitos em Santa Helena, bem como sua
afirmao poltica no lugar.
Procuro compreender como eles vo estabelecendo uma relao complexa com o
campo e a cidade, constituindo viveres e formas de trabalhar que associam tanto
elementos rurais quanto urbanos, ao mesmo tempo em que vo constituindo uma
fronteira que vai separando e definindo, de maneira no esttica, campo e cidade. Esse
movimento, como percebi, contraditrio, constitudo no da mesma maneira por todas
as pessoas e resultante da relao que elas estabelecem com o lugar, o trabalho e as
memrias em disputa, no sendo mero produto de transformaes de estruturas
econmicas.
Procuro observar como esses trabalhadores constituem sua afirmao poltica,
estudando como eles foram produzindo noes de direitos e as diferentes maneiras que
encontraram para reivindic-los. Procuro notar de que maneira elas resultam de um
aprendizado poltico, produzido em suas trajetrias de vida e em seu fazer-se e refazer-
se, como trabalhadores, no sentido de classe, e cidados em Santa Helena.
Trabalho um pouco os sentidos polticos que emergem de suas narrativas orais e as
intencionalidades a elas subjacentes. Observo as formas pelas quais muitos
trabalhadores, de maneira semelhante a outros grupos sociais locais, utilizam-se de suas
memrias como instrumento de luta social e poltica. Busco compreender como, mesmo
quando esses sujeitos reafirmam elementos daquela memria pblica constituda sobre o
38
lugar, o fazem a partir de seu prprio lugar social, subvertendo as intencionalidades
de tais verses, as utilizando no intuito de referenciar suas reivindicaes e de constituir
suas noes de direito.
CAPTULO I
CONSTRUINDO UM OLHAR SOBRE O PASSADO:
USOS E LUGARES DE MEMRIA.
Especificamente, a noo de comunidade,
apesar de usada livremente, , ou deveria ser,
problemtica. Na histria urbana, pouco
mais do que uma fico conveniente, que s
pode ser preservada ao concentrar-se nos
eventos cvicos e municipais. Na zona rural,
ela freqentemente leva uma suposio no
justificada de equilbrio que talvez o
historiador deva questionar, ao invs de
afirmar: possvel morar no mesmo lugar
enquanto se habita mundos diferentes, seja
como marido e mulher, pai e filho,
empresrio e empregado. (...) Ao invs de
pressupor a existncia do equilbrio, seria
melhor se os historiadores explorassem
alguns de seus determinantes e distinguissem
interesses que eram conflitantes daqueles que,
de alguma forma, foram compartilhados.
Raphael Samuel, Histria Local
e Histria Oral, 1989-1990.
O voltar-se sobre o passado algo corrente em Santa Helena, assim como em tantos
outros lugares. O desafio encontrado durante a realizao do presente trabalho foi de
investigar a constituio de diferentes memrias, em disputa no local, procurando observar
tal processo em seu movimento dinmico de constituio.
Sendo assim, pretendo, neste captulo, problematizar a memria produzida na esfera
pblica do municpio, em seu processo histrico de constituio e transformao. Tais
verses do passado, por sua vez, recebem ampla divulgao, sendo que sua difuso ocorre
nos espaos da sede municipal a partir da renomeao de locais pblicos, com a inteno
de faz-los render homenagem a determinados sujeitos e eventos, e da transformao de
certos locais em pontos de visitao turstica e dos crculos de debate pblico como a
imprensa e os projetos culturais desenvolvidos pelo poder pblico local.
Essa memria pblica possui, portanto, o carter de conferir visibilidade a
determinados personagens e processos sociais, relegando outros ao esquecimento,
buscando tornar-se hegemnica. preciso ressaltar, alm disso, que ela est intimamente
relacionada com aquela produzida sobre o Oeste do Paran, de uma maneira geral. Chega
em certos momentos a confundir-se com ela, embora resguardando certas especificidades,
40
no que diz respeito, principalmente, aos projetos polticos e relaes sociais com os quais
est conectada no municpio.
Seu estudo torna-se importante a partir da compreenso de que no existe uma
cultura e memria popular pura. Concebendo-as como espao da diferena,
35
requer o
estudo do relacional, entendendo as memrias dominantes ou pretensamente
dominantes, como parte das muitas memrias em disputa na sociedade local.
Sobre esssa questo, a reflexo sobre os processos de constituio de memrias na
esfera pblica, foi muito importante o trabalho do Grupo Memria Popular, principalmente
quando chama a ateno para a realizao de estudos relacionais:
...gostaramos de enfatizar que o estudo da memria popular no pode se
restringir somente a este nvel. Este necessariamente um estudo relacional. Deve-
se incluir tanto a representao histrica dominante no mbito pblico quanto
procurar ampliar ou generalizar experincias subordinadas ou privadas. Como
todas as disputas, deve ter dois lados. Nos estudos concretos, memrias privadas
no podem ser facilmente desvinculadas dos efeitos dos discursos histricos
dominantes. Muitas vezes so estes que suprem os prprios termos por meio dos
quais uma histria privada pensada.
36
No tenho a pretenso de estabelecer aqui uma dicotomia entre memrias pblicas
e populares, mesmo porque a mesma pessoa circula por entre diferentes espaos e no
essa reflexo que os autores desenvolvem. Trata-se de observar os sentidos do passado
dominantes nos locais de acesso pblico, como testemunhas da vontade imortalizar
determinadas verses do passado, inteno essa constituda por sujeitos histricos
concretos. Trata-se de uma forma de exercer o poder, pois, como afirma o Grupo Memria
Popular, ...todos os programas polticos envolvem tanto uma construo do passado
quanto do futuro....
37
Para estudar a consituio dessa espcie de memria pblica de Santa Helena,
recorro a diferentes linguagens, como livros de histria, materiais jornalsticos,
monumentos e espaos pblicos locais, que sero problematizados ao longo do texto. Para
a realizao desse trabalho, tambm importante pontuar as contribuies fornecidas pela
concepo de fonte histrica esboada por Jacques Le Goff em Documento/Monumento:
A interveno do historiador que escolhe o documento, extraindo-o do conjunto
dos dados do passado, preferindo-o a outros, atribuindo-lhe um valor de
35
KHOURY, Yara. Muitas memrias, outras histrias: cultura e o sujeito na histria. In: FENELON, Da
Ribeiro et al. (orgs.) op. cit.
36
GRUPO MEMRIA POPULAR. Memria popular: teoria, poltica, mtodo. FENELON, Da Ribeiro et
al. (orgs.). op. cit. p. 286.
37
Idem. p. 287.
41
testemunho que, pelo menos em parte, depende da sua prpria posio na
sociedade da sua poca e da sua organizao mental, insere-se numa situao
inicial que ainda menos neutra do que a sua interveno. O documento no
incuo. antes de mais nada o resultado de uma montagem, consciente ou
inconsciente, da histria, da poca, da sociedade que o produziram, mas tambm
das pocas sucessivas durante as quais continuou a viver, talvez esquecido,
durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que pelo silncio. O
documento uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, o ensinamento (para
evocar a etimologia) que ele traz devem ser em primeiro lugar analisados
desmistificando-lhe o seu significado aparente. O documento monumento.
Resulta do esforo das sociedades histricas para impor ao futuro voluntria ou
involuntariamente determinada imagem de si prprias. (...) preciso comear
por desmontar, demolir esta montagem, desestruturar esta construo e analisar
as condies de produo dos documentos-monumentos.
38
Conforme afirma o autor, todo documento, ou as fontes histricas de maneira geral,
no so meros reflexos do que aconteceu. Trata-se de produtos de relaes de poder, que
permeiam tanto a sociedade que os produziu e quanto a que os conservou. Cabe ao
historiador, por seu turno, questionar as evidncias, tratando-as como monumentos a serem
desconstrudos, buscando perceber as formas pelas quais foram construdos e as intenes
contidas em preserv-los ao longo do tempo. Aponta, ainda, para a necessidade do prprio
historiador perceber-se como parte dessa monumentalizao dos documentos histricos,
realizando escolhas e constituindo sries de fontes para o trabalho de anlise.
Lano mo, no presente trabalho, do uso dessas diferentes fontes, inclusive de obras
historiogrficas, no no intuito de produzir meras ilustraes ou de incorpor-las ao
trabalho, mas de perceber os processos de construo de uma memria do espao pblico
em Santa Helena. Acredito que tal processo de constituio de monumentos, na acepo de
Le Goff, e conseqentemente da prpria memria social, tambm tenha sua base em
relaes de classe.
Com relao a tal assunto, foi importante o contato com a noo de cultura de Walter
Benjamim. De acordo com o autor, a cultura tambm produto daqueles que dominam um
certo momento histrico e de seus herdeiros. A produo cultural, assim como sua
transmisso, no ocorre de maneira tranqila:
Ora, os que num momento dado dominam so os herdeiros de todos os que
venceram antes. A empatia com o vencedor beneficia sempre, portanto, esses
dominadores. Isso diz tudo para o materialista histrico. Todos os que at hoje
venceram participam do cortejo triunfal, em que os dominadores de hoje
espezinham os corpos dos que esto prostrados no cho. Os despojos so
carregados no cortejo, como de praxe. Esses despojos so o que chamamos bens
38
LE GOFF, Jacques. Documento/Monumento. In: Histria e Memria. So Paulo: Ed. UNICAMP, 1994.
p. 547-8.
42
culturais. O materialista histrico os contempla com distanciamento. Pois todos os
bens culturais que ele v tm uma origem sobre a qual ele no pode refletir sem
horror. Devem sua existncia no somente ao esforo dos grandes gnios que os
criaram, como corvia annima dos seus contemporneos. Nunca houve um
monumento da cultura que no fosse tambm um monumento da barbrie. E,
assim como a cultura no isenta de barbrie, no o , tampouco, o processo de
transmisso da cultura. Por isso, na medida do possvel, o materialista histrico
se desvia dela. Considera sua tarefa escovar a histria a contrapelo.
39
Todo esse processo de constituio de uma certa memria local, que considero
cultural, desenvolve-se em meio tenso das relaes sociais. So essas relaes que esto
jogo na disputa pelas muitas memrias locais, e que procurarei interpretar ao longo do
trabalho. Por outro lado, como Bejamim frisa, a cultura instrumento de posse, e no
apenas realizao do gnio humano. Pode-se afirmar, portanto, que implica tambm em
dominao e subordinao.
A memria pblica de Santa Helena no apenas uma manifestao da ideologia
da classe dominante. Trata-se da eleio de certos marcos histricos e de determinadas
recordaes, que so escolhidas para ganhar visibilidade, relegando outras tantas ao
silncio. Tambm possui como objetivo, demarcar lugares, fsicos e sociais, para
determinados sujeitos, conferindo destaque pblico a determinados atos e personalidades,
em detrimento de outros. Alm disso, expressam projetos elaborados para o municpio, por
diferentes grupos sociais, em uma relao dinmica, que envolve presente, passado e
futuro.
Organizar tal memria nos espaos do municpio uma maneira de difundir uma
dada verso da histria, diminuindo outras formas de significar as transformaes
ocorridas no local. Aponta-se, nesses locais, para quem deve ser lembrado, onde e porque.
Considero ainda que, praas, esttuas e demais monumentos pblicos, juntamente
com as obras historiogrficas e/ou memorialsticas, publicadas ou arquivadas em
bibliotecas, alm de documentos/monumentos, tambm so lugares de memria. Esse
termo definido por Pierre Nora em seus estudos sobre a memria na Frana, em fins do
sculo XX:
Os lugares de memria nascem e vivem do sentimento de que no h mais
memria espontnea, que preciso manter aniversrios, organizar celebraes,
pronunciar elogios fnebres, notariar atas, porque essas operaes no so
naturais. por isso a defesa, pelas minorias, de uma memria refugiada sobre
focos privilegiados e enciumadamente guardados nada mais faz do que levar
incandescncia a verdade de todos os lugares de memria. Sem vigilncia
39
BENJAMIN, Walter. Sobre o conceito de histria. In: Magia e tcnica, arte e poltica: ensaios sobre
literatura e histria da cultura. Trad. Srgio Paulo Rouanet. 7. ed. So Paulo: Brasiliense, 1994. p. 225.
43
comemorativa, a histria depressa os varreria. So basties sobre os quais se
escora. Mas se o que eles defendem no estivesse ameaado, no se teria,
tampouco, a necessidade de constru-los. Se vivssemos verdadeiramente as
lembranas que eles envolvem, eles seriam inteis. E se, em compensao, a
histria no se apoderasse deles para deform-los, transform-los, sov-los e
petrific-los eles no se tornariam lugares de memria. este vai-e-vem que os
constitui: momentos de histria arrancados do movimento da histria, mas que lhe
so devolvidos. No mais inteiramente a vida, nem mais inteiramente a morte,
como as conchas na praia quando o mar se retira da memria viva.
40
possvel afirmar dessa forma, que os lugares de memria, muitas vezes procuram
cristalizar uma determinada maneira de se conceber o passado, que pode no ser
compartilhada por todos os membros da sociedade. Expressam intenes elaboradas por
certos sujeitos, em apresentar determinados eventos a serem lembrados, indicando,
tambm, maneiras de como rememor-los. Tais lugares de memria esto presentes em
toda a sociedade e, no caso em estudo, constituem a esfera pblica de Santa Helena.
Para iniciar essa discusso, gostaria de apontar a obra de Jos Augusto Colodel, pois,
durante a realizao deste trabalho, ficou patente a importncia do trabalho desse
historiador para a memria pblica do lugar em estudo. Graduado em histria pela
Universidade Federal do Paran UFPR, pelo que me consta, ele autor dos nicos livros
de histria publicados sobre Santa Helena. Aps a realizao de seu trabalho, passou a
viver no municpio e atualmente trabalha na Diviso de Patrimnio Histrico da prefeitura
municipal.
De acordo com Welter,
41
esse historiador esteve frente do Projeto Histria de
Santa Helena, uma iniciativa da prefeitura municipal que contou com duas fases. Na
primeira, entre 1987 e 1988, teriam sido produzidos: ...mais de uma centena de
entrevistas com pioneiros.
42
do municpio. Em 1988, Colodel publicou o livro Obrages e
Companhias Colonizadoras: Santa Helena na histria do Oeste do Paran at 1960
43
,
como resultado desse trabalho.
Na segunda fase, iniciada em 1997, de acordo com Welter, foram coletados outras:
...dezenas de depoimentos orais.
44
Em 1998 foi concludo o livro Semeadores de Sonhos:
histria de Santa Helena a partir de 1960, porm, ainda no publicado e tambm no
40
NORA, Pierre. Entre a memria e histria: a problemtica dos lugares. In: Projeto Histria. So Paulo,
n. 10, pp. 59-72, dez. 1993. p. 13.
41
WELTER. op. cit. p. 30 (nota de rodap).
42
Idem. Ibidem.
43
COLODEL, Jos Augusto. Obrages e Companhias Colonizadoras... op. cit.
44
WELTER. op. cit. p. 30 (nota de rodap).
44
disponvel ao pblico. Alm desses materiais, de meu conhecimento o levantamento de
outros documentos, como fotografias, realizado nesse projeto.
A iniciativa para a realizao de tal projeto cultural partiu da prpria Prefeitura
Municipal de Santa Helena, por meio da Secretaria Municipal de Educao e Cultura.
Contou, tambm, com a participao efetiva de vrios servidores daquele setor, sendo que
muitos depoimentos orais foram produzidos por eles. Alguns desses funcionrios, lotados
naquela secretaria, possuam formao acadmica em histria ou, ao menos, na rea do
magistrio. importante ressaltar que uma grande ateno foi prestada ao projeto,
principalmente em sua primeira fase, pois nem todos os depoimentos foram realizados com
moradores de Santa Helena. Chegou-se a contatar e entrevistar algumas pessoas que vivam
nos estados de So Paulo e Rio Grande do Sul, mas que haviam vivido no municpio ou se
relacionavam com o processo de colonizao e foram consideradas importantes para o
projeto.
Dessa forma, apesar da obra final ter sido escrita e organizada por Colodel, preciso
ressaltar que o trabalho de pesquisa contou com ampla participao de pessoas que j
viviam no municpio, como os servidores que trabalharam no levantamento documental e
os prprios moradores que prestaram seus depoimentos.
Constitui-se em uma iniciativa oficial do municpio, desenvolvida em dois
momentos. O primeiro, em fins da dcada de 1980, quando o municpio encontrava-se em
franca crise econmica, advinda do quadro nacional recessivo e do agravante local da
agricultura ter sido prejudicada pela construo do reservatrio de Itaipu. O segundo, na
dcada de 1990, quando o municpio j estava desenvolvendo outras iniciativas e
projetando-se como local de progresso, em virtude da riqueza proporcionada pelos
royalties pagos por Itaipu.
Toda a obra desse autor, de maneira geral, parece partir da necessidade de
ressignificar-se os marcos de memria local, nesses dois momentos de transformao
histrica decisivas do municpio. Tanto na dcada de 1980, quando era preciso repensar o
que era Santa Helena e para onde o municpio caminharia, como na dcada de 1990,
quando uma nova imagem, positiva, precisava ser construda sobre o lugar. A partir desses
marcos ressignificados, principalmente da colonizao, a obra parece conectar-se com o
processo local geral de constituio de verses do passado. Insere-se, assim, em uma
relao dinmica com as memrias j existentes no municpio, e tambm na regio, e
aquelas que institui com sua obra, parecendo constituir-se em uma tentativa de por fim
45
disputa pela passado do lugar, a partir do poder depositado, pela sociedade, na histria
produzida por profissionais da rea.
O primeiro livro, publicado em 1988, foi viabilizado pela prefeitura municipal e
editado com recursos da Itaipu Binacional. Existia, portanto, interesse dessas instituies
em tornar esse material pblico. O prefeito municipal da poca, Julio Morandi, do PMDB
(Partido do Movimento Democrtico Brasileiro), concebe o texto como sendo: Mais do
que um simples livro esta pesquisa tambm uma homenagem a todos os pioneiros que,
com o suor do seu trabalho, desbravaram e deram forma ao lugar em que hoje vivemos.
45
Ainda, de acordo com o ento prefeito, trabalhar tal memria e divulg-la era uma
necessidade:
No podamos conceber que todo este passado to rico em manifestaes fosse
simplesmente colocado no esquecimento. Alguma coisa precisava ser
urgentemente feita para que ns, os nossos filhos e as futuras geraes tivessem
acesso a toda essa riqueza. Para ns inconcebvel que esta comunidade continue
vivendo sem ter o menor conhecimento de todas as realizaes das geraes que a
antecederam. Somente tendo acesso a este passado que poderemos melhor
compreender a realidade a que estamos submetidos.
46
Declara tambm que a necessidade de publicar o livro tinha por finalidade coloc-lo
ao alcance de um pblico amplo, para que fosse discutido e questionado, servindo tambm
de subsdio aos professores no trabalho de sala-de-aula.
Nota-se, portanto, a necessidade de se afirmar publicamente essa memria da
colonizao. O documento ainda sugere que os responsveis pelo projeto percebiam um
esquecimento, portanto, que tal memria no fazia mais sentido para a maior parte da
populao de Santa Helena. Contra esse movimento, reelaboram-se tais lembranas na
forma do livro, que colocado disposio pblica, valorizando a linguagem escrita em
detrimento dos testemunhos vivos de memrias produzidas, reelaboradas e divulgadas
oralmente pelas pessoas.
Ney Braga, ex-governador do Estado do Paran
47
e ento Diretor-Geral Brasileiro da
Itaipu Binacional, representou o engajamento dessa empresa na publicao. De acordo com
45
MORANDI, Julio. Apresentao. In: COLODEL, Jos Augusto. Obrages e Companhias Colonizadoras...
op. cit. p. 15.
46
Idem. Ibidem.
47
De acordo com Myskiw, Ney Braga foi eleito governador pelo PDC em 1960 (Partido Democrata Cristo).
Cumpriu seu mandato entre 1961 e 1965, quando deixou o cargo para assumir o Ministrio da Agricultura,
no governo do General Humberto de Alencar Castelo Branco, que passou a ocupar o cargo de Presidente
da Repblica aps o Golpe de 1964. As bandeiras defendidas em seu governo estadual foram a
modernizao e industrializao do estado, a assistncia social a partir dos princpios cristos.
Distanciadas, portanto, dos movimentos sociais que ento estavam presentes no cenrio poltico brasileiro
46
ele: Agora, com um cenrio regional j estabilizado, o momento de recuperar a
memria das origens histrico culturais dessa colonizao, trazendo tona um passado
rico em exemplos e realizaes.
48
Afirma, ainda, que Itaipu mudou: ...as condies
scio-econmicas locais e tambm passou a ser fator de desenvolvimento para a regio.
49
e a partir disso se associa, apoiando o projeto.
Tratando a regio como um contnuo de progresso, procura tambm afirmar uma
memria positiva da construo de Itaipu. Essa nfase, porm, no rememorar a
colonizao, por meio do livro, parece compor a necessidade de se cristalizar uma dada
memria que vai perdendo seu significado em termos locais. Isso poderia estar ocorrendo
at em funo das transformaes que estavam (e ainda esto) ocorrendo na regio,
principalmente no processo dinmico que envolve a mobilidade de seus moradores, no
sendo todos descendentes daqueles migrantes vindos durante o perodo colonizatrio.
Refletindo-se sobre o contedo do livro publicado, percebo que o autor realiza um
trabalho amplo e rico em informaes assim como todo o conjunto de sua obra
tomando como recorte inicial s disputas ocorridas entre espanhis e portugueses pelo
territrio do atual Oeste do Paran, ainda no sculo XVI. Apesar de no eleger a
colonizao como ponto inicial de sua obra, Colodel orienta o texto em torno de alguns
marcos histricos.
Alm daquele inicial conferido s disputas de territrio, realizadas pelos imprios
ibricos, o autor tambm destaca a fundao da Colnia Militar de Foz do Iguau, como
marco de ocupao brasileira na regio; a atuao das Obrages argentinas, que exploravam
madeira e erva-mate na regio, dando ateno especial de Domingos Barthe, que havia
construdo o Porto de Santa Helena; a navegao a vapor no Rio Paran; a passagem do
movimento tenentista pela regio em 1924 e a colonizao do que viria a ser o
Municpio de Santa Helena, iniciada ainda na dcada de 20, mas realizada de uma maneira
mais efetiva somente a partir da dcada de 50.
O autor explica, por meio desses marcos, o que seria a insero de Santa Helena no
Oeste do Paran. Sua histria privilegia a abordagem de eventos polticos e atividades
e a resoluo dos conflitos agrrios, muito intensos nesse perodo, via legalizao e titulao de terras.
In: MYSKIW. op. cit. pp. 59-86 e 114-32.
48
BRAGA, Ney. Prefcio. In: COLODEL, Jos Augusto. Obrages e Companhias Colonizadoras... op. cit.
p. 17.
49
Idem. Ibidem.
47
econmicas.
50
Uma das preocupaes que permeia o trabalho do autor com o suposto
abandono da regio pelo governo brasileiro. Aponta, nesse sentido, a ineficcia da
instalao da Base Militar de Foz do Iguau para a nacionalizao da fronteira e o quadro
em que se encontraria a regio, que, desde fins do sculo XIX estaria dominada pelos
obrageros, proprietrios de empresas que possuam sede oficial na Argentina, mas que
nem sempre eram compostas exclusivamente de capitais desse pas.
De acordo com Colodel, essas empresas adotavam o trabalho de paraguaios ou
guaranis modernos, em regime de semi-servido. Sobre esses trabalhadores, mesmo
admitindo que eles resistiam situao de explorao de seu trabalho, em muitos
momentos o autor acaba por vitimiz-los, reduzindo suas vidas violncia existente dentro
das Obrages. preciso pontuar, tambm, as crticas realizadas por Ribeiro,
51
que, em um
balano da historiografia do Oeste do Paran, afirma que indgenas da prpria regio foram
rotulados como paraguaios em certas obras de histria. Segundo a autora, isso
homogeneiza as diferenas tnicas existentes entre esses trabalhadores no-brancos.
Diante desse quadro apresentado por Colodel, a passagem das tropas revoltosas de
Lus Carlos Prestes tratada como um marco humanizador. Elas teriam chamado a
ateno, em nvel nacional, para o descaso existente para com essa fronteira brasileira,
alm de ter libertado muitos dos trabalhadores das matas ou paraguaios, que se
encontravam presos s Obrages.
Outro marco seria a colonizao da rea prxima ao antigo Porto de Santa
Helena.
52
Nesse sentido, o autor trabalha com as especificidades do processo
colonizatrio local, que se iniciou ainda na dcada de 1920. Ao tratar desse movimento,
parte da presena de diversas companhias privadas que acabaram por fracassar nesse
intento. Em alguns casos, aponta que isso ocorreu em virtude dos interesses das
50
Tal carter tambm foi observado por Maffissoni na crtica de que desenvolve obra Obrages e
Companhias Colonizadoras... op. cit., de Colodel. In: MAFFISSONI, Joice. Sonhos e perspectivas... op.
cit. p. 1.
51
RIBEIRO. op. cit. pp. 60-3.
52
Esse porto foi alagado com a construo de Itaipu. Atualmente essa localidade denomina-se de Santa
Helena Velha. A atual sede do municpio de Santa Helena foi construda em outro lugar, onde, aps a
construo do reservatrio de Itaipu tambm foi edificado o novo Porto de Santa Helena. De acordo com
Colodel, a sede municipal teria sido planejada pela Idustrial Agrcola Madalozzo Ltda., na dcada de 50
(mais precisamente em 1955 e 1956) tendo sua planta aprovada em 1958. In: COLODEL, Jos Agusto,
Obrages e Companhias Colonizadoras... op. cit. pp. 223-5 e COLODEL, Jos Augusto. Pelas ruas... ...e
praas de Santa Helena. In: Jornal Costa Oeste, Santa Helena/PR, ano 3, n. 63, pp. 6-7, maio de 1999.
Santa Helena. A loalizao geogrfica de Santa Helena Velha, construda em 1920 e da Sede Municipal
de Santa Helena, edificada na dcada de 1950, pode ser observada no Anexo III Mapa do Municpio de
Santa Helena em 1980 (antes do alagamento para a formao do reservatrio de Itaipu e da emancipao
do Distrito de So Jos), na pgina 235 do presente trabalho. Mesmo com o alagamento do porto, a
localidade de Santa Helena Velha continua existindo, compondo o Municpio de Santa Helena.
48
companhias estarem mais voltados explorao madeireira, sendo a colonizao uma
exigncia do governo do Estado do Paran, quando da concesso de terras para explorao.
De acordo com Colodel, a rea seria efetivamente colonizada pela sociedade nacional
somente a partir da dcada de 1950, com a atuao da Imobiliria Agrcola Madalozzo
Ltda..
53
Dessa forma, acaba-se por compreender que as migraes para onde futuramente
seria o Municpio de Santa Helena, no se davam pela ao dos sujeitos, das pessoas que
migram, mas das companhias colonizadoras.
54
Ao tratar da colonizao, Colodel
privilegia o estudo do primeiro ncleo de migrantes instalado em torno do Porto de Santa
Helena na dcada de 20. Aponta que aquela era uma colnia instalada nos moldes das
implantadas no sul do Brasil por imigrantes italianos, nas quais todos seriam pequenos
proprietrios rurais. Afirma, assim, que ela era composta por gachos de ascendncia
italiana, embora relate que o noivo do primeiro casamento realizado no Porto de Santa
Helena era natural de Guarapuava (PR). Isso demonstra que tal rea no era ocupada
53
As companhias colonizadoras que atuaram no territrio onde se localiza atualmente o Municpio de Santa
Helena, de acordo com Colodel foram: Petry, Meyer & Azambuja, fundada na dcada de 1910 passando
a denominar-se em 1920 Meyer, Annes & Cia., que no teria conseguido a viabilizar a migrao de
agricultores paulistas de ascedncia italiana para o local, como estavam em seus projetos; Aps a falncia
dessa primeira companhia, sua rea foi adquirida por Alegretti & Cia. Ltda., em 1922. Essa empresa
chegou a negociar terras com proprietrios rurais da regio Sul do pas, que ocuparam a rea em torno do
Porto de Santa Helena, hoje conhecida por Santa Helena Velha; O restante da rea ento pertencente a
Meyer, Annes & Cia. foi adquirida por Industrial, Agrcola e Pastoril do Oeste de So Paulo, que ficou
na regio at 1926; Sua rea foi adquirida pela empresa Companhia Paranaense de Colonizao Espria
Ltda., mantida com capitais italianos (fato casou uma srie de tenses com o governo federal, durante a II
Guerra Mundial) e voltada imigrao de italianos para a regio; Em 1956, a Imobiliria Agrcola
Madalozzo Ltda. adquiriu as reas que outrora haviam sido concedidas pelo estado a Alegretti & Cia.
Ltda. e Companhia Paranaense de Colonizao Espria Ltda., que tiveram suas atividades
interrompidas pelo governo estadual, em parte por no terem efetuado satisfatoriamente a venda de lotes
agrcolas. Em 1956 a Imobiliria Agrcola Madalozzo Ltda. comeou a venda de lotes agrcolas em
Santa Helena. Essa companhia tambm loteou a rea onde atualmente localiza-se a sede municipal, na
poca distante 11 quilmetros ao norte do Porto de Santa Helena. In: COLODEL, Jos Augusto. Obrages e
Companhias Colonizadoras... op. cit. De acordo com Myskiw, essa sucesso de empresas no ocorreu
tranqilamente existindo disputas judiciais sobre quem teria direito aos ttulos de terras do imvel Santa
Helena e Sol de Maio, rea onde atualmente localiza-se o Municpio de Santa Helena. Entre as dcadas de
1940 e 1970 as terras da regio Oeste do Paran, de uma maneira geral, estavam sendo reivindicadas tanto
pela Unio, sob o argumento de encontrarem-se em faixa de fronteira e o Estado do Paran, que
reclamou seu domnio ainda na dcada de 40 e a partir de ento comeou a expedir ttulos de propriedade
para companhias colonizadoras. Em Santa Helena a situao legal das terras agravava-se ainda mais, pois
na dcada de 1950, a companhia Espria e a FPCI Fundao Paranaense de Colonizao e Imigrao
tambm requisitavam esse imvel. A primeira contestava a medida legal que havia transferido, em 1942,
seus bens ao governo federal, declarando que sua propriedade pertencia ao Insituto Nacionale Di Crdito
Per Il Lavoro Italiano all Estero, da Itlia, enquanto que a segunda declarava que a rea havia sido doada
em 1951 pelo Estado do Paran para que fosse realizada a colonizao desse imvel. In: MYSKIW. op.
cit. pp. 146-172.
54
Em seu trabalho, Laverdi discute um pouco do carter de sujeito que migrantes vindos para o Oeste do
Paran apresentavam, inclusive, durante o processo colonizatrio, realizando escolhas, no estando
meramente sob o controle das companhias. In: LAVERDI. op. cit. p.100-3.
49
somente em funo dos interesses da companhia colonizadora, mas que as pessoas se
movimentavam dentro desse territrio.
Aborda, ainda, a aparente harmonia existente entre os membros dessa comunidade,
conforme aponta ao tratar da realizao de festas: A festa contava com a colaborao de
toda a comunidade. Os colonos se reuniam e contribuam com o que podiam. Alguns mais
abastados, doavam uma vaca; outros, doavam porcos, galinhas e prendas diversas.
55
Esse clima de harmonia teria ocorrido mesmo existindo diferenas em termos de
propriedade entre os agricultores, dentre outras tantas possveis, o que poderia indicar
possveis conflitos. As tenses, em toda sua obra, so topicamente mencionadas, como no
momento em que destaca a prtica de recolher as armas, j na dcada de 40, porta dos
locais onde eram realizados os bailes, no intuito de se evitar desentendimentos.
56
Outro ponto de tenso apresentado pelo autor a relao entre colonos e os
trabalhadores paraguaios. Aponta que existia uma espcie de segregao entre ambos,
embora os agricultores colonos utilizassem os servios dos paraguaios em algumas
atividades do campo. Conforme aponta Colodel, ao tratar das festas:
Para essas ocasies, os colonos no tinham o costume de convidar os mensus
57
,
mesmo que alguns desses pees estivessem fazendo empreitadas em suas
propriedades. Isto se devia ao fato de os colonos considerarem os paraguaios
muito beberres e briges e temessem que a sua presena atrapalhasse a festa. Os
prprios paraguaios procuravam no se misturar demais com as famlias de
colonos que aqui estava morando. Eles tinham seus festejos e neles se divertiam
com toda a intensidade.
58
Em outro momento, Colodel j havia destacado que devido decadncia das
Obrages, na dcada de 1940, o Porto de Santa Helena era um local onde ficavam muitas
famlias de paraguaios. De acordo com o autor, tal presena era incmoda aos pequenos
proprietrios rurais, pois: Para alguns colonos, a sua presena algumas vezes era tida
como incomodativa pelo receio que a falta de servio os levasse ao roubo e a outros tipos
de infraes.
59
Como possvel perceber, o autor toma colonos e paraguaios como dois grupos
homogneos, no analisando a dinmica de sua formao e divises internas. Tambm no
55
COLODEL, Jos Augusto. Obrages e Companhias Colonizadoras... op. cit. p. 250.
56
Idem. p. 268.
57
Segundo o autor, o termo mensu provm do espanhol e significa mensual. Em portugus o termo mais
prximo seria peo. Assim eram chamados os trabalhadores paraguaios ou trabalhadores das matas,
como Colodel os trata. In: Idem. p. 53.
58
Idem. p. 269.
59
Idem. p. 257.
50
estuda a fundo o preconceito existente por parte dos colonos para com esses trabalhadores
que j viviam na regio antes de sua chegada. Mesmo as tenses apontadas, referem-se a
questes tnicas, ignorando-se os demais conflitos que poderiam existir. Quando os
colonos tomavam o trabalho dos paraguaios para realizar certos servios,
principalmente no desmate das reas a ser cultivadas o servio mais rduo existente nesse
processo estabelecia-se uma relao em que um era o proprietrio das terras, o patro,
enquanto que o outro era o trabalhador por empreitada. Essa forma de trabalho poderia ser
um foco de tenso na ordem das relaes sociais, que passa ao largo das preocupaes de
Colodel.
Perpassa todo o trabalho do autor a preocupao com a falta de infra-estrutura para
recepcionar os migrantes que teriam sido trazidos pelas empresas colonizadoras. Aponta
que tal fator alvo de crticas de muitos migrantes, inclusive aqueles vindos aps a dcada
de 40, perodo j de atuao da Industrial Agrcola Madalozzo.
Tal questo faz parte da forma como o autor trata as tenses locais, conferindo nfase
aos fatores que seriam externos ao ncleo de colonos. Isso se manifesta nos conflitos
com os trabalhadores paraguaios e com as empresas colonizadoras. A idia de
comunidade harmoniosa parece estar, aqui, orientando a percepo da sociedade criada a
partir da colonizao. Perde-se, dessa maneira, muito da complexidade do movimento
constante de fazer-se e refazer-se dos sujeitos como grupo.
Alm dessa obra, Colodel publicou um livro didtico entitulado Histria de Santa
Helena: descobrindo e aprendendo: ensino fundamental.
60
Como o prprio ttulo indica,
uma obra direcionada a alunos do ensino fundamental e parece reunir contedos das outras
duas obras anteriormente escritas pelo autor. Conta, tambm, em sua elaborao, com
materiais levantados no Projeto Histria de Santa Helena.
Tambm foi produzida com recursos da Prefeitura Municipal de Santa Helena, tendo
sido viabilizado pela Secretaria Municipal de Educao e Cultura e a Diviso de
Patrimnio Histrico. Colodel apontado como responsvel pela pesquisa histrica e pelo
texto do livro. Servidores da prefeitura municipal, e, portanto, membros da sociedade local,
tambm participaram como coordenadores e colaboradores do projeto.
De maneira semelhante obra anterior, esse livro tambm esteve relacionado com os
circuitos de memria local e regional. composto de textos curtos e sugestes de
60
COLODEL, Jos Augusto. Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit.
51
atividades, distribudos em quadros coloridos. Esse recurso provavelmente tem a finalidade
de tornar a leitura mais agradvel s crianas, pblico-alvo da obra.
No incio de cada captulo existe a reproduo de uma fotografia levantada no
Projeto Histria de Santa Helena. As imagens em preto-e-branco parecem ter sido
colorizadas por computador, mas, em apenas uma cor. Provavelmente tal mtodo tambm
tenha sido empregado no intuito de tornar as imagens mais aprazveis aos leitores. Ao final
do texto, antes da sugesto de atividade, o autor apresenta um fragmento de depoimento
oral, tambm levantado naquele projeto.
Em termos de contedo, inicia tratando das Obrages e conclui com a construo de
Itaipu. Os diferentes temas so trabalhados mais no sentido de curiosidades, sem uma
postura crtica por parte do autor. Isso fica muito visvel no captulo em que discute a
mecanizao da agricultura. Sobre esse assunto, o autor o trata apenas como
transformaes ocorridas na ordem de instrumentos de trabalho, abordando, em detalhes,
as maneiras de trabalhar em uma espcie de antes e depois da mecanizao agrcola.
Conforme aponta o autor:
E ento chegou o trator e a colheitadeira. O que restava da floresta deu lugar s
plantaes de soja, milho e trigo.
.....................................................................................................................................
A mecanizao aparece junto com a procura cada vez maior de soja, milho e trigo.
O gro de soja era usado para se fazer o leo de soja, o milho e o trigo eram
matrias-primas para o fabrico de farinhas.
Uma das primeiras mquinas a aparecer na regio foi o trator de esteira. Ele foi
usado para arrancar os tocos de rvores que antes eram retirados com juntas de
bois. Era o que se chamava de destoca e foi ela quem abriu os grandes espaos
que seriam necessrios para o plantio em larga escala de culturas como a soja, o
milho e o trigo.
Os tocos, depois de arrancados, eram empilhados ou queimados no lugar onde
estavam.
Depois que o trator de esteira fez o seu trabalho, entra em cena o trator de pneu,
puxando arado, semando e gradeando a terra cultivada.
A colheita e a separao dos gros tambm passou a ser feita com colheitadeiras
cada vez mais modernas. Na prpria roa a colheitadeira abastece de gros os
caminhes. Esses caminhes transportam os gros para os silos das cooperativas
ou para o Porto de Paranagu, de onde so embarcados em navios chamados de
graneleiros e seguem para serem exportados para outros pases.
A mecanizao da agriculturea mudou definitivamente a paisagem rural de Santa
Helena e regio.
61
Como possvel perceber, o autor trata de maneira harmnica essas transformaes.
O plantio de soja, milho e trigo so compreendidos como algo necessrio e as mquinas,
61
Idem. p. 48-9.
52
tratadas como modernidade, como uma forma de acelerar o processo de cultivo de tais
produtos. como se uma forma de estruturao da sociedade, assim, deu lugar outra,
de maneira tranqila, sendo compreendidas tais mudanas como as nicas possveis, dentro
de uma concepo de histria linear.
Diferentemente de outros trabalhos que compem a historiografia regional,
62
Colodel
no aborda os impactos sociais causadas por tais transformaes, tampouco as formas
como as pessoas compreenderam tais mudanas ocorridas nos processos produtivos.
Limita-se, apenas, a apontar que: Essa mecanizao teria como uma das suas principais
conseqncias o desmatamento de reas florestais at ento preservadas.
63
Preocupa-se,
desse modo, somente com os impactos ambientais e os danos causados ao meio-ambiente.
Em muitos momentos da obra, a viso do autor acaba sobrepondo-se s formas como
as pessoas compreendem os processos histricos trabalhados. As pessoas acabam sendo
colocadas em um plano secundrio, em detrimento de certos eventos que, por sua vez,
tornam-se os elementos principais de sua anlise.
Esse livro, posso notar, torna-se um meio privilegiado de instituio de memrias.
Como material didtico importante, muito utilizado se no o mais usado no ensino de
histria, serve no apenas a alunos, mas tambm como orientador do trabalho docente.
Conforme aponta Araci Rodrigues Coelho, o livro didtico desempenha um papel
fundamental no ensino, pois: ...ele [o livro didtico] segmenta, articula, estabelece corte
e progresses nos contedos; cria situaes de aprendizagem e de avaliao; constri ou
seleciona recursos informativos e atividades prticas de ensino-aprendizagem.
64
Apesar disso, preciso lembrar que os livros didticos, muitas vezes, esto envoltos
em um carter que os coloca acima da crtica. como se eles fossem portadores da
histria verdadeira, sem colocar-se em questo quem seu autor e o processo social de
sua confeco.
O ensino de histria na escola torna-se, dessa maneira, mais um local em que essa
memria da esfera pblica local pode ser difundida. Desde cedo, as crianas comeam a
tomar contato com tais verses do passado, que informam sobre sentidos de pertencimento,
quem construiu Santa Helena e, portanto, quem tem direito ao municpio. Por outro lado,
apresentam tambm essa histria linear, resultante de uma evoluo, que, em muitos
62
A esse respeito ver: SCHLOESSER. op. cit. e SCHEREINER. op. cit.
63
COLODEL, Jos Augusto. Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit. p. 48.
64
COELHO, Araci Rodrigues. Escolarizao: uma perspectiva de anlise dos livros didticos da histria.
In: ARIAS NETO, Jos Miguel. Dez anos de pesquisas em ensino de histria. Londrina/PR: AtritoArt,
2005. p. 241. Acrscimo meu.
53
momentos, parece no depender da ao humana. Nessa concepo, so excluidas parcelas
significativas da populao local no apenas do passado (lembrando-se que muitos
moradores chegaram ao municpio aps a colonizao), mas tambm da prpria
possibilidade de interferir no movimento da histria e, conseqentemente, nos projetos
que, no presente, planejam o futuro.
Alm da publicao desses materiais, o trabalho de Colodel possui uma significativa
insero na imprensa local, no sendo raro encontrar seus artigos sobre a histria de Santa
Helena. Em 1999, na edio comemorativa dos 32 anos de emancipao de Santa Helena,
o Jornal Costa Oeste inseriu um artigo desse historiador.
65
Tal veculo de informao foi criado na dcada de 1990, por empresrios que se
fixaram no municpio. Mantinha uma postura situacionista perante a administrao
municipal de Silom Schmidt, que esteve frente da prefeitura municipal entre os anos
1997-2004, pelo PP (Partido Progressista).
66
Organizado de maneira comercial nas edies
analisadas, vendia assinaturas e espaos publicitrios, atuando como uma empresa
jornalstica.
Naquela edio comemorativa, exaltava-se a inaugurao de uma srie de obras no
municpio, como parte das festividades. Colodel, por sua vez, tratava da formao da sede
municipal, que, segundo o autor, seria resultado do planejamento da Industrial Agrcola
Madalozzo e, apesar de seu crescimento, teria sido algo que deu certo. Ressalta nesse
artigo, imagens de locais pblicos, como as praas da sede municipal, talvez imbudo do
clima comemorativo das festividades, que incluram a reinaugurao da Praa Orlando
Weber e de outras obras no municpio.
67
Era possvel observar em 2004, artigos desse mesmo autor no jornal Portal Amrica.
Tal veculo de informao impresso comeou a circular no Municpio de Santa Helena na
dcada de 2000, tendo seu carter comercial ampliado no decorrer dos anos de sua
circulao. Inicialmente possua publicao mensal, mas nas ltimas edies analisadas, j
circulava quinzenalmente. homnimo do portal da internet, ambos de propriedade de um
grupo de empresrios locais que atuam na rea de informtica. Esse material de imprensa,
65
COLODEL, Jos Augusto. Pelas ruas... ...e praas.... op. cit.
66
Schmidt foi eleito em 1993 vice-prefeito em uma coligao liderada pelo PMDB, tambm ocupando
naquela administrao o cargo de Secretrio Municipal de Indstria, Comrcio e Turismo. Em 1997, em
coligao com esse mesmo partido e outros, foi eleito prefeito municipal, sendo reeleito em 2000,
coligando-se com sua antiga oposio, ento liderada pelo PFL (Partido da Frente Liberal).
67
Adiante trabalharei melhor essas questes, inclusive sobre a cobertura de tais eventos realizada pelo jornal.
54
como percebi,
68
em alguns momentos, principalmente em seu n. 3, de fevereiro de 2003,
parece apresentar uma postura mais de oposio ao governo municipal, enquanto que nas
edies n. 25, (24/06 a 08/07/2004), n. 27 (22/07 a 05/08/2004) e n. 31 (16/09 a
30/09/2004), j quinzenais, passa a impresso de no estar mais muito ligado polarizao
poltico-partidria local.
Nessas trs ltimas edies aparecem artigos de Colodel na segunda pgina.
Assinava uma coluna intitulada Crnicas & Fatos da Histria, sendo que seu nome
tambm figurava como colaborador do jornal, na coluna expediente. Nesses artigos,
trabalha temas ligados sua pesquisa, principalmente referentes as Obrages e
colonizao. Segue a perspectiva adotada no restante de seu trabalho. Em um dos artigos
que tive acesso,
69
presta mais ateno na religiosidade da sociedade local, chegando a
abordar a dcada de 80, contudo, prestando ateno ao aspecto institucional, na demanda
por sacerdotes e na construo de igrejas. De qualquer forma, importante perceber que o
trabalho desse autor circula na sociedade local e no est limitado publicao dos dois
livros j mencionados.
Percebo que a memria da colonizao e dos pioneiros de Santa Helena,
compreendida de maneira excludente e harmnica, dominante na esfera pblica local.
Isso, no entanto, no ocorre apenas com a obra de Colodel, mas tambm por meio de
outras formas de impresso de lembranas no espao pblico local, como monumentos e
demais lugares de memria, que tematizam tal perodo, direta ou indiretamente.
possvel afirmar que as memrias da colonizao, nas ltimas dcadas,
apresentaram uma espcie de avano sobre as representaes contidas no espao pblico.
A sede municipal, planejada pela Industrial Agrcola Madalozzo, contava desde sua
criao com alguns locais destinados a praas e sediar outras entidades com finalidade
pblica.
70
Algumas dessas praas tiveram seus nomes modificados, tematizando outros
elementos que compem a memria local. Esse o caso da outrora chamada Praa
Tiradentes
71
localizada na rea oeste de um terreno circular, entrecortado pela Avenida
Brasil, a principal da sede do municpio, como possvel observar no Anexo V Planta
68
Refiro-me a: Portal Amrica, Santa Helena/PR, ano 1, n. 3, fevereiro de 2003; Portal Amrica, Santa
Helena/PR, ano 2, n. 25, 24 de junho a 08 de julho de 2004; Portal Amrica, Santa Helena/PR, ano 2, n.
27, 22 de julho a 05 de agosto de 2004; e, Portal Amrica. Santa Helena/PR, ano 2, n. 31, 16 a 30 de
setembro de 2004.
69
COLODEL, Jos Augusto. Padres, capelas e fiis (Parte II): Em Santa Helena veio o ento e derrubou a
igreja. Portal Amrica, Santa Helena/PR, ano 2, n. 27, p. 2, 22 de julho a 05 de agosto de 2004. Crnicas
e fatos da histria.
70
COLODEL, Jos Augusto. Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit. p. 33
71
Idem. Ibidem.
55
da Sede Municipal de Santa Helena (Parte 1), na pgina 274 do presente trabalho. Ela
teve seu nome modificado para Praa do Colono, termo que localmente confunde
agricultor com colonizador. Elementos que remetem mais claramente ao pioneirismo,
mesmo assim, constam nesse local, onde existe uma esttua cuja placa indica:
Ao agricultor na data que lhe dedicada a homenagem e o reconhecimento de
Santa Helena.
25 de julho de 1985.
Doao dos Pioneiros:
Antnio Francisco Bortolini
Argemiro Kozerski
Tais elementos so aqui explicitados nas pessoas dos doadores da esttua. A prpria
data comemorativa, quando provavelmente o monumento foi inaugurado seno a prpria
praa reinaugurada 25 de julho, feriado em muitos municpios do Oeste do Paran,
inclusive Santa Helena. Algumas municipalidades comemoram nesse dia sua emancipao.
A Revista Regio trouxe o tema como matria de capa, em sua edio de julho de
2004. Trata-se de peridico com sede em Marechal Cndido Rondon, municpio no muito
distante de Santa Helena, conforme pode ser observado no Anexo II Mapa da
Mesorregio Oeste do Paran, na pgina 271. Apresenta uma proximidade com a
administrao municipal daquele lugar, eleita em 2000 e reeleita em 2004, dirigida por
coligao que tem sua frente o PFL e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), dentre outros
partidos, por meio dos quais se organiza parte daquela elite
72
tpica das pequenas
municipalidades do Oeste do Paran. De circulao mensal, comeou a ser produzida em
1999, possuindo carter comercial, vendendo assinaturas, embora tambm distribua
exemplares como cortesia. Tem como objetivo atender as demandas por informao de
vrios municpios da regio, em especial aqueles mais prximos e menores que Marechal
Cndido Rondon.
Segundo a revista, a data foi instituda pelo ento deputado estadual Werner
Wanderer, no mandato cumprido entre 1974-1978. A idia teria sido homenagear o
agricultor e a data escolhida seria uma aluso ao dia 25 de julho de 1824, quando os
primeiros imigrantes alemes teriam chegado ao estado.
73
Tenta estabelecer, assim, de
maneira semelhante a certas obras historiogrficas da regio, uma continuidade entre as
72
Uma caracterizao dessa elite se encontra na Apresentao do presente trabalho, p. 13.
73
25 DE JULHO: Data celebra dia do colono, do motorista e aniversrios de municpios. In: Revista
Regio, Marechal Cndido Rondon/PR, ano 5,n. 51, pp. 31-2, julho de 2004. Reportagem.
56
trajetrias dos agricultores da regio com a colonizao promovida, nesse caso, pelos
imigrantes europeus, mais precisamente alemes, chegados no pas durante o sculo XIX.
Apesar de trazer importantes informaes, essa matria, assim como a imprensa em
geral, no neutra ou puramente objetiva, nem poderia s-lo. Possui intencionalidades e
cabe ao historiador analis-las a partir de uma perspectiva histrica. Nessa tarefa,
importante a perspectiva de trabalho apontado por Maciel:
Entre ns, historiadores, h algum tempo superamos a rejeio imprensa ou sua
incorporao a-crtica como um documento histrico cuja validade estaria
exatamente no carter objetivo e isento reivindicado pelo texto jornalstico, desde
o incio do sculo XX. No entanto, ainda preciso refletir sobre procedimentos e
os modos como lidamos com a imprensa em nossa prtica de pesquisa para no
tom-la como um espelho ou expresso de realidades passadas e presentes, mas
como uma prtica social constituinte da realidade social, que modela formas de
pensar e agir, define papis sociais, generaliza posies e interpretaes que se
pretendem compartilhadas e universais. Como expresso de relaes sociais que
se opem em uma dada sociedade e conjuntura, mas os articula segundo a tica e
a lgica dos interesses de seus proprietrios, financiadores, leitores e grupos
sociais que representa.
74
preciso, portanto, considerar a imprensa como constituinte da sociedade na anlise
dos materiais jornalsticos. Nesse sentido, trata-se de um meio instituinte de memrias, que
est o tempo todo se produzindo e reproduzindo-se nas relaes sociais e na dinmica pela
qual se envolve com diferentes agentes, entre eles, aqueles citados por Maciel.
A matria anteriormente exposta pela Revista Regio, apresenta uma memria
comemorativa, enaltecendo as festas e demais eventos alusivos data e s emancipaes
municipais. Esse tom comemorativo continua ao final da matria de duas pginas, quando
uma coluna dedicada origem da data. Nesse momento, confere destaque a Werner
Wanderer, ex-prefeito municipal de Marechal Cndido Rondon, deputado estadual e
federal pela ARENA e PFL. Ao fim, lembra do motorista, tambm homenageado nessa
data, quando somente ento a revista confere espao aos homenageados. Contudo, seu
intuito criticar o descaso para com a rodovia BR-163, que liga Marechal Cndido
Rondon a Guara, dentro do Estado do Paran, sobre a qual existe o consenso de que est
em pssimo estado de conservao.
O Bairro Baixada Amarela realiza em Santa Helena uma festa em homenagem ao
padroeiro da capela da Igreja Catlica local: So Cristvo. Segundo comenta-se na regio,
74
MACIEL, Laura Antunes. Produzindo notcias e histrias: algumas questes em torno da relao telgrafo
e imprensa 1880/1920. In: FENELON, Da Ribeiro et al. (orgs.) op. cit. p. 15.
57
a incluso do caminhoneiro teria origem na importncia desempenhada por ele na
colonizao, transportando as mudanas e realizando o trnsito de mercadorias.
De qualquer forma, tais elementos esto imbricados na imagem que se projeta sobre
o agricultor, associando-o ao colono, ao desbravador. Tais sentidos materializam-se
em Santa Helena na homenagem realizada a tal categoria profissional, por meio da
mudana no nome da praa e da esttua:
Esttua em homenagem ao colono. Fotografia tirada pelo
autor em 30/05/2005, na parte da manh. O objetivo era
retratar a esttua de frente, ao centro e em primeiro plano.
58
Praa do Colono vista a partir da Avenida Brasil. Fotografia tirada pelo autor em 30/05/2005,
na parte da manh. O objetivo era destacar a parte central da praa. Tal ngulo permite observar
a posio de destaque da esttua, ao centro.
Praa do Colono vista das proximidades da esquina entre as avenidas Brasil e So Paulo.
Fotografia tirada pelo autor em 30/05/2005, na parte da manh. Tal imagem foi produzida no
intuito de apresentar a praa em ngulo que permite observar outros elementos, em que a
esttua aparece de maneira secundria.
59
A praa est localizada na rea central da sede do municpio, sendo ladeada por um
hospital, farmcias e outros estabelecimentos comerciais. Est em um local que chama a
ateno, podendo ser facilmente observada por quem passa pela sede municipal. Tal
carter provavelmente foi levado em considerao na dcada de 1980, quando ela sofreu
certas modificaes, como a instalao da esttua. Apresenta, dessa maneira, sua
mensagem, no espao pblico local, estando vista da populao.
A esttua est localizada em uma posio de destaque no centro da praa, sobre uma
base circular onde ocorre o encontro entre todos os passeios internos desse local.
Observando tal monumento, pode-se notar a imagem de um agricultor de cabea erguida,
olhando em direo ao horizonte. Originalmente, impunhava uma enxada, instrumento e
smbolo de seu trabalho em um gesto de orgulho da profisso.
Essa mesma esttua, todavia, foi depredada. Em conversas informais, informaram-me
que outrora o colono retratado no monumento, alm da enxada, possua tambm um
chapu. Atualmente eles no se encontram mais no local, sendo que a prpria mo da
escultura tambm se encontra danificada. Mais do que um simples ato de vandalismo,
esse gesto demonstra que nem toda a sociedade local compartilha tais sentidos que so
projetados sobre o passado. A depredao, nesse caso, imprime no espao pblico esse
sentimento.
75
A base da esttua tambm foi pintada, sendo que a tinta escorreu sobre a placa
comemorativa e sobre parte da esttua. Tais descuidos, alm da falta de restaurao do
monumento, revelam um pouco de descaso para com a obra, por parte do poder pblico.
Isso significa que os sentidos existentes no ato de sua construo no permaneceram, de
maneira que tal obra fosse compreendida como importante para ser preservada. Na medida
em que no houve maiores intervenes, esse local passou a no ter um grande destaque no
espao pblico municipal, principalmente na dcada de 1990. Essa desateno, no entanto,
no foi estendida a outros locais que homenageiam a colonizao e o pioneirismo de
maneira mais direta.
Outros locais pblicos, no entanto, receberam tratamento diferenciado. o caso da
Praa Anchieta, que em 1994 teve seu nome mudado para Praa Antnio Thom
76
e
em 1997 foi reinaugurada, nas festas alusivas ao 30. aniversrio de emancipao poltico-
75
Lembro-me que no final da dcada de 80 existia esse desejo de imprimir em locais pblicos sentidos de
protestos. Algumas frases chegaram a ser grafitadas nas paredes de escolas. Isso no significa, no entanto,
nem que sejam as mesmas pessoas a realizar as depredaes dos monumentos pblicos, nem com as
mesmas intencionalidades.
76
Lei Municipal 854/94. Apud: COLODEL, Jos Augusto. Pelas ruas... ...e praas.... op. cit. p. 7.
60
administrativa de Santa Helena.
77
Isso ocorreu aps a concluso das obras, por meio das
quais a praa passou a ter uma arquitetura arrojada.
78
Nela, muitos bancos e algumas mesas
so distribudas por toda sua extenso, numa intencionalidade de torn-la um local de
freqentao pblica e permanncia, para fins de lazer dos moradores do municpio.
Muitos costumam freqent-la como um local de passeio e descontrao, principalmente
nos finais de semana e no vero. Nas sextas-feiras, sbados e domingos, ao entardecer e
noite, torna-se tambm um ponto de encontro dos jovens locais que geralmente renem-se
ali antes de rumar para os locais de lazer noturnos, como as boates e os bailes, muito
comuns na regio.
Praa Antnio Thom vista da Praa Orlando Weber e Avenida Brasil. Fotografia tirada pelo
autor em 30/05/2005, na parte da manh.
77
Santa Helena foi emancipada do Municpio de Medianeira em 02/02/1967, pela Lei Estadual n. 5.497/67,
porm, devido a falhas em sua demarcao territorial, o Municpio de Santa Helena somente foi instalado
em 26/05/1967, pela Lei Estadual n. 5.548/67, quando tais problemas foram resolvidos. In: CARNIEL. op.
cit. p. 55. De acordo com Paludo, a emancipao de Santa Helena ocorreu abrangendo territrios tambm
do Municpio de Marechal Cndido Rondon. In: PALUDO. op. cit. p. 18.
78
A reformulao de Praas e outros locais pblicos tambm ocorreu nos distritos municipais, algumas vezes
homenageando pioneiros do lugar.
61
Praa Antnio Thom vista da esquina das avenidas Brasil e Deputado Arnaldo Busato.
Fotografia tirada pelo autor em 30/05/2005, na parte da manh.
Nessa ocasio foi fixada uma placa, na Central de Informaes rgo da
prefeitura localizado nessa praa, na esquia das avenidas Brasil e Curitiba contendo
indicaes da homenagem promovida a Antnio Thom:
Praa Antnio Thom
Homenagem dos santahelenenses [sic] a famlia Thom, no 30. aniversrio de
emancipao poltica administrativa do Municpio.
Santa Helena, 26 de maio de 1997.
Antnio Thom apontado por Colodel
79
como o proprietrio de um hotel, na sede
municipal, construdo por ele ainda em 1958, mas vendido em 1960. Nesse perodo,
Thom atendia as pessoas que rumavam para Santa Helena. considerado um dos
desbravadores do municpio e um dos pioneiros da sede municipal.
Tambm se localiza no centro da sede municipal, na Avenida Brasil, prxima ao pao
municipal, Inspetoria da Receita Federal e vrios outros estabelecimentos comerciais do
municpio. Dessa forma, encontra-se em um local privilegiado que, tendo sido restaurada,
chama a ateno da populao local e dos visitantes que por ali passam, no trajeto dessa
avenida, que liga a rea central ao Balnerio de Santa Helena, como pode ser observado
no Anexo V Planta da Sede Municipal de Santa Helena (Parte 1), na pgina 274, e no
79
COLODEL, Jos Augusto. Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit. p.36.
62
Anexo VI Planta da Sede Municipal de Santa Helena (Parte 2), na pgina 276. Isso
demonstra a ateno conferida a essa memria do pioneirismo, prestando-se homenagem
aos colonizadores em locais estratgicos do espao pblico.
Nessa mesma praa, ainda antes de sua mudana de nome e reinaugurao, j existia
um monumento que fazia meno s memrias do pioneirismo:
Monumento localizado na Praa Antnio Thom. Ao fundo
possvel observar a Avenida Brasil e a Praa Orlando
Weber. Fotografia tirada pelo autor em 29/05/2005 tarde,
com o objetivo de retratar tal monumento centralmente e em
primeiro plano.
63
Como possvel observar, existe um caminho que liga essa obra calada da
Avenida Brasil. Todavia, a placa comemorativa est voltada em direo contrria, para
dentro da praa. Nela, consta uma indicao alusiva ao 5. aniversrio de emancipao
poltico-administrativa de Santa Helena:
Prefeitura Municipal de Santa Helena.
rea de Segurana Nacional
Aos Pioneiros
Nossa Gratido
Aos Jovens
Nosso Estmulo
Ao Povo Laborioso
Nossa Homenagem.
5 Aniversrio 1973
Poder Executivo e Legislativo.
Mesmo sendo reformulada, a praa ainda guarda monumentos que so registros de
memrias produzidas em momentos anteriores. O perodo da ditadura militar, em que o
municpio foi considerado rea de Segurana Nacional e por isso os prefeitos eram
nomeados pelo governador do estado.
80
De acordo com Paludo tal medida gerava
descontentamento entre vrios dos membros do legislativo local.
81
Isso, no entanto, no impediu que executivo e legislativo se unissem para erigir esse
monumento, tratando o enquadramento do municpio enquanto rea de segurana
nacional como motivo de orgulho e algo a ser lembrado. Junto com essa associao
positiva do municpio ao regime vigente no pas, na poca, a placa projeta passado,
presente e futuro. Isso ocorre com o passado lembrado por meio da ao dos pioneiros,
do futuro a ser construdo pelos jovens e daquele presente que une, pelo trabalho,
passado e futuro.
De qualquer forma, noto novamente a colonizao sendo tratada, na figura dos
pioneiros, como o momento fundador da sociedade local. Alm disso, a placa evoca o
sentimento de gratido para com aquelas pessoas, tornando-as uma espcie de heris,
cujos atos servem de exemplos a serem seguidos.
80
Por meio do Decreto Federal n. 1.170, de 10 de maio de 1971, complementar ao AI-2 (Ato Insitucional n.
2), o Municpio de Santa Helena passou a ser considerado rea de Interesse da Segurana Nacional, por
localizar-se em regio de fronteira internacional. In: PALUDO. op. cit. pp. 6 e 21.
81
Idem. pp. 22-3 e 28-9.
64
Tal mensagem, com toda sua carga simblica era difundida nesse espao central,
estando voltada, principalmente populao do municpio, uma vez que o turismo ainda
no estava sendo implementado. possvel pensar, tambm, que, em tal perodo, por meio
de tal obra, pretendia-se incorporar a memria dos pioneiros aos prprios ideais da
ditadura militar, talvez, em uma tentativa de associar o local e regional esfera nacional.
Isso pode estar relacionado, ainda, com o incentivo que tal regime prestou mecanizao
agrcola, procurando conquistar a simpatia popular para seus projetos ao procurar
demonstrar ateno para com a sociedade local e certos valores, como o trabalho. Nesse
momento de transformaes na estrutura agrcola local, parecia ser importante reafirmar a
crena no labor e, principalmente, no futuro que ento estava sendo construdo.
Processo semelhante, por sua vez, sofreu a Praa Orlando Weber, outrora
denominada Praa Rui Barbosa, tendo seu nome mudado tambm em 1994.
82
Em 1999 a
praa foi reinaugurada durante as festividades que marcaram os 32 anos de emancipao
de Santa Helena.
83
Tambm de arquitetura arrojada, essa praa difere um pouco da anterior, pois o
nmero de bancos instalados menor, sendo suas distribuio mais concentrada em alguns
pontos de sua extenso. Parece ter sido projeta mais como um local a ser freqentado para
apreciao e nem tanto para permanncia. Isso no impede que as pessoas, muitas vezes os
jovens, acomodem-se nela em seus momentos de lazer. Nessas ocasies, muitas vezes as
escadas da parte mais elevada, visvel na fotografia anterior, so utilizadas como assentos.
Localiza-se em frente Praa Antnio Thom, como tambm pode ser observado
no Anexo V, no outro lado da Avenida Brasil, portanto, rea central da sede municipal.
De maneira semelhante outra praa, ocupa um local privilegiado na distribuiodo
espao fsico da sede municipal, a partir de onde expressa os significados dos quais est
carregada e os sentidos de posse que evoca, a partir das memrias da colonizao.
82
Lei Municipal 855/94. Apud: COLODEL, Jos Augusto. Pelas ruas... ...e praas.... op. cit. p. 7.
83
INAUGURAES MARCAM os 32 anos de Santa Helena. Jornal Costa Oeste, Santa Helena/PR, ano
3, n. 63, maio de 1999. Capa.
65
Praa Orlando Weber vista da Praa Antnio Thom. Nessa praa tambm fica localizada a
Usina de Conhecimento, no perceptvel nessa imagem por ter sido privilegiada a viso do
painel histrico. Fotografia tirada pelo autor em 29/05/2005, na parte da tarde.
As obras inauguradas em aluso aos 32 anos de emancipao foram noticiadas em
tons comemorativos pelo Jornal Costa Oeste, em maio de 1999. Essa edio tambm
exaltava o projeto do ento prefeito municipal de iniciar uma verdadeira batalha contra o
desemprego,
84
tratando Santa Helena como modelo de desenvolvimento. Buscava,
portanto, criar uma imagem de progresso sobre o municpio, enfatizando as realizaes
do poder pblico local. Pode-se afirmar, ento, que o jornal, com suas matrias, tornava-se
parte das prprias comemoraes.
Nesses tons, em matria de capa, o jornal noticiava a reinaugurao da Praa
Orlando Weber:
Durante as festividades dos 32 anos do Municpio de Santa Helena, muitas obras
foram inauguradas ou lanadas pela atual administrao coordenada pelo
Prefeito Silom Schmidt. Uma delas foi a restaurao completa da Praa que
recebeu o nome do primeiro vice-prefeito da cidade, Orlando Weber, que
juntamente com Arno Weissheimer (primeiro Prefeito) muito fez para consolidar
um municpio que hoje pode orgulhar-se do desempenho e contnuo
desenvolvimento.
85
84
Idem. Ibidem.
85
Idem. Ibidem. Acrscimo consta no original.
66
Orlando Weber tambm considerado um dos desbravadores e pioneiro da sede
municipal de Santa Helena. De acordo com Colodel,
86
foi quem adquiriu o hotel de
Antnio Thom, em 1960, dando continuidade s suas atividades. Talvez esse motivo
tenha pesado mais do que o cargo de vice-prefeito por ele ocupado, quando do momento da
homenagem, realizada ainda em 1994, portanto, cinco anos antes da vinculao da notcia
sobre a reformulao da praa. Vale a pena frisar que no existe nenhuma homenagem ao
primeiro prefeito municipal, o que pode indicar a influncia de outros fatores nessa atitude.
Quanto ao jornal, essa mesma edio destacava ainda a Usina de Conhecimento,
projeto do governo estadual, localizado nessa mesma praa e inaugurada naquela
oportunidade.
87
Tambm conferia nfase inaugurao de um painel, que contaria a
histria do municpio.
88
A fotografia que ilustra tal matria de capa do prprio painel,
tendo sua frente um conjunto de pessoas posando para a fotografia, no identificadas pelo
jornal. Adiante, junto das matrias que destacam as obras inauguradas naquela ocasio, o
peridico apontava:
Painel homenageia pioneiros do Municpio
A Administrao Municipal juntamente com a Cmara Municipal buscou uma
forma de homenagear os colonizadores deste municpio. O Prefeito Silom Schmidt
fala que atravs do desenho foi contada a histria da evoluo, progresso e
desenvolvimento do municpio desde a sua fundao at hoje.
O painel, diz o Prefeito, servir para registrar momentos dos visitantes aqui na
cidade, uma vez que a vocao natural do municpio o turismo. O painel sendo
cultural ir se tornar parte da educao voltada para esta rea que juntamente
com a faculdade, a usina do conhecimento e outros investimentos possibilitaro
uma maior rapidez no acesso cultura e desenvolvimento. Silom prometeu ainda
uma grande notcia nesta rea para Santa Helena em breve.
89
importante notar aqui o apelo s memrias do pioneirismo. como se a histria
de Santa Helena, em certos momentos, se reduzisse colonizao. necessrio, porm,
perceber que tais verses do passado so apresentadas, agora, a partir de outro prisma: os
esforos de implementao do turismo em Santa Helena, um dos maiores projetos de
Schmidt, nos oito anos que esteve frente da prefeitura municipal. A prpria matria d a
86
COLODEL, Jos Augusto. Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit. p. 36.
87
Com a construo do novo pao municipal, inaugurado em 2001, fechou-se a parte da Rua Paraguai,
tornando contguos o quarteiro em que ficava essa praa e aquele onde fica a prefeitura municipal, a
cmara de vereadores e, atualmente, a delegacia de Polcia Militar, no mesmo prdio onde outrora
encontrava-se instalado o frum da Comarca de Santa Helena.
88
INAUGURAES MARCAM os 32 anos de Santa Helena. Jornal Costa Oeste, Santa Helena/PR, ano
3, n. 63, maio de 1999. Capa.
89
PAINEL HOMENAGEIA pioneiros do Municpio. In: Jornal Costa Oeste, Santa Helena/PR, ano 3, n.
63, p. 9, maio de 1999. Santa Helena: Os trinta e dois anos de Santa Helena. p. 9.
67
entender que a edificao de tais obras, instituindo determinadas memrias, fazia parte
desse o projeto.
Painel histrico. direita fica fonte dgua, que compe a praa. Fotografia tirada pelo autor
em 29/05/2005, na parte da tarde. O objetivo era retratar o painel em um plano central.
A histria contada pelo painel, na leitura de autoridades como o prefeito, evolutiva,
trazendo a trajetria do desenvolvimento municipal. Acaba, assim, por se tornar parte do
68
progresso local, servindo como ponto turstico e como instrumento educativo, fator
considerado importante para o desenvolvimento de Santa Helena.
Esse painel, de 90 metros quadrados, foi produzido pelo artista Adoaldo Lenzi Jnior,
utilizando a tcnica de pintura em azulejo.
90
Sua confeco foi precedida de debates com
alunos de escolas do municpio, realizada pelo artista, no intuito de divulgar o projeto e a
tcnica empregada em sua elaborao.
O Jornal Costa Oeste
91
tambm dedicou parte de suas atenes trajetria do artista
Lenzi Jnior, apresentada em tons elogiosos. Aponta que ele considerado por muitos
como o sucessor de Poty Lazarotto, com quem comeou a trabalhar ainda aos 12 anos de
idade.
92
Lazarotto foi um artista curitibano, falecido algum tempo antes da construo
desse painel em Santa Helena. Alguns trabalhos seus em tcnica semelhante painis
compostos de pinturas em azulejos encontram-se em praas da capital paranaense. De
maneira semelhante a Colodel, Lenzi Jnior tambm permaneceu no municpio aps a
realizao de seu trabalho, atuando em reparties pblicas e em empresas privadas, nem
sempre na execuo de obras artsticas.
Fazendo uma leitura desse monumento, pode-se observar um suporte em concreto
com alguns cones, ao lado esquerdo do painel, como um peixe. A pintura em cermica
inicia retratando as matas nativas, a navegao a vapor no Rio Paran e a explorao da
madeira, realizada pelas empresas colonizadoras, retratadas na figura de um navio, um
pescador e toras de madeira sendo transportadas. Tais imagens ocupam boa parte do
painel, passando uma idia de vazio nesse perodo Santa Helena. Essa impresso
passada pelo fato do nmero e tamanho das imagens concentradas nessa rea do painel
serem desproporcionais s restantes que o compem.
Um pouco abaixo das toras, aparecem alguns carroes, muitas vezes representados
nos filmes estadunidenses, do gnero faroeste. Localmente, algumas vezes so
empregados para representar a colonizao. Nessa disposio, retrata a concomitncia de
obrages e colonizao. No fica muito visvel na foto anterior, mas existem pequenas
pessoas, montadas a cavalo, desenhadas apenas com contornos em preto, que comeam na
imagem do primeiro pescador (da esquerda para a direita) e terminam na figura do
costelo, prato oficial do municpio. Possivelmente retratam a colonizao que teria se
estendido entre 1920 at fins da dcada de 1960.
90
LENZI JNIOR, o sucessor de Poty Lazarotto. In: Idem. p. 9.
91
Idem. Ibidem.
92
Na poca da inaugurao Lenzi Jnior possua 22 anos de idade. In: Idem. Ibidem.
69
Adiante, Lenzi Jnior retrata um momento de conflito. O rio divide dois grupos de
homens armados, em combate. Logo acima apresenta chamas no rio. Trata-se da passagem
da Coluna Prestes em Santa Helena, e da ponte que foi queimada pelos revoltosos a fim
de atrasar as tropas do General Rondon que os perseguiam.
As imagens posteriores retratam uma pessoa pescando, mas no fica claro se uma
aluso aos pescadores profissionais do municpio ou se retrata apenas a pesca como lazer e
esporte. Apresentam ainda, a soja e o milho, representando as atividades agrcolas do
lugar, principalmente do perodo posterior dcada de 70. Ao final, tm-se gravuras de
guarda-sis, barcos vela, um barco de passeio e o costelo. Portanto, enquanto ponto
final, o artista conferiu destaque implementao do turismo no municpio.
Unindo todos esses elementos est o Rio Paran, principal via de comunicao do
local at a dcada de 40 e elemento a partir do qual se implementa o turismo em Santa
Helena, principalmente, por meio da praia artificial. Existe, acima da representao do
turismo, a indicao de um mapa dos caminhos que ligam o municpio regio. Em todo o
horizonte da imagem projeta-se a floresta, possivelmente sobre o outro lado da fronteira.
Seriam, ento, as matas ciliares do lago de Itaipu, no lado paraguaio.
Esse painel tambm analisado por Colodel
93
no livro didtico referido
anteriormente. A prpria capa e contracapa da obra so ilustrados com uma reproduo
dessa obra de Lenzi Jnior. Colodel a caracteriza como: Homenagem significativa
histria e aos pioneiros. Uma referncia cultural a ser contemplada.
94
Dessa maneira, possvel perceber que muitos elementos da obra desse historiador
encontram-se representados no painel. Assim, destaca certos marcos da histria local,
enfatizando sistemas (ou ciclos) econmicos e eventos polticos, como a passagem da
Coluna Prestes. O fim do painel apresenta o turismo, dentro de uma idia de
progresso. Silencia os conflitos agrrios e at mesmo sobre a construo de Itaipu.
Apresenta, assim, o que seria a histria de Santa Helena, uma histria evolutiva e linear,
em que todos seguem na mesma direo. Mais do que isso, tambm harmnica, pois o
nico conflito retratado no envolve habitantes da regio. importante frisar, tambm,
como nesse retrato as pessoas so apresentadas de maneira secundria, sendo que a nfase
recai sobre o rio e a economia. So, portanto, silenciadas enquanto sujeitos.
93
COLODEL, Jos Augusto. No painel cultural de Santa Helena, navegar preciso!. In: Histria de Santa
Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit. p. 96.
94
Idem. Ibidem.
70
O painel, portanto, conecta-se obra de Colodel e tambm s memrias pblicas do
municpio. Apresenta-se como um monumento de destaque pblico, disposto na rea
central do municpio, de fronte para a Avenida Brasil, em uma praa cuja arquitetura incita
as pessoas sua contemplao. Alm de local de visitao turstica, apresenta fcil acesso
aos moradores, objetivando conquistar o grande pblico e, a partir da imagem,
apresentar uma histria do municpio.
Apresenta, ainda, os projetos e marcos como a colonizao e a implementao do
turismo, projeto que ento a administrao municipal empenhava-se em desenvolver com
grande mpeto, como nicos e inevitveis, algo consumado, resultante de escolhas
racionais, responsveis pelo contnuo de desenvolvimento do lugar. Nesse momento, ao
tratar o turismo como marco final dessa histria linear de Santa Helena, o painel afasta-se
da cronologia traada por Colodel, que, em Histria de Santa Helena: descobrindo e
aprendendo: ensino fundamental,
95
encerra seu trabalho na construo de Itaipu.
Entretanto, em termos de perspectiva, sua anlise converge para essa memria pblica do
municpio.
As homenagens a pioneiros estendem-se tambm rodoviria municipal, que em
1998 passou a ser designada de Terminal Rodovirio de Passageiros de Santa Helena
Marino Carvalho da Silva.
96
Aps a realizao de reformas, esse local foi reinaugurado
em 2004, de acordo com placa comemorativa localizada em seu saguo:
Prefeitura Municipal de Santa Helena
Terminal Rodovirio de Passageiros de Santa Helena Marino Carvalho da Silva
Esta obra foi remodelada com recursos da municipalidade.
Gesto: 2001/2004
Silom Schmidt
Prefeito Municipal
Jos Altair Schimmelfennig
Vice-prefeito
Santa Helena, 30 de dezembro de 2004.
Ao que tudo indica, o nome Terminal Rodovirio de Passageiros de Santa Helena
Marino Carvalho da Silva foi o primeiro ttulo desse local, no substituindo o nome de
outro homenageado, como ocorreu com as duas praas mencionadas.
A arquitetura do terminal apresenta ares de imponncia, tendo dois portais por onde
entram e saem os nibus. Faz parte, portanto, de um projeto de revitalizao de locais
95
COLODEL, Jos Augusto. Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit.
96
Jos Augusto. Pelas ruas... ...e praas.... op. cit. p. 7.
71
pblicos do Municpio e, assim como as praas reformuladas, compe um monumento ao
progresso.
Terminal Rodovirio de Passageiros de Santa Helena Marino Carvalho da Silva visto da
Avenida Deputado Arnaldo Busato. Fotografia tirada pelo autor em 29/05/2005, ao entardecer.
Plataforma de embarque do Terminal Rodovirio de Passageiros de Santa Helena Marino
Carvalho da Silva visto de seu estacionamento. Fotografia tirada pelo autor em 30/05/2005,
na parte da manh.
72
A homenagem a Marino Carvalho da Silva foi realizada por ser considerado o
primeiro morador da sede do municpio de Santa Helena. Ele, por sua vez, no
descendente de italianos ou alemes, mas sim de portugueses e nunca ocupou nenhum
cargo pblico que o colocasse entre os notveis ou elite local. Isso demonstra que tal
memria do pioneirismo no se manteve igual em todos os tempos, mas foi sendo
modificada, incorporando outros personagens.
Se regionalmente costuma-se excluir da alcunha pioneiro os no-descendentes de
italianos, alemes e em menor grau, de poloneses, isso no ocorre da mesma maneira em
Santa Helena. Ao meu ver, tal processo no ocorre naturalmente. Raymond Williams
defende que a cultura deve ser entendida no como estrutura, mas como experincia
vivida. Esse vivido, no entanto, implica em dominao e subordinao. A hegemonia
seria, ento, todo o movimento complexo de valores dominantes em um certo perodo, mas
que ao mesmo tempo sofre presses para que mudanas ocorram:
Uma hegemonia vivida sempre um processo. No , exceto analiticamente, um
sistema ou uma estrutura. um complexo realizado de experincias, relaes e
atividades, com presses e limites especficos e mutveis. Isto , na prtica a
hegemonia no pode nunca ser singular. Suas estruturas internas so altamente
complexas, e podem ser vistas em qualquer anlise concreta. Alm do mais (e isso
crucial, lembrando-nos o vigor necessrio do conceito), no existe apenas
passivamente como forma de dominao. Tem de ser renovada continuamente,
recriada, defendida e modificada. Tambm sofre uma resistncia continuada,
limitada, alterada, desafiada por presses que no so as suas prprias presses.
Temos ento de acrescentar ao conceito de hegemonia o conceito de contra-
hegemonia e hegemonia alternativa, que so elementos reais e persistentes na
prtica.
97
Percebo nessa memria criada sobre Santa Helena muitos elementos de hegemonia.
Todavia, como tal viso do passado homogeneizadora e restrita ao enaltecimento de
determinadas histrias locais, acaba sofrendo presses para que mudanas sejam operadas.
preciso que se incorpore outros elementos, afim de que no caiam em descrdito perante
a sociedade, deixando, dessa forma, de cumprir seu papel.
Ainda sobre o terminal rodovirio, no caminho que liga o saguo plataforma de
embarque, foram edificados outros dois monumentos. Embora no contenham
identificao, percebo que um a representao do busto do senhor Silva, se no edificado
em bronze ao menos banhado em material que lhe confere brilho semelhante. Sua face
97
WILLIAMS, Raymond. Hegemonia. In: Marxismo e Literatura. Op. cit. pp. 115-6.
73
apresenta uma expresso severa, evocando a imagem de um homem forte e srio, digno de
ser homenageado como pioneiro ou desbravador.
Busto do senhor Marino Carvalho da Silva. Fotografia tirada
pelo autor em 29/05/2005, na parte da tarde. O objetivo era
mostrar esse monumento em primeiro plano, de maneira
centralizada.
O outro monumento, que fica do outro lado do corredor, no possui identificao.
perceptvel, todavia, que evoca elementos dessas memrias institudas pelo poder pblico
local. Seu formato lembra uma pessoa de chapu, imagem tpica do colonizador. Alm
disso possvel notar outros elementos como um barco e sementes de soja, o que pode
lembrar a agricultura contempornea do municpio e a navegao de outrora, no rio Paran.
Esse monumento apresenta elementos de permanncia daquela memria da colonizao
74
e do pioneiro, os quais tornam-se visveis na esfera pblica a partir da indeterminao,
uma vez que tais noes somente deixam de ser abstratas por meio da identificao que os
sujeitos produzem para com elas.
Monumento sem identificao. Fotografia tirada pelo
autor em 27/05/2005, na parte da noite. O objetivo era
mostr-lo em um primeiro plano, de maneira
centralizada.
Embora incorpore novos sujeitos, mantm-se no Terminal Rodovirio, assim como
nos demais lugares de memria, os marcos que cristalizam a memria pblica local.
Opera-se, tambm, o silenciamento desses trabalhadores, no por meio do esquecimento,
mas por serem lembrados a partir do indeterminado, de uma representao abstrada da
existncia social real daquelas pessoas. Mesmo quando nomes so evocados, eles so
tomados como exemplos daquele processo, representando o colonizador, a
colonizao, noes utilizadas para explicar, de maneira linear, o processo histrico
local.
75
O Terminal Rodovirio, dessa maneira, torna-se, tambm, um local importante
para a difuso da memria pblica local. Constitui-se em um local de trnsito e passagem,
utilizado no apenas por moradores locais principalmente os das localidades do interior
do municpio mas tambm por visitantes da regio. Pode ser considerado uma das
portas de entrada da sede municipal, que se apresenta, assim, carregada de sentidos. Tal
fato pode ter sido levado em considerao, pois, as obras nesse local faziam parte da
constituio de Santa Helena como um lugar turstico, procurando-se, ento, atingir esse
pblico.
No possvel afirmar, portanto, que houve uma retrao nessa memria que enfatiza
a presena dos pioneiros, descendentes de italianos, como aqueles que teriam se
instalado ainda na dcada de 1920 em Santa Helena Velha. Nesse sentido, a
administrao municipal inaugurou, na dcada de 2000, o Portal dos Pioneiros, uma
outra obra, rendendo-lhes homenagem.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. Calendrio de Eventos. 2004. Acervo do
autor.
O portal, tambm edificado em arquitetura arrojada e imponente, localiza-se na
estrada que liga Santa Helena Velha Rodovia Coluna Prestes, via de acesso sede
municipal de Santa Helena. Nessa localidade est edificada a Base Nutica, uma obra do
governo do estado, realizada em 1997, quando da realizao dos Jogos Mundiais da
76
Natureza. Tal evento trouxe para a regio atletas profissionais de diversos pases e tinha
como objetivo promover a regio como local turstico. A partir desse projeto que se
divulgou o termo Costa Oeste, como forma de denominar os municpios localizados s
margens do lago de Itaipu.
Aps os jogos, a Base Nutica passou a ser ocupada tambm para outros tipos de
eventos, sendo um local onde se desenvolvem reunies e, principalmente, retiros
religiosos, por encontrar-se em um local calmo, sem muito barulho. Edificar um portal
nesse local, tinha, provavelmente, a inteno de apresentar s pessoas que o visitavam,
sejam turistas ou moradores do municpio, a noo de que Santa Helena teria comeado ali,
na colonizao de 1920 e no em outro momento, como no perodo anterior, com os
povos indgenas.
A imagem apresentada anteriormente compe o Calendrio de Eventos do ano de
2004, produzido pela Prefeitura municipal. Nele, divulgam-se imagens de obras realizadas
pelo poder pblico, pontos tursticos, monumentos e vistas areas da sede municipal. Note-
se, assim, que a fotografia do portal foi tirada para fins de divulgao. Sua imponncia
ressaltada ainda mais pelo ngulo a partir do qual foi retratado, ficando a mquina
fotogrfica abaixo da linha do horizonte do monumento. Tal fator refora a idia de que
Santa Helena um lugar de progresso, que teria perpassado o passado e o presente.
Intervm na imagem, ainda, o detalhe do design do calendrio e a logomarca municipal:
Santa Helena Terra das guas, utilizada de maneira oficial pelo poder pblico e tambm
voltada implementao do turismo. Portanto, tal monumento tambm se constitui como
ponto de visitao turstica, sendo divulgado enquanto tal pela administrao municipal.
De maneira mais discreta, mas presente na sede municipal de Santa Helena, est
aquela que conhecida popularmente por Patrola. Sem identificao, trata-se da carcaa
daquela que considerada a primeira motoniveladora do municpio de Santa Helena,
disposta em local pblico, no prolongamento da Rua Argentina, o qual liga a sede
municipal ao atual Porto de Santa Helena.
Disposta ao lado da estao de energia da COPEL (Companhia Paranaense de
Energia Eltrica), ambos conformam um monumento ao progresso. O desbravar as
matas ritualizado por meio da conservao do que restou dessa mquina. Vale a pena
lembrar que essa prtica comum em outros municpios da regio, como Marechal
Cndido Rondon, que preserva o restante do que seria sua primeira motoniveladora em
local prximo ao prdio da prefeitura municipal.
77
Motoniveladora, popular Patrola, vista do prolongamento da Rua Argentina. Fotografia tirada
pelo autor em 29/05/2005, na parte da tarde. O objetivo era retratar desse ngulo para mostrar a
estao de energia ao fundo.
Em Santa Helena, esse monumento est quase esquecido, uma vez que no
divulgado em materiais do poder pblico, como so os demais, e no tendo passado,
tambm, por nenhum processo de restaurao. Isso pode estar relacionado ao contraste que
representa aos ideais de desenvolvimento sustentvel e preservao do meio-ambiente,
discursos sobre os quais o municpio passou a apoiar o fomento ao turismo, a partir da
dcada de 1990.
Por ltimo, cabe destacar o monumento edificado Coluna Prestes. beira da
rodovia estadual homnima, faz parte do Patrimnio Histrico do municpio de Santa
Helena. composta pelas runas da ponte que teria sido queimada pelas tropas rebeldes,
posteriormente conhecidas pelo nome de Coluna Prestes. Tambm se afirma, no
municpio, que foi em Santa Helena que Lus Carlos Prestes teria assumido o comando das
tropas.
78
Foi edificado, ao lado das runas da ponte, um obelisco em homenagem s foras
rebeldes que tambm compe o monumento. Tal obra foi uma doao de Oscar Niemeyer
e possui 25 metros de altura. Cada metro simbolizaria mil quilmetros percorridos pelos
rebeldes at seu exlio na Bolvia. Entre a estrutura do obelisco tm-se um trao,
simbolizando uma estrada, um caminho.
As imagens abaixo tambm esto presentes no Calendrio de Eventos do ano de
2004. Entretanto, ficam no verso, onde dividem espao com o calendrio do ms e a
relao de eventos programados. Isso demonstra que sua divulgao, nesse tipo de
material, no se encontrava entre as maiores preocupaes do poder pblico, naquele
momento.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. Calendrio de Eventos. 2004. Acervo do
autor.
79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. Calendrio de Eventos. 2004. Acervo do
autor.
Ambas tambm so encobertas pelo detalhe da impresso do calendrio. Em azul,
lembra as guas, tematizada na logomarca oficial do municpio. A primeira fotografia
coloca em um plano central as duas bases que ainda restam daquela ponte, destruda pelas
chamas, reconstruda e posteriormente destruda novamente por uma enchente. Ela no se
encontra mais em uso devido construo de uma nova ponte, maior, em outro local.
Como possvel notar, pouco restou dessa marca deixada pelos rebeldes, mas isso no
impede que sobre ela seja constituda toda uma simbologia.
A segunda imagem, por sua vez, retrata o obelisco doado por Niemeyer. O ngulo da
fotografia, tirada de longe e em diagonal crescente, ressalta a idia de grandeza da obra,
conferindo destaque sua altura. Portanto, a prpria fotografia toma parte dessa memria
celebrativa do monumento.
Como ressaltei anteriormente, a memria constituda da Coluna Prestes e de Lus
Carlos Prestes no tem muita relao com sua atuao posterior, junto ao PCB (Partido
Comunista Brasileiro), onde tambm militou Niemeyer. Trata-se da incorporao, em
80
termos regionais, desse movimento apenas enquanto denncia do descaso para com
aquela fronteira. Tal atitude, segundo tais verses, teria influenciado, posteriormente, na
deciso dos governos federal e estadual de colonizar a regio Oeste do Paran.
Alm disso, o monumento tambm foi incorporado localmente ao projeto de
desenvolvimento do turismo. Encontra-se, portanto, dentro da necessidade de se criar
locais de visitao e atividades que mantenham os turistas no municpio o maior tempo
possvel.
98
Tais questes mereceram uma matria do Jornal Costa Oeste, no caderno especial
alusivo aos 35 anos de emancipao de Santa Helena, em maio de 2002. A reportagem
aparece junto de uma srie de artigos retratando instituies, empresas e iniciativas do
poder pblico local. Inicia apresentando um pouco da Coluna Prestes:
O objetivo dos revoltosos era a derrubada do regime das oligarquias, que dentre
outros problemas dava muito pouco valor regio, poca ocupada por
argentinos e at pelos ingleses, que exploravam a erva-mate. Historiadores
contam que as avanadas tcnicas de combate dos revolucionrios foram
reconhecidas at mesmo pelos estrategistas do pentgono, que reconheceram no
movimento uma das mais prodigiosas faanhas militares da histria das
guerrilhas.
99
A memria que o jornal procura instituir de edificao desse movimento e da
personalidade de Prestes. Adiante, aponta que: Lus Carlos Prestes acabou voltando [do
Paraguai] ao Brasil, via Mato Grosso, dando continuidade sua incansvel trajetria,
que inclui at alguns estados do Nordeste.
100
Trata-se de uma heroicizao dos atos dessa
personalidade da poltica brasileira. Contudo, isso fica restrito s aes e ideais defendidos
por Prestes durante a vigncia do tenentismo, no incluindo sua atuao junto ao PCB e
de seu significado para o movimento comunista no Brasil.
O jornal destaca, ainda, a construo do marco da Coluna Prestes por Niemeyer e
da inteno de tornar o local uma das atraes tursticas do municpio:
Valor histrico
O marco da passagem da Coluna Prestes foi realizado a partir de um projeto do
consagrado arquiteto Oscar Niemayer [sic]. Tem 25 metros de altura,
simbolizando os 25 mil quilmetros percorridos pela Coluna e similar ao que foi
98
A esse respeito ver: MAIS UM monumento histrico: Memorial projetado por Oscar Niemeyer vai
lembrar os 25 mil Km percorridos pela Coluna Prestes. In: Revista Regio, Marechal Cndido
Rondon/PR, ano 1, n 5, p. 5, abril de 2000. Informe Especial. p. 5. A matria tambm divulga o
monumento a partir do projeto de implementao do turismo em Santa Helena. Tambm o apresenta como
estratgia para fazer com que o turista permanea mais tempo visitando o municpio.
99
COLUNA PRESTES passou por aqui. In: (Jornal Costa Oeste) Caderno especial em comemorao ao
35 aniversrio do municpio de Santa Helena, Santa Helena/PR, p. 7, maio de 2002, Marco histrico. p. 7.
100
Idem. Ibidem.
81
instalado na cidade gacha de Santo ngelo por onde tambm passaram os
revoltosos.
Hoje o local carece de algumas obras de infra-estrutura, a comear pela
pavimentao ou calamento polidrico da estradinha de pouco mais de 200
metros, paralela rodovia. Segundo informaes, a prefeitura de Santa Helena
pretende instalar no local um mini-parque temtico, com obras retratando a
marcha da Coluna Prestes, a posio dos guerrilheiros em combate e at mesmo
alguns dos combates travados.
Caso isto efetivamente acontea, o memorial ganharia importncia ainda maior,
ajudando a chamar as atenes dos turistas sobre a passagem, por Santa Helena,
daquela que considerada at hoje a maior marcha da humanidade.
101
A matria vinculada pelo jornal, como possvel perceber, no retrata apenas um
possvel projeto turstico do governo municipal, mas tambm compe esse projeto. Tal
carter visvel at mesmo pelo ttulo desse peridico, pois, Costa Oeste foi um termo
criado pelo governo estadual, em 1997, quando foram realizados os Jogos Mundiais da
Natureza, conforme apontei anteriormente.
Sobre a Coluna Prestes, o texto jornalstico institui uma memria que exalta a
importncia que o evento teria para a regio, todavia, esvaziando boa parte de seu carter
de contestao. Ilustram a matria, tambm, uma fotografia, de autoria de Srgio
Sanderson, que mostra o restante das estruturas da ponte queimada, no canto inferior
esquerdo da pgina e outra, sem indicao de autoria, do marco, no canto superior
direito. Ao fundo dessa ltima imagem aparece a rodovia e uma carreta, transportando
duas colheitadeiras em sua carroceria, smbolos da economia regional. Essa imagem
sugere, tambm, uma idia de desenvolvimento, sendo que as duas imagens contrapem,
de um lado, um passado residual e de outro, um presente de progresso.
Dessa forma, novamente associam-se memrias a um projeto de futuro, no caso, o
desenvolvimento do turismo. comum, tambm, tais lugares de memria serem
apresentados em materiais de divulgao elaborados pela prefeitura municipal, junto de
imagens do balnerio (praia artificial), da sede municipal e de prdios pblicos (entre
eles o pao municipal), como no folder parcialmente reproduzido a seguir:
101
Idem. Ibidem.
82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. Folder de Propaganda: Santa Helena: Terra
das guas. (Fragmento). s/d. Acervo do autor. (Distribudo em 2004).
No material acima, os monumentos histricos so apresentados como atraes
tursticas. Porm, isso no retira a intencionalidade contida neles de se instituir
determinadas memrias. Conforme aponta:
Santa Helena tem um dos mais belos cenrios tursticos da Costa Oeste.
Com uma extenso de 900 metros de orla de praia e completa infra-estrutura de
apoio ao turista.
No auge da temporada de vero, dezembro a fevereiro, o Balnerio recebe turistas
de vrios estados, aldm do Paraguai e Argentina.
O Balnerio de Santa Helenaconta com toda infra-estrutura necessria para
atender bem a voc e sua famlia.
L voc encontra reas de camping, quiosques, restaurantes, reas de lazer com
quadras poliesportivas, quadra de tnis e atracadouro.
Histria preservada, povo culturalmente rico.
83
Cada pedao do caminho traado pelos colonizadores se encontra registrado no
Painel Histrico e nas runas da Ponte Queimada; fato registrado pelo Memorial
Coluna Prestes.
guas calmas e paisagens exuberantes completam o cenrio ideal para pesca, que
pode ser praticada o ano todo. Um habitat favorvel reproduo da Curvina e
do Tucunar, peixes encontrados em grande quantidade na regio.
Os esportes nuticos so praticados por todos os visitantes, com segurana,
prazer e belas vises de equilbrio entre o homem e o meio ambiente.
102
Em certos momentos o folder pretende criar uma idia de que tais materiais
expressam a totalidade de certas histrias locais, como o painel que registraria: Cada
pedao do caminho traado pelo colonizadores. Possui o sentido, assim, de divulgar
entre os turistas embora tambm o faa entre a populao local esses lugares de
memria. Ao mesmo tempo em que se constituem como lugares para visitao e lazer,
tambm expressam suas verses do passado.
Os passeios acabam por tornarem-se atividades informativas, nas quais toma-se
contato com essa memria pblica e os sentidos que ela expressa. preciso lembrar, ainda,
que boa parte dos visitantes que Santa Helena recebe do prprio Oeste do Paran. Como
a memria pblica local conecta-se e interrelaciona-se com aquela da regio, pode-se
pensar que sua mensagem extrapola os limites do municpio, fazendo sentido para essas
pessoas, falando tambm de si e do lugar em que vivem.
Institudo em 1991, o Hino de Santa Helena tambm apresenta certos elementos
dessas memrias locais. Sua letra tambm traa uma espcie de trajetria do lugar:
HINO DE SANTA HELENA
Hino de Santa Helena foi institudo pela Lei Municipal n 664/91
Letra e msica de Maria Yvete Fontoura
Bravas raas migraram de longe,
rumo terra de frteis canteiros
que germina sementes de sonhos
engrandece esse rico celeiro.
Ao sentir o progresso latente
essa gente aqui se firmou.
Muitos outros seguiram sua trilha
e to logo um povo forte se firmou.
|: Ao voltar-mos [sic] nas asas do tempo,
um passado fecundo acena,
registrando uma histria de garra
na memria de Santa Helena :|
102
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA. Folder de Propaganda: Santa Helena: Terra das
guas. (Fragmento). s/d. s/p. Acervo do autor. (Distribudo em 2004).
84
Certo dia as guas do rio
estenderam-se sobre este cho,
muitos filhos deixaram o solo,
indo em busca do novo rinco,
mas, a f dos que continuaram.
com a fora do rio cresceu,
fez brotar novas frutas, novas flores
e to logo a esperana fortaleceu.
|: Ao olhar-mos [sic] nos tempos de hoje,
um presente de lutas acena,
demonstrando amor pela terra
desta gente de Santa Helena :|
Hoje as gua [sic] refletem as cores
que adornam com simplicidade,
atraindo de todos os cantos
visitantes nossa cidade,
que desfrutam de toda a magia
das belezas de cada recanto
do calor de um povo hospitaleiro
e to logo so tomados de encanto.
|: Ao mirar-mos [sic] o vasto horizonte,
um futuro de glrias acena
com promessas de f no progresso
da Cidade de Santa Helena
103
O hino possui, de forma visvel, o intuito de enaltecer o municpio, elemento tpico
desse gnero musical. Ao realizar tal tarefa, apresenta uma espcie de histria local,
pautada em trs marcos: a colonizao, como o perodo de migraes; a construo do
reservatrio de Itaipu, como um momento de desequilbrio e de emigraes do municpio;
e o presente, sinalizado pelo turismo.
Nesses momentos ressaltada em tons de glria a fora do povo santaelenense, que
teria construdo um contnuo de progresso, restabelecendo-o, inclusive, aps a
construo de Itaipu. No presente, esse mesmo povo seria hospitaleiro, conduta ideal e
necessria ao desenvolvimento do turismo. Esse mesmo projeto interfere, portanto, na
imagem criada pelo hino, de uma Santa Helena caracterizada por magia e beleza.
Existe, ainda, uma juno entre passado-presente-futuro, projetando no porvir mais
glrias e progresso.
Como elemento instituinte de memrias, o hino novamente reporta-se a certos
marcos que cristalizam certas histrias locais, acenado para uma histria de mo-nica,
103
FONTOURA, Maria Yvete (letra e msica). Hino de Santa Helena. Prefeitura municipal: Santa Helena,
1991. In: COLODEL, Jos Augusto. Histria de Santa Helena: descobrindo e aprendendo... op. cit. s/p.
Grifado no original.
85
evolutiva e linear. Elege, tambm, uma certa continuidade, com relao ao povo
santaelenense, que teria sua origem com os colonizadores, sendo o presente um
desdobramento desse marco fundador da sociedade local, repleto de progresso e
desenvolvimento.
Todos esses lugares de memria se articulam na constituio de uma dada memria
de Santa Helena. A colonizao parece ser o fator que agrega praticamente todos esses
elementos. Mesmo a Coluna Prestes tratada como parte do movimento de
nacionalizao da fronteira que teria resultado na colonizao, enquanto que a sociedade
local teria nesse episdio sua gnese. Isso porque as Obrages, associadas a uma memria
de barbrie, teriam sido eliminadas em tal processo de nacionalizao e os trabalhadores
paraguaios teriam deixado a regio, segundo Colodel, na dcada de 70.
104
Isso, porm,
no de todo verdadeiro.
105
Prestes e seus companheiros so atribudos papis prximos
ao de heris, repousando imagem semelhante sobre os colonizadores. Os atos desses
ltimos so notveis, exemplos a serem seguidos e para os quais deve-se ter gratido.
O historiador Paulo Knauss,
106
em um de seus artigos, estuda a prtica de se construir
esculturas na cidade do Rio de Janeiro, a partir do sculo XIX. Afirma que em muitos
casos, principalmente no imprio, tais esttuas edificavam a memria de alguns indivduos,
como de Dom Pedro I e Jos Bonifcio, tornando aes individuais como universalmente
relevantes. Destaca o autor: O caso exemplar serve para construir um padro universal e
absoluto (...). O amor dedicado ao caso exemplar e o orgulho pela excepcionalidade so
elementos de uma identidade afetiva que pode anular as distncias e as diferenas
sociais.
107
O autor tambm ressalta o que define por princpio da gratido, presente na
argumentao em prol da viabilidade da construo de certos monumentos, como o de D.
Pedro I, inaugurado em 1864: Ao venerar o fato passado e o personagem sacraliza-se a
prpria ordem social presente, articulando os tempos a partir da histria do Estado.
108
Complementa, ainda, ao tratar da iniciativa de se edificar um monumento memria de
Oswaldo Cruz, em 1952: Nesses termos fica estabelecida simbolicamente uma conexo
104
COLODEL, Jos Augusto. Obrages & Companhias Colonizadoras... op. cit. p. 90.
105
A esse respeito ver: RIBEIRO. op. cit. pp. 60-3.
106
KNAUSS. op. cit.
107
Idem. p. 178.
108
Idem. p. 182.
86
entre o individual e o coletivo, construda a partir de um dvida da sociedade para com os
feitos de um personagem.
109
No caso de Santa Helena, geralmente no se trata da edificao de um indivduo
como heri, mas da exaltao dos atos de determinados personagens, geralmente aqueles
considerados pioneiros. O que me preocupa no o ato de rememorar-se, localmente, a
presena desses sujeitos, muitas vezes designados desbravadores. O que est em questo
a forma como se procura instituir tal memria e seus significados sociais.
Abstrai-se, a partir da alcunha colonizao, o processo histrico real, o que aquelas
pessoas efetivamente viveram, ou seja suas alegrias e realizaes, mas tambm os conflitos
e tenses, que por sinal no acabaram na dcada de 1960, pois as vidas de muitos
continuaram e avanaram sobre os perodos posteriores. Projeta-se sobre esse passado
cristalizado uma viso harmnica, em que praticamente todos os problemas existentes so
silenciados, principalmente aqueles existentes entre os chamados colonizadores. sobre
essa imagem da colonizao que se projeta a noo de pioneiro, definindo-os como
dignos de honra e de serem lembrados.
Em muitos momentos, trata-se essa verso da colonizao como a nica histria
local, o que no me parece ocorrer por acaso. Toda sociedade constitui-se em meio
tenso, sendo esse aspecto parte da vida dos sujeitos. Todavia, muitas vezes torna-se
incmodo lembrar-se de momentos no-harmoniosos. Em Santa Helena, no entanto, os
conflitos so muito aparentes, principalmente aqueles relacionados s divises entre grupos
que passaram a disputar o comando da administrao municipal a partir de 1968, portanto,
j no fim do chamado perodo colonizatrio.
110
Antes disso, como se todos fossem santaelenenses ou pelo menos comunidade.
Existe uma espcie de consenso sobre isso, entre os diferentes grupos polticos, por meio
dos quais articulam-se as elites locais. Vejo, aqui, a inteno de se constituir um projeto de
sociedade, por meio da instituio dessas memrias. Isso poderia ser uma tentativa de
resolver, por meio da memria, tenses que compem a sociedade local e que no se
resumem s disputas partidrias. Nesse sentido, a colonizao como harmonia, projeta
sobre o passado o que se gostaria que existisse no presente.
109
Idem. p. 183.
110
A esse respeito ver: PALUDO. op. cit. p. 19. Particularmente acredito que a esfera poltico-partidria
apresenta apenas uma pequena parte das tenses, que existem na sociedade e so constitudas e tratadas
pelas pessoas, em suas conscincias.
87
A imagem do pioneiro apresentada como exemplo a ser seguido, expressa um
apelo coeso social. Como no presente no so encontradas possibilidades de se realizar
tal intento, busca-se viabilizar um futuro em que as tenses sociais sejam colocadas de
lado, em benefcio do ideal comunitrio. Trata-se, entretanto, no propriamente da busca
pela superao de certos conflitos, mas de construir a harmonia por meio do
silenciamento de certos agentes sociais.
Alm disso, as imigraes, bem como emigraes da regio, no se resumem ao
perodo da colonizao e das desapropriaes realizadas por ocasio da construo de
Itaipu. Ocorrem a todo momento e, sendo assim, essa sociedade modifica-se
constantemente a partir desse movimento dinmico. As pessoas que rumam para o
municpio, entre elas os trabalhadores, possuem trajetrias diversas, no tendo uma origem
e nem vivenciado em comum tais marcos de memria. A cultura, por sua vez, enquanto
processo dinmico, constantemente modificada por tais sujeitos, nessa vida em
sociedade.
Essa reafirmao e reelaborao de memrias do perodo colonizatrio, parece ser
uma necessidade de congelar uma certa verso do passado frente s mudanas e novos
sentidos que vo sendo produzidos na sociedade local em seu movimento dinmico de
transformao. Embora ser pioneiro no se constitua em algo fixo, como possvel
perceber com a incorporao de Silva memria pblica local, tais verses parecem querer
estratificar essa sociedade.
111
Demarcam espaos e lugares sociais, evocando um sentido
de posse e indicando quem teria direito ao lugar, ou mais direitos, em detrimento dos
demais.
Tais elementos de memria tambm podem ser observados localmente em outras
formas de linguagem, mesmo quando o assunto no necessariamente histria. Nesse
sentido, o jornal comunitrio Folha de Santa Helena, criado em 2004, apresentava-se
como uma edio mensal, embora pude observar que um de seus exemplares circulou
bimestralmente. Sua distribuio, muitas vezes, era gratuita e apresentava-se na oposio
administrao municipal, dirigida pelo PP (Partido Progressista) e PFL. Esse peridico
envolvia, ento, o setor da elite local, em especial comerciantes e industriais, que se
organizam em torno do PMDB local. Parece ter sido criado mais para divulgar o projeto de
municpio produzido por esse grupo, fomentando o debate que estava aflorando naquele
ano em que foram realizadas as eleies municipais.
111
Tal carter foi apontado com propriedade por Laverdi, ainda na apresentao de seu trabalho. In:
LAVERDI. op. cit. p. 14.
88
Em algumas de suas crticas administrao municipal, pude observar que elementos
da memria do pioneirismo se fizeram presentes. Esse o caso de uma matria
retratando a falncia de uma faco, na rea de costura, implantada com incentivos
financeiros da municipalidade. Seu proprietrio mudou-se para Santa Helena quando abriu
a empresa e, ao retirar-se, era acusado de causar certos transtornos ao municpio, como no
pagar os direitos devidos aos trabalhadores. A matria ocupa duas pginas inteiras do
jornal, sendo, ainda, destacada na capa. Em uma de suas subdivies l-se:
Indstrias de Santa Helena esquecidas
Enquanto os empresrios aventureiros de fora do municpio recebem todos e os
mais privilegiados benefcios, tais como: terrenos, estrutura completa, barraces
com vidros espelhados, ajardinamento, calamento ou asfalto e at casas para
residncia, as pequenas empresas industriais de Santa Helena so esquecidas e
amargam a falta de incentivos e instalaes adequadas, como ocorrem
principalmente com as indstrias metalrgicas e de mveis que h quase 8 anos
esperam o cumprimento das promessas polticas da administrao, mas continuam
a fazer seus produtos em instalaes inadequadas e at no relento, sem contar que
sofrem todo dia a presso da vizinhana e do IAP [Instituto Ambiental do Paran]
que exige a adequao ou retirada das instalaes da cidade devido poluio,
todavia, o salrio pago por esses setores industriais o dobro ou triplo do que a
indstria ou faces de confeces pagam.
112
A matria tambm ilustrada com diversas fotografias. Em uma delas encontra-se
um industrial local posando ao lado de um conjunto de seus produtos. Em outra, aparece
um prdio construdo pela prefeitura municipal, para servir instalao de uma indstria.
A primeira fotografia tem a seguinte legenda: Enquanto pioneiros como o metalrgico
[omitido pelo autor] da [nome da empresa tambm omitido pelo autor], que fabrica
aquecedores para todo o Brasil e emprega quase 20 funcionrios, luta para ter um espao
melhor que lhe d condies para produzir.
113
Na segunda imagem, a legenda continuava:
empresrios de fora recebem todos os incentivos possveis, inclusive prdios com vidros
espelhados e parede com pastilhas.
114
evidente que tal grupo possui um projeto de municpio muito claro. Pauta-se no
incentivo aos empresrios j estabelecidos em Santa Helena, principalmente da rea
metalrgica e moveleira. Classificar as pessoas como pioneiros ou de fora, configura-
se, ento, como uma forma de disputar a posse do lugar, dotando os primeiros de mais
112
MRG: MODELO Industrial em Crise. In: Folha de Santa Helena, Santa Helena/PR, ano 1, n 4, pp. 6-7,
fevereiro/maro de 2004. p. 6. Acrscimo meu.
113
Idem. Ibidem. Grifo meu.
114
Idem. Ibidem. Grifo meu.
89
direitos do que os demais. Trata-se de um instrumento poltico, em que a memria local
vincula-se aos esforos para viabilizar-se tal projeto.
Nessa perspectiva, tambm deslocam-se os conflitos de classe do lugar. como se os
problemas existentes estivessem relacionados apenas com uma comunidade ameaada
pelos de fora. possvel observar tal carter na matria daquela mesma edio, em que
so abordadas as formas de protesto e organizao dos trabalhadores da faco que
encerrou suas atividades.
Na capa do jornal esto estampadas duas fotografias. Em uma delas aparecia o
empresrio em um momento de tenso com os empregados em frente delegacia, onde
teria ido se proteger, de acordo com o texto jornalstico. Uma segunda imagem mostra o
ptio da empresa e em sua cerca uma faixa de protesto. Na parte interna do jornal, a
matria ocupa as pginas 6 e 7. Nela aponta-se um pouco para os protestos dos
trabalhadores e para uma reunio deles com seu advogado, a fim de entrarem na justia
para receber o que lhes cabe por direito. Nesse momento, a tenso envolvendo tais
trabalhadores os torna visvel no cenrio pblico, ocupado por eles, por meio de tais
manifestaes. Com relao s condies de trabalho enfrentadas pelos empregados da
empresa, o jornal posiciona-se da seguinte maneira:
Salrio de empregadas domsticas
Apesar de todo o processo de treinamento das costureiras feito com recursos do
municpio, quando so contratadas por esses empresrios, tem que cumprir
uma jornada de trabalho exaustiva e sem muitas regalias, mas recebem um salrio
incompatvel com o desempenho e responsabilidade da funo, salrio esse que
varia de 250 a 270 reais mensais, basicamente o salrio de uma empregada
domstica, com o agravante de que muitas vezes, como aconteceu com a MRG, os
salrios e demais direitos trabalhistas tais como: frias, 13 e FGTS no so
pagos.
115
Como se pode observar, a mesma preocupao para com as costureiras, nesse caso,
no expressa para com as empregadas domsticas. Sua baixa remunerao serve apenas
como fator comparativo, no sendo questionada. Apesar disso, creio que essa forma de
abordar os trabalhadores locais tambm tem uma outra intencionalidade. Busca-se instituir,
ao meu ver, uma noo de vnculo orgnico entre poder pblico municipal, empresrios e
trabalhadores. O problema teria origem no incentivo, via recursos municipais, de
empresrios de fora, sendo a soluo o direcionamento de tais incentivos para
empresrios j instalados em Santa Helena, principalmente de outros setores industriais.
115
Idem. Ibidem. Grifado no original.
90
como se essa reorientao de polticas pblicas automaticamente resultasse em melhorias
nas condies financeiras e de labor para os trabalhadores locais, silenciando-se, assim,
sobre os embates e interesses divergentes existentes entre patres e empregados. Portanto,
o recurso a tal memria ancora no apenas o projeto de municpio que est sendo
esboado, mas tambm integra os esforos para angariar apoio popular, ou seja, da classe
trabalhadora para ele.
A imprensa local, possvel notar, tambm atua como lugar de memria,
instituindo e relacionando-se com verses do passado. Ela tambm se faz presente nos
debates sobre o rememorar de um dos marcos de memria local: a construo da usina
hidroeltrica de Itaipu.
Em muitos momentos se estabelece uma relao complexa com as lembranas desse
momento. Durante esse processo ocorreu a sada de grande parte da populao do
municpio em um curto perodo de tempo.
116
Em sua maioria eram agricultores que tiveram
suas propriedades desapropriadas, portanto, pessoas que compunham um segmento vital
para a economia local. Tal fato chegou a afetar parte dessa elite municipal, uma vez que
alguns de seus membros tambm se encontravam entre os agricultores desapropriados e,
em certos casos, chegaram a deixar Santa Helena. Mesmo entre muitos de seus
116
De acordo com dados do IPARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econmico e Social, o
Municpio de Santa Helena possua em 1970 um total de 26.834 habitantes; em 1980 esse nmero seria
34.884; e, em 1990, corresponderia a 19.252. Toma como fonte para os anos de 1970 e 1980 dados do
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica) enquanto que para 1990 os dados so seus. In:
IPARDES Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econmico e Social. Caderno Estatstico
Municpio de Santa Helena. Curtitiba, 1998. p. 8. De acordo com Paludo, em sesso realizada no dia 03
de dezembro de 1979, vereadores do municpio contestavam os nmeros divulgados pelo IBGE.
Apontavam a soma de 66 mil habitantes para o ano de 1975 e duvidavam na queda brusca para, segundo
eles, 38 mil, no ano de 1979. Apontava-se o nmero de 46 mil pessoas, levantados h pouco tempo por
meio de vacinao promovida pela SUCAM (Superintendncia de Campanha de Sade Pblica, rgo
subordinado ao Ministrio da Sade, atualmente chamada de FUNASA Fundao Nacional de Sade).
Os vereadores levantavam suspeitas sobre se esse suposto erro no seria propositado, uma vez que o
Fundo de Participao dos Municpios, correspondentes a recursos provenientes do governo federal
repassados aos municpios, era calculado sobre a quantidade de habitantes oficialmente reconhecidos. Em
depoimento coletado pelo autor com um dos militantes polticos locais, o nmero de 60.000 habitantes foi
reafirmado. In: PALUDO. op. cit. pp. 50-51. De uma maneira geral, corrente a afirmao de que Santa
Helena teria essa quantia aproximada de moradores, na dcada de 70. Tal informao tambm
apresentada por Prediger, em seu trabalho. In: PREDIGER. op. cit. p. 8. Independentemente de
corresponderem ou no a tal quadro, sua meno no perodo mais recente parece fazer parte da
divulgao dos impactos negativos de Itaipu sobre o municpio. Ainda com relao a essa polmica,
Carniel adiciona outras importantes informaes. Alm dos dados j apresentados sobre 1970 e 1980, ela
indicada, com base em levantamento do IBGE, uma populao de 750 habitantes em 1960, para Santa
Helena. Isso representaria, quando comparado com os 26.834 habitantes indicados pelo IBGE para 1970,
um crescimento populacional de 3.492,9 %. Com base no registro civil e outras fontes, as quais no
indica, aponta uma populao de 66.000 habitantes em 1979. A reduo populacional ocorrida na dcada
de 1980, segundo a autora, teria duas origens: a primeira seria o processo de desapropriaes promovido
para a construo de Itaipu, concludo em 1982; a segunda, refere-se criao do Municpio de So Jos
das Palmeiras, em 1985, at ento distrito de Santa Helena. Com isso, teria ocorrido uma reduo de
9.651 habitantes, totalizando 40% da populao total do municpio. In:. CARNIEL. op. cit. pp. 55-6.
91
componentes que atuavam como comerciantes na sede municipal e que no foram
desapropriados, o impacto dessas transformaes acabou tornando-se negativo por
prejudicar seus negcios, principalmente, com a diminuio do mercado consumidor e com
o perodo de crise que se seguiu.
117
A amplitude dos impactos negativos de Itaipu sobre diferentes segmentos da
sociedade local, em um perodo ainda muito recente (dcada de 80), parece impor uma
certa dificuldade para que seja construdo um esquecimento sobre esse momento. Parte da
magnitude do evento para o municpio pode ser observado ao se compararem os mapas,
Anexo III Mapa do Municpio de Santa Helena em 1980 (antes do alagamento para a
formao do reservatrio de Itaipu e da emancipao do Distrito de So Jos), na pgina
272, e Anexo IV Mapa do Municpio de Santa Helena aps o alagamento para a
formao do reservatrio de Itaipu e da emancipao do Distrito de So Jos, na pgina
273.
Uma faixa significativa do territrio municipal foi alagada, sendo Santa Helena o
municpio mais atingido pelas guas do reservatrio. Existe ainda sobre o local toda uma
carga simblica, uma vez que foi palco de vrios atos pblicos, organizados pelo
Movimento Paz e Terra, em defesa dos direitos dos desapropriados de Itaipu.
118
Apesar disso, tentativas de lembrar-se desse momento como algo positivo parecem
existir, em uma disputa com as demais memrias desse evento. Como destaquei antes, Ney
Braga, no ano de 1988,
119
em nome da Itaipu Binacional, admitia que tal obra havia trazido
uma srie de transformaes scio-econmicas para a regio, mas, afirmava que tal
empresa havia sido responsvel pelo desenvolvimento local. No Hino municipal de Santa
Helena, os problemas advindos com Itaipu aparecem como algo superado, a partir do
trabalho da sociedade santaelenense, que teria restabelecido o desenvolvimento local.
Elementos semelhantes parecem constar no Jornal Costa Oeste, em seu encarte
comemorativo aos 33 anos de emancipao de Santa Helena. O jornal tenta traar uma
histria do municpio, a partir de alguns pontos de referncia e instituies, tais como: a
117
Paludo cita, em seu trabalho, a Ata da sesso realizada no dia 21 jul. 1980 (n. 551), em que vereadores
de Santa Helena, independetemente de partido (ARENA e MDB), aprovaram a aceitao de um convite
para uma sesso conjunta com os poderes legislativos dos demais municpio com reas desapropriadas,
manifestando aprovao s mobilizaes dos agricultores desapropriados, na poca auxiliados
principalmente pela CPT (Comisso Pastoral da Terra). Na discusso, destacou-se o baixo preo pago
pelas terras desapropriadas, bem como o fato de comrcio local sofrer prejuzos com a sada dos
agricultores. PALUDO. op. cit. pp. 65-6.
118
Tais questes sero melhor abordadas, bem como esse movimento ser caraceterizado de maneira mais
precisa ainda nesse trabalho, no Captulo III, pp. 218-24.
119
BRAGA. op. cit. p. 17.
92
praia artificial; a construo da ponte sobre o Rio So Francisco Falso que liga a sede
municipal ao Distrito de Sub-Sede So Francisco; a constituio da ACISA (Associao
Comercial, Industrial e Agrcola de Santa Helena); dentre outros. Sobre a praia artificial,
mais recentemente denominada de Balenrio de Santa Helena, o jornal destaca:
Turismo: tudo comeou em 1980
Estamos no inverno de 1980, mas apesar da estao o clima quente em Santa
Helena. Num ponto da Avenida Brasil, em frente ao escritrio da Itaipu
Binacional, milhares de agricultores e trabalhadores rurais se rebelam contra os
procedimentos adotados na desapropriao das terras que iriam formar o
reservatrio da hidreltrica. O movimento ecumnico. Os agricultores reclamam
a baixa indenizao que o governo paga pelas terras produtivas.
Porm, o acordo binacional que determinou a construo da maior hidreltrica do
mundo j estava assinado e referendado entre as autoridades do Brasil e do
Paraguai. No havia motivos, nem meios, para voltar atrs.
O que ningum imaginou, quela poca, que Santa Helena e mesmo os outros
municpios da fronteira teriam um futuro to promissor, passariam por uma
reviravolta to grande capaz at de mudar o perfil da regio. Discusses parte
sobre a problemtica das polmicas indenizaes, o certo que ningum pensou
no futuro. Alis, ningum vrgula. Em Santa Helena, algum pensou.
120
A matria segue exaltando o gesto do prefeito da poca, que teria atuado na
viabilizao da construo da praia artificial, mesmo antes do lago ser formado. Isso teria
sido possvel graas aos clculos de engenheiros, tendo ele enfrentado aquilo que seria o
ceticismo de muitos.
121
A matria tambm segue enfatizando a grandiosidade dessa obra:
Com o passar dos anos o empreendimento foi recebendo contribuies de arquitetos e
engenheiros e hoje o maior espao de lazer da Costa Oeste, agora sob um novo nome
que reveste bem sua importncia: Balnerio de Santa Helena.
122
Compondo o avano do projeto de desenvolvimento local, com nfase no turismo,
nas dcadas de 90 e 2000, parece-me que comeou a ser construdo um esquecimento ou
ao menos uma minimizao das lutas dos expropriados de Itaipu. Talvez no tenha sido
essa a inteno de quem escreveu esse artigo jornalstico, que, ao que me parece, tinha
como objetivo maior tematizar a implementao do turismo em Santa Helena. Ao realizar
essa tarefa, retratando a construo da praia artificial, o autor provavelmente no quis (ou
no pde) ignorar as tenses envolvendo a formao do lago.
Pela forma com que o artigo foi escrito, todavia, acaba por dar a entender que as
reivindicaes dos expropriados seriam questes menores, a ser deixadas de lado,
120
TURISMO: TUDO comeou em 1980. In: (Jornal Costa Oeste) Caderno especial em comemorao ao
35 aniversrio do municpio de Santa Helena, Santa Helena/PR, p. 3, maio de 2002. p. 3.
121
Idem. Ibidem.
122
Idem. Ibidem.
93
enquanto que o projeto que resultou em Itaipu, na forma como foi construda, acaba sendo
tratado como nico e inevitvel. A luta dessas pessoas acaba por parecer anti-lgica, pois
no haviam motivos, nem meios de voltar atrs. Dessa forma, pode-se cair na armadilha
de ressignificar tal momento como algo puramente positivo, pois teria aberto inmeras
possibilidades para o desenvolvimento do turismo e, conseqentemente, do municpio.
Mesmo sem intencionalidade aparente, tais elementos esto presentes na sociedade
local e assumem a forma de tenses. Parte delas (as tenses) seriam os questionamentos
sobre as formas como os royalties de Itaipu so distribudos, inclusive a excluso dos
expropriados de sua participao.
123
Construir uma espcie de silncio sobre essa
questo, ou mesmo pormenorizar as lutas do passado, poderia acabar resultando em uma
tentativa de negao, no presente, da afirmao desses sujeitos e de suas lutas, inclusive
aquelas com o objetivo de ter sua condio de expropriado reconhecida socialmente.
Nesse sentido, existe uma postura poltica de enfrentamento por parte de muitos dos
trabalhos acadmicos que tematizam o movimento dos expropriados e as mazelas
provocadas pela Itaipu. Vale a pena lembrar, todavia, que preciso tomar cuidado para no
se homogeneizar esse processo, bem como para no se realizar meramente crticas
autorizadas.
Itaipu tambm aparece como um marco, na Revista Regio, em sua edio de n. 5,
referente a abril de 2000. Esse veculo de comunicao divulgou uma matria sobre os
pescadores profissionais de Santa Helena, categoria que, por sinal, costuma ganhar
visibilidade na imprensa regional, em parte por estar organizada em associaes e
colnias de pescadores. O texto da revista ocupa todas as pginas 22 e 23 daquela
edio, apresentando um pouco da vida desses trabalhadores:
Contra a mar: Pescadores profissionais de Santa Helena lutam contra
adversidades e propem mudanas
Com o surgimento do Lago de Itaipu, represado em 1982, originou-se uma nova
classe de trabalhadores nos municpios lindeiros ao reservatrio: os pescadores
profissionais. Antes do alagamento, o nmero de pescadores que atuava no Rio
Paran era nfimo. Hoje, mais de 1.300 famlias tem sua renda ligada atividade.
A grande maioria desses trabalhadores eram arrendatrios, meeiros e bias-frias,
que viram as terras nas quais trabalhavam submergirem. A pesca ento se
apresentou como a primeira opo e muitos, aps 18 anos, continuam dependendo
dela para seu sustento.
.....................................................................................................................................
Diferente da pesca como lazer ou esporte, o cotidiano dos pescadores insalubre
e mal remunerado. Submetidos ao sol, chuva, ao frio, ao relento da noite, sem
contar ao eminente perigo das tempestades, os pescadores so vtimas de
123
Prediger levanta alguns desses questionamentos. In: PREDIGER. op. cit. p. 23.
94
reumatismos, doenas pulmonares e envelhecimento precoce. Todo esse sacrifcio
no rende lucro superiores a 2 salrios mnimos por ms para mais de 90% dos
profissionais, garante o presidente da Associao Real de Pescadores de Santa
Helena, Arnoldo Pletsch.
124
Aqui, novamente recorre-se a um dos marcos de memria regional a fim de explicar
as transformaes ocorridas na sociedade local. Importante salientar, ento, que, apesar da
ateno conferida a essa categoria profissional, a revista acaba resumindo sua experincia a
mero produto da construo do reservatrio de Itaipu.
Alm disso, incorpora, ainda, o discurso do presidente de uma das entidades que
rene pescadores de Santa Helena. Tal narrativa, como qualquer outra, produzida a partir
de um lugar social e com determinadas intenes. Disso resulta uma espcie de vitimizao
desses sujeitos, reduzindo suas vidas s dificuldades encontradas em seu trabalho.
Os pescadores profissionais, no entanto, so reconhecidos como sujeitos,
principalmente a partir das propostas de implementao de certas polticas de apoio e de
interferncia nas leis que regram o desempenho de sua profisso. Esse carter, porm, fica
restrito atuao da associao dos pescadores. Alm do presidente da entidade, confere-
se destaque, na matria, a outro pescador em uma das fotografias. A partir de sua trajetria
profissional, o texto da legenda reafirma aquele olhar vitimizador. A matria confere
nfase, ainda, pesquisa que vinha sendo realizada, na rea de histria, por Jones Jorge
Machado, que resultou em seu trabalho de concluso de curso de graduao em histria, no
ano de 2002.
Ao que me parece, a prpria visibilidade, conferida pela esfera pblica, aos
trabalhadores locais, ocorre de maneira complexa. Isso perceptvel quando se trata da
categoria profissional dos pescadores. Silenciar sobre ela torna-se complicado, pois tal
intento seria limitado pelos esforos desses sujeitos afirmarem constantemente sua
presena no mbito pblico, sendo essa uma preocupao de suas organizaes
institucionais.
125
Em certos momentos, entretanto, possvel observar um processo que os coloca em
segundo plano no espao pblico. Isso pode ser constatado com o monumento localizado
no centro da sede municipal, no cruzamento das avenidas Brasil e Curitiba, prximo s
Praas Antnio Thom e Orlando Weber, doado pelo Lions Club local. Atualmente
124
CONTRA A MAR: pescadores profissionais de Santa Helena lutam contra adversidades e propem
mudanas. Revista Regio, Marechal Cndido Rondon/PR, ano 1, n. 05, pp. 22-3, abril de 2000.
Reportagem. p. 22.
125
Existem, em Santa Helena, duas colnias de pescadores: a Colnia Z-20 e a Colnia Nossa Senhora
dos Navegantes.
95
no possui placa comemorativa, mas pelo que me consta deve ter sido construdo na
dcada de 1980. A obra, popularmente conhecida como barquinho, era maior no
passado.
Sua base circular representava as guas, possivelmente do lago, enquanto que dentro
do barco ficava um pescador, retirando um peixe de dentro das guas. Tal imagem foi
totalmente destruda, o que tambm pode representar que tais sentidos, bem como os
valores da instituio e entre eles a prtica de construir monumentos no so
compartilhados por todos os integrantes dessa sociedade, de maneira semelhante ao
sucedido com a esttua do colono.
Monumento ao Pescador, popular Barquinho. Localizado no cruzamento das avenidas Brasil e
Curitiba, ponto central da sede do municpio, visto da Praa Antnio Thom. Alm dessa praa, nas
proximidades localizam-se a Praa Orlando Weber e diversos rgos pblicos, como a Inspetoria
da Receita Federal (ao fundo, no plano posterior da fotografia), o Pao Municipal e o Frum da
Comarca de Santa Helena. Fotografia tirada pelo autor em 29/05/2005, tarde.
Recentemente, no entanto, houve uma preocupao de restaurar o monumento, por
parte da prefeitura municipal, realizando-se uma nova pintura. O pescador, entretanto, no
foi reconstrudo, mantendo-se somente o barquinho. No painel histrico, todavia,
existem referncias a pescadores, embora no seja possvel fazer uma leitura sobre qual
tipo de pesca que est sendo retratada (profissional ou esportiva).
A implementao do turismo, em termos regionais, pode ter colaborado para tal
processo. A partir do desenvolvimento turstico, o pescador profissional passou a ser visto
96
em certos meios como um problema. Enquanto a pesca esportiva incentivada, existem
projetos de tornar os pescadores profissionais em guias tursticos. A preservao to
somente do barco, pode, assim, estar evocando o turismo, enquanto que a no-restaurao
do pescador atua no sentido de retir-lo da posio central que ocupava, pois, at ento
representava, por meio de seu trabalho, o prprio municpio no monumento.
Com relao imprensa e o fotojornalismo
126
local e regional, a prpria forma como
aborda a atuao dos trabalhadores tambm parece corroborar para essa maneira
problemtica de conferir visibilidade, na esfera pblica, a tais sujeitos. Isso pode estar
relacionado com a quase circunscrio desses meios de comunicao em trabalhar
iniciativas elaboradas pelos poderes pblicos e, em menor grau, de instituies, o que
nubla a visibilidade de setores da sociedade no organizados nesses termos. Por outro lado,
a recorrncia e o debate em tornos dos marcos de memria local, nesse circuito, tambm
parece despotencializ-los enquanto sujeitos histricos, como o caso da matria anterior,
sobre os pescadores profissionais.
Nesse sentido, aquele olhar vitimizador, lanado pela Revista Regio sobre a vida dos
pescadores profissionais, tambm encontrado em outros textos publicados pela revista.
127
A edio n. 23, de outubro de 2001, destacava em sua capa uma matria sobre os
trabalhadores rurais diaristas, conhecidos regionalmente por bias-frias.
126
Cesconeto, em seu estudo sobre os catadores de lixo da cidade de Toledo (PR), aponta que a abordagem
da imprensa, sobre as pessoas pobres, cercada de silncios e de enfoques que priorizam as realizaes
do poder pblico e de membros da elite local, para com a pobreza. In: CESCONETO. op. cit. p. 3.
127
Parece-me que um pouco disso pode ser encontrado em: CHIARARDIA, Ronildo. Saga I O
agricultor. Revista Regio, Marechal Cndido Rondon/PR, ano 2, n. 21, p. 22, agosto de 2001. Ensaio;
e, ___________. Saga II O catador de papel. Revista Regio, Marechal Cndido Rondon/PR, ano 2,
n. 22, p. 12, setembro de 2001. Ensaio. Nesse caso, est relacionada aos projetos que o autor defende por
meio de suas crnicas, como a reforma agrria.
97
Revista Regio, n 23, ano II, capa, outubro de 2001.
A fotografia, que ocupa toda a capa, parece ter a pretenso de causar impacto. Em
preto-e-branco, trazendo um ambiente escuro ao fundo, d um tom enigmtico imagem.
Colocando a famlia de trabalhadores pobres em primeiro plano, reafirma sua preocupao
com essas pessoas. Mais do que isso, ao ocultar os olhos dos figurantes e portanto,
98
impossibilitando sua identificao os torna exemplos de tal realidade. So, portanto,
membros de uma famlia de bias-frias e no apenas essa ou aquela pessoa em especfico.
A prpria ambincia da fotografia corrobora com um olhar condescendente para com esses
sujeitos. Conforme aponta o enunciado, sua vida retratada enquanto opresso social e luta
para to somente sobreviver.
Intitulada Um grave problema social, a reportagem ocupa quatro pginas da
revista. Assinada por Gisele Rosso, que tambm produziu as fotografias, discute os
problemas vividos por trabalhadores do Municpio de Ouro Verde do Oeste, localizado
prximo a Toledo, no Oeste do Paran, como pode ser visto no Anexo II Mapa da
Mesorregio Oeste do Paran, na pgina 271. Nessa reportagem, possvel notar que sua
abrangncia no se limita aos bias-frias, mas vida de trabalhadores pobres desse
municpio. A jornalista tambm aborda algumas iniciativas do poder pblico e instituies
de caridade locais, com relao pobreza, que, por sinal, muito evidente nesse local,
sendo considerada, inclusive, como uma das caractersticas do municpio, no podendo ser
silenciada facilmente.
Entre as temticas abordadas esto a conquista dos poucos empregos regulares no
prprio municpio ou em cidades vizinhas, a busca por trabalhos rurais temporrios em
outros estados e o improviso da sobrevivncia de outras maneiras, como no trabalho de
coletar produtos reciclveis. Rosso trabalha, tambm, com as narrativas desses diferentes
sujeitos, inclusive dos trabalhadores.
Porm, a vitimizao desses trabalhadores e o olhar que projeta sobre certos hbitos
de algumas dessas pessoas conformam o enredo da reportagem. Como o prprio ttulo
sugere, trata-se de um estudo sobre um grave problema social. Isso fica presente quando
a jornalista trata da moradia:
Moradia
Uma boa parte da populao vive em casas populares. No municpio, existem trs
mutires e uma Vila Rural.
128
Mesmo assim, h casas em situaes precrias, no
chegam a ser barracos, mas as condies so bastante propcias propagao de
doenas. De acordo com o prefeito Carlos Franco de Souza, a administrao est
tentando resolver o problema dessas pessoas. H um pedido junto a Cohapar para
a construo de mais um conjunto habitacional.
128
As Vilas Rurais foram construdas pelo governo do estado, durante a gesto de Jaime Lerner (1997-
2004), eleito pelo PDT (Partido Democrtico Trabalhista), mas posteriormente filiado ao PFL. O projeto
consistia em instalar alguns conjuntos em reas rurais, muitas vezes prximos sedes de distritos ou
linhas, em que trabalhadores rurais pudessem ter um terreno com uma casa e rea para a produo
domstica de hortifrutigrangeiros. O objetivo seria, assim, proporcionar condies para permanncia
desses trabalhadores no campo.
99
.....................................................................................................................................
Com trs filhos e cuidando de dois sobrinhos, [nome de uma mulher omitido pelo
autor], 29 anos, mora com o marido e as cinco crianas em uma casa de cho
batido de um cmodo, dividido em dois por uma cristaleira. Famlia de bia-fria,
no momento, o marido est trabalhando temporariamente. At dezembro, o salrio
de R$ 200,00 est garantido, depois, segundo ele, s Deus sabe. O salrio
divido em duas partes: R$ 100,00 para a comida e R$ 100,00 para compra de
materiais de construo para realizar o sonho de uma casa melhor. (...) A
precariedade do mesmo tamanho da solidariedade. Os sobrinhos foram trazidos
por [mesmo nome omitido pelo autor], j que o pai est envolvido em ilicitudes e a
irm tem problemas de sade. Se Deus quiser eles ficam aqui para sempre e,
ainda, trago minha irm, fala.
O casal dorme acompanhado de duas crianas e as outras trs dormem no cho
batido. Moscas no local do a amplitude da precariedade que vive a famlia
Santos e s doenas que as crianas esto expostas. As necessidades orgnicas, j
que no h banheiro, nem patente, so feitas prximas da moradia.
129
Tais hbitos so tratados como carncia, enquanto que as narrativas dos
trabalhadores so buscadas dentro da inteno de se demonstrar sua situao de pobreza.
a partir dessa condio social que a prpria vida desses sujeitos emerge no texto.
A reportagem acaba por estabelecer, tambm, um vnculo entre poder pblico e essas
pessoas, apontando-se a necessidade de assistncia social. Sobre isso, ressalta o empenho
das entidades do gnero existentes no municpio, em tentar minimizar tais problemas.
Ressalta, contudo, que as medidas do poder pblico municipal so limitadas pela baixa
arrecadao do municpio.
Mesmo a pobreza, aqui, tratada como um problema localizado quase
exclusivamente no Municpio de Ouro Verde do Oeste. No se leva em considerao o
crescimento da misria, ocorrido nas ltimas dcadas em termos de Brasil e que o Oeste do
Paran, de uma maneira geral, no se configura em uma exceo a esse quadro. Apesar de
ser compreendido dessa maneira, o problema reconhecido, porm, no da maneira como
existe, pois no considerado como algo vivido pelos trabalhadores, que eles tratam em
suas conscincias e sobre o qual atuam, de acordo com suas possibilidades e interesses
prprios. compreendido como algo a ser gerido pela administrao municipal e entidades
de assistncia social, despontencializando os bias-frias, como sujeitos.
Como possvel perceber, em muitos meios instituintes de memria, no apenas do
Municpio de Santa Helena, mas tambm da regio de uma maneira geral, a vida de
trabalhadores, ao ser retratada, apresentada como produto de estruturas scio-
econmicas. No raro, suas experincias e expectativas diversas e muitas vezes
129
ROSSO, Gisele. Um grave problema social. In: Revista Regio, Marechal Cndido Rondon, ano 2, n.
23, pp. 18-21, outubro de 2001. Reportagem.
100
conflitantes, so homogeneizadas e enquadradas em determinados marcos de memria ou
mesmo sua existncia atrelada s relaes estabelecidas com os poderes pblicos e
demais instituies de assistncia social.
Percebo, contudo, um significativo movimento de transformao ocorrido nessa
memria pblica, expressa por meio dessas diferentes linguagens. A construo de uma
espcie de papel secundrio, conferido aos trabalhadores, manifesto tambm na prpria
ateno menor conferida a Praa do Colono e sua esttua, bem como ao monumento ao
pescador, no est relacionada apenas desvalorizao de determinadas categorias
profissionais, em detrimento de outras ou de outros segmentos da sociedade local. Trata-se,
ao meu ver, de um progressivo afastamento de temas relacionados ao trabalho, desses
locais de memria, e da prpria forma como a imagem do trabalhador foi sendo constituda
e transformada nesse lugar.
possvel notar esse movimento ao observar-se a recorrncia a temas relacionados
com o trabalho, presentes principalmente nos lugares de memria construdos
principalmente nas dcadas de 1970 e 1980, e no hino municipal, institudo em 1991. No
monumento situado na Praa Antnio Thom, de 1973, existiam referncias ao
pioneirismo, mas associado idia de labor, em um momento que se operavam
transformaes nas formas de trabalho rural, com a mecanizao da agricultura. A obra
em homenagem ao pescador e a Praa do Colono, termo que tambm sinnimo de
agricultor como frisei anteriormente edificados na dcada de 1980, reafirmam essa
valorizao do trabalho.
Assim como a praa, a Esttua do Colono, inaugurada em 1985, tem toda uma
carga simblica por reafirmar a crena no trabalho em um momento de crise nacional,
localmente agravada pelos impactos negativos da construo de Itaipu. Esse tambm era
um momento de crise da agricultura local, que no mais contava com os grandes subsdios
implementados pelo regime militar no intuito de mecanizar a agricultura do Oeste do
Paran. Nesse sentido, lembrar do colono implica em toda uma gama de significados que
reafirmam a valorizao simblica do trabalho agrcola, em contrapartida s frustraes
financeiras enfrentadas pelo setor.
No decorrer da dcada de 1990 e 2000, ao meu ver, ocorreu, em Santa Helena, uma
reelaborao das verses do passado que passaram a ser privilegiadas a partir de ento.
Ampliou-se, nesse sentido, os espaos dedicados diretamente homenagem de
pioneiros, transformando tais memrias ao inserir outros sujeitos que at ento no
estavam envolvidos nessa alcunha.
101
Mesmo mantendo elementos correntes at ento, como as referncias ao pioneirismo,
junto dessas transformaes passou-se a valorizar uma noo abstrata de
desenvolvimento. Os lugares de memria, ento, no mais associaram to diretamente,
sua imagem ao trabalho.
O pioneiro, dessa forma, passou a ser tratado como desbravador, personagem
fundador da sociedade local, cujos atos seriam dignos de homenagens, contudo, tendo sua
imagem mais associada idia de desenvolvimento que ao labor. Eles teriam sido os
iniciadores da construo do progresso contnuo de Santa Helena, fazendo-se referncia,
agora, crena no desenvolvimento. Reafirma-se, ento, por meio dessas memrias, o
projeto que estava sendo colocado em prtica, tendo com base o ideal de um municpio
rico e em contnuo desenvolvimento, possuindo um futuro promissor em virtude de sua
riqueza do presente.
Entre esses projetos desenvolvidos pelo poder pblico local, o mais notvel foi o de
implementao do turismo em Santa Helena. A fim de projetar o municpio enquanto plo
turstico, o governo municipal acabou por introduzir novas concepes de esttica e de
patrimnio pblico. Sob o argumento de construir-se uma sede municipal (e mesmo um
municpio) bonita, agradvel principalmente a visitantes e investidores, prdios e locais
pblicos foram reformados, enquanto novas edificaes e fachadas foram construdas.
130
Esse movimento, apesar ter sido iniciado j na dcada de 1980 e de ser a tnica de
todas as dcadas de 1990 e 2000, foi intensificado a partir dos ltimos dez anos pelo poder
pblico municipal. Acompanhando esse processo, houve uma ressignificao dos lugares
de memria do municpio. Monumentos passaram a ser construdos, reformulados ou
mesmo divulgados sob o argumento de servirem de atraes tursticas, no existindo mais
apenas em funo de expressar certas memrias e possurem certos significados, mesmo
que no fossem compartilhados por todos.
Embora no fosse o nico, a implementao do turismo era apresentada como o
maior dos projetos dos grupos articulados em torno da prefeitura municipal, principalmente
no perodo entre 1996 e 2004.
131
Outros projetos tambm eram elaborados pela parcela
dessa elite que se apresentava como oposio administrao municipal, embora essas
130
Lembro-me que essa preocupao tambm fazia parte dos projetos do governo estadual que, tambm
durante o mandato de Jaime Lerner, lanou o programa Paran Urbano, que tinha como parte de seus
interesses a reforma de locais pblicos, como praas.
131
Diversos outros projetos eram implementados pela prefeitura municipal, como o incentivo instalao de
empresas do ramo de faco de costura, agricultura, dentre outros setores. Todavia, foi o projeto
turstico que mais implicou em argumentos em prol de transformaes nos espaos pblicos municipais.
102
fronteiras poltico-partidrias sejam bastante solveis no municpio. Esboavam, assim,
planos que visavam o incentivo dos industriais locais, principalmente os do setor
metalrgico e moveleiro.
Os trabalhadores, nesse sentido, aparecem nos materiais produzidos por esses grupos
a partir da perspectiva e dos projetos criados por tais elites. Sendo assim, sua existncia
atrelada necessidade de assistncia ou a um vnculo com outros agentes sociais, como o
poder pblico e o empresariado. Existe uma tentativa, por parte dessas camadas
dominantes, de incorporarem a seus projetos os trabalhadores e suas possveis
expectativas, com o objetivo de angariar apoio popular e de tutelar a ao poltica desses
sujeitos.
Essa espcie de elite local planejava, ento, formas de como utilizar os royalties
pagos por Itaipu, a grande riqueza do municpio a partir da dcada de 1990 que, no entanto,
tem seu centro de decises concentrado na prefeitura municipal. Suas preocupaes
diferem, ento, da dcada de 1980, quando se pensava nos prejuzos que a sada dos
agricultores expropriados causaria ao comrcio local. Trata-se, novamente, no de pensar
propriamente o trabalho, o que realizar ou fazer, mas de reivindicar a riqueza local para
utilizao em determinados fins.
Considero, apesar disso, que o mais importante nesses projetos a forma como a
memria utilizada para lhes dar sustentao, interpelando-os em um mesmo movimento
em que vo sendo constitudas e significadas. Esse carter muito visvel no apelo a
determinados eventos e marcos cristalizados da memria local, realizado quando do
fomento ao turismo, a partir da edificao de certos monumentos e obras. Contudo, a
memria principalmente do pioneirismo tambm serve como forma de sustentao aos
projetos dos grupos opositores da ento administrao municipal. Classificar a populao
e, especialmente, membros do empresariado enquanto pioneiro ou de fora, constitui-se
em um instrumento poltico empregado na viabilizao de suas propostas.
Revela-se, dessa forma uma histria linear que tem como base projetos vencedores,
em especial a colonizao, mas tambm a mecanizao da agricultura e a construo
de Itaipu, apesar dos dois ltimos serem lembrados de maneira mais tensa a usina, em
especial e menos consensual. Tratam-se de processos sociais que ocorreram em toda a
regio e que, transformados em marcos histricos locais, ligam e interrelacionam as
memrias pblicas de Santa Helena com aquelas do Oeste do Paran, de uma maneira
geral.
103
Nesse movimento contnuo, de instituio e reelaborao de memrias, percebo,
ainda, a existncia de tentativas de homogeneizar-se o processo histrico local, a partir do
silenciamento de tenses e posies divergentes. Assim, o carter conflituoso da formao
dessa sociedade d espao a uma histria linear, freqentemente harmoniosa e comum a
todos. Constituiu-se, tambm, na produo de uma espcie de invisibilidade de certos
eventos e sujeitos, no interessantes para aqueles projetos. Almeja, assim, tornar-se
hegemnica, seno nica, naquela sociedade.
Apesar desse intento, tais memrias se refazem no popular. Entre os trabalhadores,
sujeitos da sociedade estudada e da presente pesquisa, tais construes so reelaboradas
pelas pessoas, em uma relao com essas verses dominantes, sem com isso
necessariamente constiturem-se em um bloco homogneo, lhes fazendo oposio.
Essas vises do passado, produzidas na esfera pblica local, no do conta de toda a
dinmica em que est inserida a disputa pelas muitas memrias existentes nessa e sobre
essa sociedade. Sendo assim, surge a necessidade de se estudar essas muitas memrias
para ento ser possvel produzir outras histrias.
No intuito de realizar tal tarefa, no prximo captulo, trabalharei um pouco dessas
muitas memrias, tomando como base narrativas de trabalhadores do Municpio de Santa
Helena. Tal recurso, alm de possibilitar o acesso aos processos de viso comumente
relegados ao silncio, pela esfera pblica local, constitui-se, tambm, como um meio
possvel e privilegiado para ter-se acesso s muitas verses em disputa pelo passado do
municpio e da regio. A partir dos depoimentos orais, portanto, torna-se possvel captar o
intercruzamento dessas diferentes memrias, em sua dimenso tensa, e as maneiras como
elas so formuladas e significadas pelas pessoas, a partir de suas prprias referncias
sociais.
Você também pode gostar
- Visita Tecnica ItaipuDocumento4 páginasVisita Tecnica ItaipuRamon PalopoliAinda não há avaliações
- Artigo - Padrões Brasileiros Da - Eletricidade - Livia Cunha - 2010Documento8 páginasArtigo - Padrões Brasileiros Da - Eletricidade - Livia Cunha - 2010Julia-e Regina-e AlexandreAinda não há avaliações
- Prova 3 EtapaDocumento23 páginasProva 3 EtapaBrenna Figueiredo SantosAinda não há avaliações
- Livro Ava-GuaraniDocumento189 páginasLivro Ava-GuaranisheilleAinda não há avaliações
- Atlas Do Desterro Ocoy JakutingaDocumento103 páginasAtlas Do Desterro Ocoy JakutingaSel GuanaesAinda não há avaliações
- Relatorio de Biogas e Biometano Do Mercosul 2017Documento60 páginasRelatorio de Biogas e Biometano Do Mercosul 2017abnerAinda não há avaliações
- Agente de Transito PDFDocumento10 páginasAgente de Transito PDFguilherme FerreiraAinda não há avaliações
- Foz PDocumento16 páginasFoz PAna paula CostacurtaAinda não há avaliações
- As Migracoes e Deslocamentos Guarani e A Aldeia de OcoyDocumento14 páginasAs Migracoes e Deslocamentos Guarani e A Aldeia de OcoyLucas Scain BlootAinda não há avaliações
- Introdução A Centrais HidrelétricasDocumento80 páginasIntrodução A Centrais HidrelétricasThalesAinda não há avaliações
- Objetivo Aprendizagem 01Documento32 páginasObjetivo Aprendizagem 01patrick.eletricaAinda não há avaliações
- Ahe Simplício - Queda Única Agosto 2011Documento61 páginasAhe Simplício - Queda Única Agosto 2011felipe_cândidoAinda não há avaliações
- Colonização Ao Longo Da Transamazônica: Trecho KM 930 - 1035Documento8 páginasColonização Ao Longo Da Transamazônica: Trecho KM 930 - 1035Cristiane PaiãoAinda não há avaliações
- 007 - Estruturação Técnico-Participativa para Elaboração de PlanosDocumento15 páginas007 - Estruturação Técnico-Participativa para Elaboração de PlanosKaliane MaiaAinda não há avaliações
- Aula ENEMDocumento7 páginasAula ENEMLuís CastilhoAinda não há avaliações
- Os Problemas Socioambientais Causados Pela Hidrelétrica de ItaipuDocumento11 páginasOs Problemas Socioambientais Causados Pela Hidrelétrica de ItaipuDani ReginaAinda não há avaliações
- Relat+ rio+Acidente+Sayano-Shushenskaya Rev4Documento36 páginasRelat+ rio+Acidente+Sayano-Shushenskaya Rev4gustavo fernandessAinda não há avaliações
- Estudo Do Sistema Elétrico Visando A Qualidade e Gestão de Energia No Campus FacensDocumento129 páginasEstudo Do Sistema Elétrico Visando A Qualidade e Gestão de Energia No Campus FacensJuan MagalhãesAinda não há avaliações
- Curso Subestações MédiaDocumento1.222 páginasCurso Subestações MédiaLuciano waschburgerAinda não há avaliações
- Historia Foz Do IguaçuDocumento4 páginasHistoria Foz Do IguaçuspeqtrosAinda não há avaliações
- Contabilidade Questionário IIDocumento6 páginasContabilidade Questionário IIcarine.exAinda não há avaliações
- Reportagem AmazôniaDocumento4 páginasReportagem AmazôniakellyAinda não há avaliações
- Relatório Visita Técnica A Usina Hidroelétrica de ITAIPUDocumento6 páginasRelatório Visita Técnica A Usina Hidroelétrica de ITAIPUJosé Eduardo Dos SantosAinda não há avaliações
- Atlas Solar Do Estado Do Parana PDFDocumento97 páginasAtlas Solar Do Estado Do Parana PDFPAULO HENRIQUE VOLPATO GARCIAAinda não há avaliações
- Curso Nr10 Basico 40h Top EletricaDocumento261 páginasCurso Nr10 Basico 40h Top EletricaMarcos Santos JorgeAinda não há avaliações
- Livro Sistemas Fotovol Conect A Rede EléDocumento203 páginasLivro Sistemas Fotovol Conect A Rede EléOrci AlbuquerqueAinda não há avaliações
- OBFEP 2019 Nivel B ProvaDocumento6 páginasOBFEP 2019 Nivel B ProvaZe LimaAinda não há avaliações
- AAP - Língua Portuguesa - 7º Ano Do Ensino Fundamental PDFDocumento12 páginasAAP - Língua Portuguesa - 7º Ano Do Ensino Fundamental PDFLuciana ZimaAinda não há avaliações
- 50 Temas para Treinar Na QuarentenaDocumento149 páginas50 Temas para Treinar Na QuarentenaRapha BuenoAinda não há avaliações
- Trabalho 1 - Máquinas de Fluxo e Aproveitamentos HidrelétricosDocumento57 páginasTrabalho 1 - Máquinas de Fluxo e Aproveitamentos HidrelétricosCesar TeixeiraAinda não há avaliações