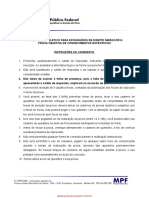Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Como Fazem Leis Pacheco PDF
Como Fazem Leis Pacheco PDF
Enviado por
atividadesmil0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações78 páginasTítulo original
como_fazem_leis_pacheco.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações78 páginasComo Fazem Leis Pacheco PDF
Como Fazem Leis Pacheco PDF
Enviado por
atividadesmilDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 78
Biblioteca Digital da Cmara dos Deputados
Centro de Documentao e Informao
Coordenao de Biblioteca
http://bd.camara.gov.br
"Dissemina os documentos digitais de interesse da atividade legislativa e da sociedade.
COMO SE FAZEM AS LEIS
Luciana Botelho Pacheco
2009
2 edio
Mea da Cmara dos Deputados
53 Legislatura 2 Sesso Legislativa
2009
Presidente MICHEL TEMER
Primeiro-Vice-Presidente MARCO MAIA
Segundo-Vice-Presidente ANTONIO CARLOS MAGALHES NETO
Primeiro-Secretrio RAFAEL GUERRA
Segundo-Secretrio INOCNCIO OLIVEIRA
Terceiro-Secretrio ODAIR CUNHA
Quarto-Secretrio NELSON MARQUEZELLI
Suplentes de Secretrio
Primeiro-Suplente MARCELO ORTIZ
Segundo-Suplente GIOVANNI QUEIROZ
Terceiro-Suplente LEANDRO SAMPAIO
Quarto-Suplente MANOEL JUNIOR
Diretor-Geral SRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA
Secretrio-Geral da Mesa MOZART VIANNA DE PAIVA
Cmara dos Deputados
Como se fazem as leis
Luciana Botelho Pacheco
Centro de Informao e Documentao
Edies Cmara
Braslia | 2009
2 edio
SRIE
Conhecendo o Legislativo
n. 3
Dados Internacionais de Catalogao-na-publicao (CIP)
Coordenao de Biblioteca. Seo de Catalogao.
Pacheco, Luciana Botelho.
Como se fazem as leis / Luciana Botelho Pacheco. 2. ed. Braslia : Cmara dos Deputados,
Edies Cmara, 2009.
79 p. (Srie Conhecendo o Legislativo; n. 3)
ISBN 978-85-736-5539-1
1. Processo legislativo, Brasil. 2. Elaborao legislativa, Brasil. I. Ttulo. II. Srie.
CDU 342.537(81)
ISBN 978-85-736-5539-1 (brochura) ISBN 978-85-736-5497-4 (e-book)
CMARA DOS DEPUTADOS
DIRETORIA LEGISLATIVA
Diretor Afrsio Vieira Lima Filho
CENTRO DE DOCUMENTAO E INFORMAO
Diretor Adolfo C. A. R. Furtado
COORDENAO EDIES CMARA
Diretora Maria Clara Bicudo Cesar
CONSULTORIA LEGISLATIVA
Diretor Ricardo Jos Pereira Rodrigues
Cmara dos Deputados
Centro de Documentao e Informao Cedi
Coordenao Edies Cmara Coedi
Anexo II, Trreo Praa dos Trs Poderes
Braslia (DF) 70160-900
Telefone: (61) 3216-5802; fax: (61) 3216-5810
edicoes.cedi@camara.gov.br
Projeto grfico Renata Homem
Capa e diagramao Renata Homem
Reviso Seo de Reviso e Indexao
2005, 1
a
edio.
Esta obra foi revisada em 2008, antes da vigncia do novo Acordo Ortogrfico.
Sumrio
Apresentao ....................................................................... 9
Captulo I Algumas noes iniciais ................................ 11
1. A pirmide de leis .................................................................. 11
2. O processo legislativo ........................................................... 14
3. Como se organizam os trabalhos legislativos ..................... 17
3.1. As duas Casas do Congresso Nacional ............................. 17
3.2. As duas fases do trabalho legislativo em cada Casa ......... 19
3.3. O encaminhamento de uma Casa outra .......................... 21
3.4. Os rgos de direo dos trabalhos legislativos ................ 22
3.5. Legislaturas, sesses legislativas e sesses ordinrias ..... 24
Captulo II O passo-a-passo do processo legislativo
na Cmara dos Deputados ........................... 27
1. As proposies legislativas ................................................... 27
1.1. As molas propulsoras do processo legislativo ................ 27
1.1.1. Propostas de emenda Constituio (PEC) ............... 28
1.1.2. Projetos ........................................................................ 29
1.2. As demais espcies de proposio legislativa ................... 32
1.2.1. Emendas, pareceres, recursos e alguns tipos
de requerimentos ......................................................... 33
1.2.2. As chamadas indicaes ............................................. 34
1.2.3. Finalmente, as outras espcies de proposio ........... 35
2. O incio do processo: recebimento da proposio
e distribuio s comisses .................................................. 35
2.1. As comisses competentes para se manifestar ................. 36
3. O que ocorre no mbito de cada comisso .......................... 39
3.1. Possibilidade de emendamento .......................................... 39
3.2. O trabalho do relator ........................................................... 40
3.3. Audincias pblicas ............................................................. 42
3.4. Apresentao e discusso do parecer ............................... 42
3.5. Votao ................................................................................ 44
3.5.1. Qurum ........................................................................ 44
3.5.2. Sistemas de votao .................................................... 45
3.5.3. A votao do parecer ................................................... 46
3.6. Providncias decorrentes da aprovao do parecer
da comisso ........................................................................ 48
3.6.1. Proposies sujeitas ao poder conclusivo
das comisses ............................................................. 48
3.6.2. Proposies dependentes da deliberao do Plenrio ....49
4. Em Plenrio ............................................................................ 50
4.1. A discusso ......................................................................... 50
4.1.1. Apresentao de emendas .......................................... 51
4.2. A votao ............................................................................. 51
4.2.1. O ordenamento da votao ......................................... 53
4.2.2. Os requerimentos de destaque ................................... 55
4.3. A redao final ..................................................................... 56
Captulo III Procedimentos especiais de tramitao
de proposies ............................................. 57
1. Propostas de emenda Constituio ................................... 58
2. Projetos de cdigo ................................................................. 60
3. Medidas provisrias ............................................................... 62
4. Proposies em regime de urgncia .................................... 64
Captulo IV A destinao final das proposies ............ 67
1. Proposies aprovadas ......................................................... 67
1.1. Os encaminhamentos entre as Casas ................................ 67
1.2. Encaminhamento para sano ou veto .............................. 68
1.3. Promulgao ....................................................................... 69
Anexo .................................................................................. 71
Fluxograma do trmite de um projeto de lei ............................. 72
Do incio fase das comisses na Cmara dos Deputados ..... 72
Providncias aps a fase das comisses .................................. 74
Em plenrio ................................................................................. 76
Biografia ............................................................................. 79
Apreentao
Entregamos, com muita satisfao, aos operadores da Lei e a
todos que desejam exercer plenamente a sua cidadania, a 2 edi-
o do volume Como se fazem as leis da nossa srie Conhecendo
o Legislativo.
Cuida-se de obra revisada e adequada s recentes alteraes
legais e constitucionais e que tem por misso descrever e analisar,
em linguagem objetiva e acessvel, os meandros do processo legis-
lativo nas duas Casas do Congresso Nacional.
A elaborao de leis um tema que vem ganhando cada vez
mais relevo junto s naes que se propem a gerar desenvolvi-
mento sustentvel com base na valorizao dos direitos fundamen-
tais da pessoa humana.
Por isso, cresce em importncia a obra de Luciana Pacheco,
consultora legislativa da Cmara dos Deputados, que mergulha na
complexidade tcnico-dogmtica do processo legislativo para re-
velar os segredos de seu manejo aos cidados, possibilitando-lhes
compreender a essencialidade da construo das leis para a afir-
mao da democracia, alicerce do Estado brasileiro.
Luciana Botelho Pacheco
11
Captulo I Algumas noe iniciais
1. A pirmide de leis
Todo pas, seja ele grande ou pequeno, moderno ou atrasado,
desenvolvido ou no, rege-se por algum tipo de lei. O Brasil no
diferente, contando com uma variada gama de leis que regulam as
relaes entre as pessoas, os poderes e os deveres do Estado e
dos governantes, os direitos individuais e coletivos, enfim, discipli-
nam a vida em sociedade de uma maneira geral.
H vrias espcies de leis
1
que integram nosso sistema normati-
vo. Uma delas considerada fundamental, gozando de superiorida-
de em relao a todas as demais: trata-se da Constituio Federal,
tambm chamada Lei Maior ou Carta Magna. nela que se traam
as linhas mestras dos direitos fundamentais do cidado e da orga-
nizao do Estado, no podendo nenhuma outra norma do sistema
estar em desacordo ou mostrar-se incompatvel com seu texto e
1
O termo lei, aqui, usado num sentido lato, compreendendo as normas jurdicas em
geral e no apenas a lei ordinria em sentido estrito.
Como se fazem as leis
12
contedo. Se imaginarmos, por exemplo, todas as leis brasileiras
como partes de uma pirmide de normas, a Constituio Federal
estar no topo, no comando, sendo a principal fonte de referncia e
validade de todas as demais.
Ainda tendo em vista a imagem da pirmide, logo abaixo da
Constituio estaro posicionadas as chamadas leis complemen-
tares, que tratam de determinados assuntos que a Constituio
Federal considera de maior relevo institucional, exigindo, por isso
mesmo, um processo mais dificultoso que o das demais leis para
sua aprovao.
No nvel imediatamente subseqente teremos as espcies lei
ordinria, lei delegada, medida provisria, decreto legislativo e reso-
luo, destinadas, cada uma por meio de um processo prprio de
elaborao e aprovao, a regular assuntos e temas variados que a
Constituio, direta ou indiretamente, atribui a uma ou outra.
Finalmente, na base do sistema jurdico como um todo estaro
os atos normativos considerados inferiores, que so aqueles des-
tinados a detalhar, a esmiuar normas muito genricas ou a com-
plementar vazios e lacunas deixados pelas espcies mencionadas
anteriormente. So eles os decretos, as portarias, as instrues e
toda uma srie de atos editados pelos rgos do Estado, em es-
pecial o Poder Executivo, no exerccio de sua funo tpica, que
administrar o pas e executar suas leis.
Luciana Botelho Pacheco
13
Convm lembrar que o Brasil constitui-se numa Federao
2
,
comportando trs esferas poltico-administrativas diferenciadas
a Unio, os estados e os municpios. As vrias espcies de leis e
atos normativos aqui mencionados, desse modo, distribuem-se
igualmente nesses trs nveis de governo, ora sendo produzidas
pelo pelo poder pblico federal, ora pelo estadual ou municipal. Para
evitar a superposio de normas elaboradas por essas diversas es-
feras, a Constituio Federal cuida de definir os assuntos que de-
vero ser regulados por umas e outras, delimitando rigorosamente
a competncia legislativa de cada nvel federativo. Assim, enquanto
Unio compete disciplinar temas como direito civil e direito penal,
por exemplo, sendo as leis sobre tais matrias de carter federal
3
,
aos municpios cabe editar leis sobre assuntos de interesse local,
alm de suplementar a legislao federal e estadual no que couber
4
.
Aos estados, por sua vez, a Constituio garante o poder de legis-
lar sobre todos os assuntos que no estejam reservados expressa-
mente a nenhum dos outros dois entes federativos
5
.
2
Federao um tipo de organizao estatal formada por uma pluralidade de entida-
des (estados, municpios e o Distrito Federal, no caso do Brasil) associadas sob um
governo central (a Unio).
3
Cf. art. 22, I, Constituio Federal.
4
Cf. art. 30, I, Constituio Federal.
5
Cf. art. 25, 1, Constituio Federal.
Como se fazem as leis
14
Cumpre observar ainda que o Distrito Federal, que tambm cons-
titui uma unidade da Federao, pode legislar tanto sobre matrias
de competncia dos estados quanto dos municpios
6
, s ficando
impedido de imiscuir-se em assuntos expressamente reservados
pela Constituio Federal competncia legislativa da Unio.
2. O processo legislativo
O dicionrio Aurlio define o termo processo como, entre outras
coisas, o ato de proceder, de ir por diante; seguimento, curso, mar-
cha; sucesso de estados ou de mudanas; maneira pela qual se
realiza uma operao, segundo determinadas normas (...).
O chamado processo legislativo, em verdade, contm um pouco
de tudo isso, compreendendo o ato de proceder, o curso, a suces-
so de atos realizados, de acordo com regras previamente fixadas,
para a produo das leis no mbito do Poder Legislativo.
Algumas dessas regras, no Brasil, derivam diretamente da
Constituio Federal. nela que se define quem est autorizado a
apresentar ao Congresso Nacional as propostas e projetos de lei,
qual o qurum, ou nmero mnimo de parlamentares, necessrio
para aprovar ou rejeitar uma proposta, por qual Casa, Cmara ou
6
Cf. art. 32, 1, Constituio Federal.
Luciana Botelho Pacheco
15
Senado, deve ser iniciada a tramitao de um projeto, qual o des-
tino daqueles j aprovados numa delas, entre outras.
Quem tem a oportunidade de examinar todas essas regras em
seu conjunto poder observar, em primeiro plano, que a produo
legislativa, a exemplo do que ocorre na maioria das democracias
do mundo contemporneo, e ao contrrio do que muitos imaginam,
no feita exclusivamente pelas Casas Legislativas, mas em regime
de co-participao entre os Poderes, notadamente entre Legisla-
tivo e Executivo
7
. A Constituio Federal traz muitas pistas disso,
dando ao presidente da Repblica, por exemplo, alm do poder de
apresentar ao Congresso Nacional projetos de lei sobre assuntos
em geral
8
, competncia exclusiva para propor leis sobre algumas
matrias especficas, excluindo-as do poder de iniciativa legislativa
dos parlamentares
9
. a Constituio, tambm, que d ao presi-
dente a prerrogativa de pedir urgncia para a tramitao de seus
projetos e o poder de editar medidas provisrias, espcie normativa
7
No se pode deixar de reconhecer uma atuao tambm relevante do Judicirio, que
alm de gozar da prerrogativa de apresentar projetos de lei sobre determinadas matrias,
pode ser chamado a agir tanto para suprir as omisses dos legisladores, quando deixam
de aprovar leis previstas na Constituio, quanto para corrigir eventuais desvios ou des-
cumprimento de regras no trmite do processo de elaborao legislativa.
8
Cf. art. 61, caput, Constituio Federal.
9
Cf. art. 61, 1, Constituio Federal.
Como se fazem as leis
16
com fora de lei que pode vigorar por sessenta dias, prorrogveis
por mais sessenta prazo dentro do qual o Congresso Nacional
deve apreci-la, podendo transform-la definitivamente em lei, com
ou sem modificao do texto original, ou simplesmente rejeit-la,
retirando-a de vigor.
10
Cumpre desde logo observar, entretanto, que as normas traa-
das pela Constituio no tocante ao processo legislativo so de
carter bastante geral, no descendo a maiores detalhes. O texto
constitucional, antes, cuidou de conferir a cada Casa Legislativa
competncia e autonomia para elaborar seus regimentos internos,
que so as normas especificamente destinadas a regular o funcio-
namento, em mincias, de cada uma delas, a includos os procedi-
mentos aplicveis ao processo de feitura das leis.
Os regimentos internos das Casas Legislativas constituem, efeti-
vamente, a principal fonte do Direito Parlamentar, como j afirma-
do por um de nossos maiores constitucionalistas
11
. Embora devam
respeitar e incorporar as linhas mestras traadas pela Constituio,
neles que vamos encontrar o disciplinamento propriamente dito
do processo legislativo em cada Casa, incluindo normas sobre a
composio e as competncias dos rgos internos, a forma de
10
Cf. artigos 64, 1 e 62, Constituio Federal.
11
SILVA, Jos Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, So Paulo, Malheiros,
2000, p. 514.
Luciana Botelho Pacheco
17
apresentao dos projetos e propostas de legislao, os regimes
de tramitao, os debates e votaes, os direitos e deveres dos par-
lamentares, enfim, toda a regulao mais minuciosa do processo
legislativo, desde seu impulso inicial at os atos finais.
3. Como se organizam os trabalhos legislativos
3.1. As duas Casas do Congresso Nacional
O Poder Legislativo, no nvel federal, exercido pelo Congresso
Nacional, que se compe de duas Casas Legislativas autnomas: a
Cmara dos Deputados e o Senado Federal.
A Cmara dos Deputados integrada pelos representantes do
povo, eleitos em nmero proporcional populao de cada estado
e do Distrito Federal. Atualmente, conta com 513 membros, sendo
que o maior nmero de deputados eleito por So Paulo, que tem
70 representantes o nmero mximo por estado permitido pela
Constituio. Os estados de menor populao elegem o nmero
mnimo previsto constitucionalmente: oito deputados cada um.
12
O Senado Federal, embora tambm composto por membros
escolhidos em eleio direta pelo povo, representa os interesses
dos estados e do Distrito Federal como unidades da Federao,
12
Cf. art. 45, 1, Constituio Federal.
Como se fazem as leis
18
independentemente do tamanho da respectiva populao. Por isso, o
nmero de senadores eleitos por estado e pelo Distrito Federal no
proporcional, mas fixo, sendo sempre o mesmo: trs por unidade da
Federao, totalizando, hoje, 81 membros no Senado Federal
13
.
Compondo o Congresso Nacional, Cmara e Senado trabalham,
na maior parte das vezes, de forma independente e autnoma, se-
guindo cada um suas prprias regras internas de funcionamento.
Para a apreciao de determinadas matrias, entretanto, a Cons-
tituio Federal exige sua atuao em conjunto
14
, caso em que as
regras aplicveis sero aquelas previstas no Regimento Comum,
ou Regimento Interno do Congresso Nacional, que justamente a
norma disciplinadora dos procedimentos conjuntos de elaborao
legislativa pelas duas Casas.
13
Cf. art. 46, 1, Constituio Federal.
14
Dependem de apreciao conjunta das duas Casas os projetos de leis relacionados a
matria oramentria, como o projeto de lei do oramento anual (PLOA), o projeto de lei
de diretrizes oramentrias (LDO) e o projeto de lei do plano plurianual (PPA). Tambm
os vetos presidenciais apostos a projetos de lei so apreciados conjuntamente pelas
duas Casas. Cf. artigos 57, 3, IV e 166, da Constituio Federal.
Luciana Botelho Pacheco
19
3.2. As duas fases do trabalho legislativo em cada Casa
Os trabalhos de elaborao de leis se desenvolvem, basicamente,
em duas fases distintas em cada Casa Legislativa: a das comisses
e a do Plenrio.
As comisses so rgos compostos por pequeno nmero
de parlamentares no mnimo 3,5% e no mximo 12% do total de
deputados, no caso da Cmara
15
. Sua constituio atende a um
princpio quase universal de organizao parlamentar, fundado na
necessidade da diviso e especializao do trabalho em face do
nmero geralmente grande de integrantes das assemblias.
no mbito das comisses que os parlamentares, justamen-
te por estarem reunidos em nmero menor que no Plenrio, con-
seguem examinar mais detidamente os projetos que tramitam na
Casa, descendo aos detalhes tcnicos e jurdicos, identificando os
mritos e as falhas de cada um, ouvindo autoridades e especialistas
na matria neles tratada, propondo-lhes eventuais alteraes e aper-
feioamentos. Quando conclui o exame de cada matria submetida
a sua apreciao, a comisso apresenta Casa um parecer sobre
o assunto, recomendando aos demais parlamentares a aprovao,
integral ou com alteraes, ou a rejeio do projeto examinado.
15
Cf. art. 25, 2, do Regimento Interno da Cmara dos Deputados (com a redao dada
pela Resoluo n 20, de 2004).
Como se fazem as leis
20
O Plenrio a instncia de deciso final sobre a maior parte das
matrias apreciadas pela Casa Legislativa. Constitui-se do conjunto
dos parlamentares que compem a Casa, e as decises tomadas
em seu mbito tm carter definitivo e irrecorrvel.
No obstante o processo legislativo brasileiro venha se desen-
volvendo, ao longo de nossa histria parlamentar, quase sempre
amparado nessas duas fases de trabalho comisses e Plenrio ,
a Constituio de 1988 adotou mecanismo inovador, introduzindo a
possibilidade de uma variante dentro desse modelo mais tradicio-
nal: deu poder de deciso s comisses para, em relao a algu-
mas matrias, aprovar ou rejeitar, autonomamente, os projetos de
lei apresentados, dispensando a realizao da segunda fase, ou
seja, sua apreciao pelo Plenrio.
16
Na Cmara dos Deputados, esse mecanismo foi batizado como
poder conclusivo de deliberao das comisses. aplicvel, em
princpio, aos projetos de lei em geral, ressalvadas as excees pre-
vistas no Regimento Interno
17
. No se trata, contudo, de um poder
16
Cf. art. 58, 2, I, Constituio Federal.
17
Os projetos de lei que no se sujeitam ao poder conclusivo das comisses so, de
acordo com o art.24, II, do Regimento Interno, os projetos de lei complementar, os proje-
tos de cdigo, os de iniciativa popular, os de autoria de comisso, os relativos a matria
que, de acordo com a Constituio, no possa ser objeto de delegao, os que tenham
recebido pareceres divergentes por parte das comisses, os que tenham sido aprovados
pelo Plenrio do Senado, e os que se encontrem em regime de urgncia.
Luciana Botelho Pacheco
21
de deciso absoluto: com o apoio de pelo menos dez por cento
do total de membros da Casa, uma deliberao tomada pelas co-
misses pode deixar de ter efeito conclusivo, passando a matria a
depender da apreciao do Plenrio, por meio da apresentao de
um recurso prprio
18
. Nessa hiptese, diz-se que o poder conclusi-
vo cai, devendo o projeto tramitar segundo as regras do modelo
tradicional de apreciao, isto , devendo ser submetido a uma se-
gunda fase de deliberao, a do Plenrio.
3.3. O encaminhamento de uma Casa outra
Sendo o processo legislativo no nvel federal do tipo bicameral,
isto , envolvendo, como se viu, a participao das duas Casas
Legislativas, Cmara dos Deputados e Senado Federal, uma vez
apreciado e aprovado um projeto ou proposta numa delas (cha-
mada Casa iniciadora), ser ele remetido outra (Casa revisora),
devendo, l, passar tambm pelas fases de comisso e de Plenrio
(ou s de comisso, se se tratar de matria sujeita ao poder conclu-
sivo dos rgos tcnicos).
Sendo o projeto aprovado pela Casa revisora com alguma al-
terao no texto original, dever ainda retornar Casa iniciadora,
para apreciao das modificaes propostas, seguindo, mais uma
18
Cf. art. 132, 2, do Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
22
vez, o rito de apreciao comisses-plenrio, ou s comisses,
conforme o caso.
Registre-se ainda que nos casos em que a apreciao de pro-
jetos se faz conjuntamente pelas duas Casas
19
, o rito comisses-
plenrio subsiste, mas com algumas peculiaridades. As comisses
que examinam previamente as proposies tm carter misto, sen-
do compostas de deputados e senadores, e o Plenrio se constitui
pela reunio das duas Casas no mesmo recinto, devendo uma deli-
berar logo aps a outra em relao a cada assunto em pauta.
3.4. Os rgos de direo dos trabalhos legislativos
Na coordenao geral dos trabalhos legislativos ficam as Me-
sas Diretoras da Cmara dos Deputados, do Senado Federal e do
Congresso Nacional (essa ltima encarregada de dirigir os traba-
lhos conjuntos das duas Casas). As Mesas so rgos colegiados
constitudos por presidente, vice-presidentes e secretrios, todos
parlamentares eleitos diretamente por seus pares para a funo
de direo dos trabalhos
20
.
19
A meno a essa hiptese foi feita no item 3.1.
20
No caso da Mesa do Congresso, no h propriamente uma eleio. Segundo a Consti-
tuio Federal, o cargo de presidente exercido pelo presidente do Senado Federal e os
demais cargos exercidos pelos ocupantes de cargos equivalentes nas Mesas da Cmara
e no Senado, alternadamente. Cf. art. 57, 5, Constituio Federal.
Luciana Botelho Pacheco
23
Alm das Mesas Diretoras das Casas, h tambm um rgo de
direo assemelhado em cada uma das comisses parlamentares.
Tanto Mesas Diretoras quanto comisses sujeitam-se, em sua
composio, ao princpio da representao proporcional dos par-
tidos polticos e blocos parlamentares com assento na Casa. Isso
significa que a mesma distribuio de foras poltico-partidrias
presente na Casa como um todo dever estar reproduzida na com-
posio de cada um desses rgos, tanto quanto matematicamen-
te possvel. O preenchimento dos cargos da Mesa e dos lugares
nas comisses, assim, no livre, mas dependente de uma prvia
distribuio das vagas existentes entre as diversas bancadas, se-
gundo o critrio da proporcionalidade partidria.
Cumpre mencionar, finalmente, a existncia de uma instituio
parlamentar dotada de significativo poder de influncia na conduo
dos trabalhos legislativos: trata-se das Lideranas partidrias cons-
titudas por lder e vice-lderes, encarregados de representar os inte-
resses dos partidos polticos e tambm da Liderana do Governo,
que representa os interesses do Poder Executivo, perante a Cmara.
As lideranas atuam juntamente com a Presidncia da Casa em
uma srie de atos relevantes do processo legislativo, sendo ouvidas
quanto definio das matrias a serem includas nas pautas de
votao, tendo poderes para indicar e substituir a qualquer tem-
po os membros das respectivas bancadas que iro integrar cada
Como se fazem as leis
24
comisso, podendo usar da palavra durante as sesses para orien-
tar os liderados no momento da votao de uma matria ou quando
tiverem comunicaes a fazer Casa, entre outros.
3.5. Legislaturas, sesses legislativas e sesses ordinrias
O Congresso Nacional organiza seus trabalhos por legislaturas e
sesses legislativas. Uma legislatura, que dura quatro anos, corres-
ponde exatamente ao perodo que vai do incio ao trmino dos man-
datos dos deputados, a saber, de 1 de fevereiro do ano seguinte ao
da eleio, quando se d a posse dos eleitos, at 31 de janeiro do
ano seguinte eleio subseqente para os mesmos cargos.
Cada legislatura divide-se em quatro sesses legislativas ordin-
rias, que correspondem ao calendrio anual de trabalhos do Con-
gresso Nacional, cada uma delas iniciando-se em 2 de fevereiro,
interrompendo-se entre 18 e 30 de julho e encerrando-se em 22 de
dezembro de cada ano. Fora desses perodos, o Congresso Na-
cional s se rene por convocao extraordinria
21
, designando-se
21
O Congresso Nacional s pode se reunir extraordinariamente, isto , fora dos pero-
dos compreendidos nas sesses legislativas ordinrias, por convocao do presidente
da Repblica ou dos presidentes da Cmara e do Senado ou ainda a requerimento da
maioria dos membros de ambas as Casas. Quando convocado extraordinariamente, o
Congresso s pode deliberar sobre as matrias constantes expressamente do ato de
convocao. Cf. art. 57, 6 e 7, Constituio Federal.
Luciana Botelho Pacheco
25
como sesso legislativa extraordinria o perodo de trabalhos legisla-
tivos que vem a ocorrer em razo desse tipo de convocao.
As sesses legislativas ordinrias, que se estendem por quase
um ano, no se confundem com as sesses ordinrias de cada uma
das Casas, que ocorrem todos os dias teis, de segunda a sexta-fei-
ra, e tm lugar nos respectivos plenrios. Do mesmo modo, as ses-
ses legislativas extraordinrias no podem ser confundidas com
as sesses extraordinrias de qualquer das Casas, que so aquelas
convocadas para qualquer horrio diferente do previsto diariamente
para a realizao das sesses ordinrias dos plenrios.
Observa-se, finalmente, que o termo sesso usado exclusiva-
mente em relao aos trabalhos do Plenrio, reservando-se o termo
reunio para os trabalhos realizados no mbito das comisses.
Luciana Botelho Pacheco
27
Captulo II O passo-a-passo do
processo legislativo na Cmara dos Deputados
1. As proposies legislativas
1.1. As molas propulsoras do processo legislativo
O primeiro ato do processo de feitura de uma lei a apresenta-
o, Casa Legislativa, de um projeto, de uma proposio legislati-
va, para usar a linguagem tcnica empregada no Regimento Interno
da Cmara dos Deputados
22
.
Embora esse mesmo Regimento Interno considere como pro-
posio legislativa qualquer matria que venha a ser submetida
deliberao da Casa, como emendas, pareceres, recursos, etc.,
apenas duas espcies efetivamente do incio, pem em marcha,
constituem-se em mola propulsora do processo legislativo. So
elas as propostas de emenda Constituio e os projetos, esses
22
Cf. art. 100, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
28
ltimos admitindo ainda trs subespcies: de lei, de decreto legis-
lativo e de resoluo.
1.1.1. Propostas de emenda Constituio (PEC)
Como o nome indica, as PEC so proposies destinadas a pro-
mover alteraes no texto da Constituio vigente. Para serem rece-
bidas e processadas, tm de estar assinadas, no caso de iniciativa
dos parlamentares, por no mnimo um tero do total de membros da
Casa, o que, na Cmara, equivale assinatura de 171 deputados.
Sua apresentao, entretanto, pode se dar ainda por parte de agen-
tes externos ao Congresso Nacional, como o presidente da Repblica
e as assemblias legislativas das unidades da Federao
23
.
Alm dos requisitos de autoria aqui referidos, as propostas de
emenda Constituio s podem ter andamento se suas disposi-
es no tiverem impacto sobre as chamadas clusulas ptreas,
que so as normas constitucionais no-modificveis, tidas como
verdadeira espinha dorsal da Constituio. So elas: (1) a forma
federativa do Estado que envolve, no Brasil, a existncia de trs
esferas autnomas de organizao poltico-administrativa: a da
Unio, a dos estados e Distrito Federal e a dos municpios, cuja
23
No caso das assemblias legislativas, a iniciativa da apresentao s ser vlida se
contar com o apoio de mais da metade delas, cada uma tendo tomado a deciso por
deliberao da maioria de seus membros. Cf. art. 60, inciso III, Constituio Federal.
Luciana Botelho Pacheco
29
capacidade de autogoverno e autogesto deve ser assegurada;
(2) o direito universal, isto , de todos, a escolher seus representan-
tes no Governo e no Legislativo por meio do voto direto e secreto,
exercido periodicamente; (3) a independncia e a harmonia entre
os trs Poderes da Repblica Executivo, Legislativo e Judicirio ,
no se permitindo o domnio de um sobre o outro; (4) os direitos e
garantias fundamentais dos cidados
24
.
1.1.2. Projetos
1.1.2.1. Projetos de lei so proposies destinadas a criar leis no-
vas ou a alterar outras j em vigor. Admitem as subespcies projetos
de lei ordinria (PL) e projetos de lei complementar (PLP). Podem ser
apresentados, em geral, tanto por parlamentares, individual ou cole-
tivamente, quanto pelas comisses da Cmara, do Senado ou das
duas Casas em conjunto, ou ainda pelo presidente da Repblica
que dispe de iniciativa concorrente com a dos parlamentares sobre
temas em geral mas detm competncia privativa para a apresenta-
o de projetos sobre certas matrias definidas pela Constituio Fe-
deral. de se registrar tambm a possibilidade de iniciativa legislativa
por parte do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do
procurador-geral da Repblica em relao a alguns assuntos espe-
24
Cf. art. 60, 4, Constituio Federal.
Como se fazem as leis
30
cficos, como criao de rgos, carreira e garantias de membros do
Poder Judicirio ou do Ministrio Pblico
25
.
A Constituio Federal de 1988 deu abrigo ainda iniciativa
popular de leis, conferindo direito aos cidados de apresentar pro-
jetos ao Congresso Nacional desde que atendida a exigncia de
subscrio mnima de um por cento do eleitorado nacional, dis-
tribudo por pelo menos cinco estados, com no menos de trs
dcimos por cento dos eleitores de cada um deles. Como o atin-
gimento desse nmero mnimo de subscritores bastante difcil e
complicado, tm sido muito poucos os projetos de lei de iniciativa
popular at hoje apresentados
26
.
Visando criar um canal alternativo para a participao popular
nos trabalhos legislativos, a Cmara dos Deputados, em 2001, ins-
tituiu a Comisso de Legislao Participativa, rgo permanente
da Casa destinado a examinar e dar parecer sobre sugestes de
iniciativa legislativa recebidas de associaes e rgos de classe,
sindicatos e entidades organizadas da sociedade civil
27
. Dispondo
de iniciativa legislativa como qualquer outra comisso parlamentar,
a Comisso de Legislao Participativa, quando verifica que uma
25
Cf. art. 61, caput., Constituio Federal.
26
Cf. art. 61, 2, Constituio Federal.
27
Cf. Resoluo da Cmara n 21/2001.
Luciana Botelho Pacheco
31
sugesto apresentada atende s condies mnimas para tramitar,
adota-a, formulando e apresentando o projeto Casa como sendo
de sua autoria, de forma a viabilizar a respectiva tramitao.
1.1.2.2. Projetos de decreto legislativo (PDC) so proposies
destinadas a tratar de assuntos que a Constituio Federal deter-
mina sejam decididos pelo Congresso Nacional com exclusivida-
de, isto , no podendo ser de iniciativa externa nem se sujeitando
a qualquer tipo de ratificao ou veto por parte de outro poder
28
.
Alguns exemplos desses assuntos esto na fixao dos subsdios
de deputados e senadores, no julgamento das contas prestadas
anualmente pelo presidente da Repblica, na apreciao dos atos
de concesso de emissoras de rdio e televiso, entre outros.
A iniciativa dessas proposies fica sempre restrita aos agentes
do prprio Congresso Nacional, sendo atribuda, em geral, a qual-
quer dos parlamentares e s comisses, embora se deva notar que,
quando se destinam a ratificar atos do Executivo, dependem, na
prtica, de solicitao nesse sentido oriunda daquele poder.
1.1.2.3. Projetos de resoluo (PR) so proposies destinadas
a regular todas as matrias pertinentes competncia privativa da
28
de se notar que os projetos de lei, por exemplo, dependem de aprovao pelo Con-
gresso Nacional e de sano, que uma manifestao de concordncia do presidente
da Repblica, para se transformarem em lei.
Como se fazem as leis
32
Cmara dos Deputados, como o caso de suas regras internas de
funcionamento, presentes no respectivo regimento (que aprovado
por meio de resoluo) ou da tomada de deciso em casos concre-
tos como a cassao do mandato de um deputado, por exemplo.
Vale mencionar, ainda, a existncia dos projetos de resoluo
destinados a regular matrias pertinentes competncia conjunta
das duas Casas, Cmara e Senado (PR CN). Tais projetos no tra-
mitam perante a Cmara e sim perante o Congresso Nacional, ins-
tituio que representa as duas Casas do Poder Legislativo quando
tm de atuar conjuntamente.
A iniciativa dos projetos de resoluo da Cmara cabe, em geral,
a qualquer deputado, mas em alguns casos especficos previstos no
Regimento Interno fica restrita Mesa Diretora ou a alguma comis-
so tcnica da Casa. J quanto aos projetos de resoluo conjunta
das duas Casas, a iniciativa pode ser de qualquer das duas Mesas
ou de deputados e senadores conjuntamente, exigida, nesse caso,
a assinatura de pelo menos vinte senadores e oitenta deputados
para sua apresentao.
1.2. As demais espcies de proposio legislativa
Alm das propostas de emenda Constituio e dos projetos,
h outras espcies de proposio legislativa mencionadas no Regi-
mento Interno que merecem aqui alguns breves comentrios.
Luciana Botelho Pacheco
33
1.2.1. Emendas, pareceres, recursos e alguns tipos de requeri-
mentos so proposies de tipo acessrio, no dispondo de curso
prprio, sendo dependentes do de outras, as chamadas principais
(propostas de emenda Constituio e projetos).
As emendas so proposies destinadas a alterar a forma ou
o contedo das proposies principais. Podem suprimir, modificar,
acrescentar, substituir ou aglutinar partes do texto a ser alterado, vi-
sando seu aperfeioamento
29
. Em geral sua iniciativa facultada a
qualquer deputado ou comisso, e so apresentadas perante a ins-
tncia que dever decidir sobre o destino da proposio: as comis-
ses, no caso de projeto sujeito a seu poder conclusivo, ou o Plenrio,
no caso das proposies que dependam de sua deliberao final.
Pareceres so proposies por meio das quais as comisses
se manifestam sobre as matrias que lhes so submetidas a exa-
me
30
. So apresentados pelos relatores designados para estudar
a matria em cada comisso, e quando aprovados pelos demais
membros, passam a se constituir no parecer da comisso sobre as
proposies a que se referem.
Os recursos tm por objetivo reverter decises tomadas por au-
toridades ou rgos que detm parcela de poder na Casa, como as
29
Cf. art. 118, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
30
Cf. art. 126, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
34
comisses, seus presidentes ou a Presidncia da prpria Cmara.
A iniciativa para sua apresentao varia conforme o tipo de deci-
so da qual se quer recorrer, cabendo em alguns casos a qualquer
deputado mas, em outros, devendo contar com um nmero mnimo
de subscritores como no recurso contra deciso conclusiva de co-
misso, que para ser admitido precisa ser apoiado por pelo menos
dez por cento do total de membros da Casa.
Em relao aos requerimentos, h diversos tipos previstos no
Regimento Interno, sendo sempre destinados a formalizar algum
tipo de solicitao ao rgo ou autoridade competente para decidir.
Os relacionados tramitao das proposies podem ter objetivos
muito variados, como os que solicitam a apensao de um projeto
a outro, visando sua tramitao em conjunto (no caso de tratarem
de matrias assemelhadas), a incluso de uma comisso entre as
que devero dar parecer sobre um projeto, a retirada de uma pro-
posio de pauta ou de tramitao, etc. Podem ser apresentados,
em geral, por qualquer deputado ou comisso, ressalvadas as ex-
cees expressamente previstas no Regimento Interno.
1.2.2. As chamadas indicaes constituem-se em meras suges-
tes de iniciativa legislativa ou de providncia administrativa a se-
rem tomadas por comisses da Casa ou por rgos dos Poderes
Luciana Botelho Pacheco
35
Executivo ou Judicirio
31
. Podem ser apresentadas por qualquer
deputado, e quando se dirigem a rgos do Executivo ou Judicirio,
dependem de despacho deferitrio do presidente da Cmara.
1.2.3. Finalmente, as outras espcies de proposio que no se
pode deixar de mencionar, embora no guardem uma relao direta
com a feitura de uma lei, so as propostas de fiscalizao e contro-
le, os requerimentos de constituio de comisso de inqurito e os
requerimentos de informao a ministros de Estado. No obstante
possam vir a resultar na elaborao de normas jurdicas, constituem
essas espcies, antes, atos destinados a impulsionar o exerccio de
outra funo do Parlamento to relevante quanto a legislativa, con-
sistente no controle e na fiscalizao dos atos do poder pblico em
geral, em especial os do Poder Executivo.
2. O incio do processo: recebimento da proposio
e distribuio s comisses
Quando uma proposta de emenda Constituio ou um projeto
apresentado Casa, a Presidncia, verificando que esto aten-
didos todos os requisitos bsicos para tramitao, determina seu
recebimento, numerao e encaminhamento para publicao no
31
Cf. art. 113, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
36
Dirio da Cmara dos Deputados e em impressos avulsos, para dis-
tribuio aos deputados
32
.
Aps essas formalidades iniciais, a proposio despachada
comisso ou comisses que tenham competncia regimental para
examinar e dar parecer sobre os assuntos nela tratados.
2.1. As comisses competentes para se manifestar
A Cmara dos Deputados conta, hoje, com vinte comisses
de carter permanente, com atuao nas mais diversas reas
do conhecimento humano. So elas: Comisso de Agricultura,
Pecuria, Abastecimento e Desenvolvimento Rural; Comisso da
Amaznia, Integrao Nacional e de Desenvolvimento Regional;
Comisso de Cincia e Tecnologia, Comunicao e Informtica;
Comisso de Constituio e Justia e de Cidadania; Comisso de
Defesa do Consumidor; Comisso de Desenvolvimento Econmi-
co, Indstria e Comrcio; Comisso de Desenvolvimento Urbano;
Comisso de Direitos Humanos e Minorias; Comisso de Edu-
cao e Cultura; Comisso de Finanas e Tributao; Comisso
de Fiscalizao Financeira e Controle; Comisso de Legislao
Participativa; Comisso de Minas e Energia; Comisso de Meio
32
Com a recente informatizao dos servios legislativos, as proposies recebidas pas-
saram a ser tambm inseridas no sistema eletrnico de tramitao de processos, dispo-
nibilizado ao pblico em geral por meio da pgina da Cmara na Internet.
Luciana Botelho Pacheco
37
Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel; Comisso de Relaes
Exteriores e Defesa Nacional; Comisso de Seguridade Social e
Famlia; Comisso de Trabalho, de Administrao e Servio Pbli-
co; Comisso de Viao e Transportes; Comisso de Segurana
Pblica e Combate ao Crime Organizado, Violncia e Narcotrfico;
Comisso de Turismo e Desporto.
Alm das comisses permanentes, a Cmara pode constituir
ainda comisses especiais, de carter temporrio, para o exame
de determinadas espcies de proposio, como propostas de
emenda Constituio, por exemplo, que se sujeitam a normas
especiais de tramitao
33
. o caso, tambm, de projetos de lei
mais complexos, que em princpio demandariam exame de mri-
to por mais de trs comisses permanentes: na hiptese, a Pre-
sidncia deixa de remet-los a essas comisses e constitui, ao
revs, uma s, especial e temporria, destinada a estud-la e a
proferir-lhe o competente parecer
34
.
No mbito das comisses, uma proposio pode ser exami-
nada sob trs ticas diferenciadas: 1) convenincia e oportunida-
de tcnico-poltica da aprovao das medidas nela propostas
o que se costuma chamar de exame de mrito; 2) conformao
33
Confira, adiante, no Captulo III, que normas so essas.
34
Cf. art. 34, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
38
s leis oramentrias da Unio ou exame de adequao e com-
patibilidade financeira e oramentria, realizado apenas quando a
aprovao da proposio possa implicar gastos pblicos, feito pela
Comisso de Finanas e Tributao; e, finalmente, 3) conformao
s normas constitucionais e ordem jurdica vigente ou exame
de constitucionalidade e juridicidade, realizado sempre pela Co-
misso de Constituio e Justia e de Cidadania
35
.
Esses dois ltimos exames assumem grande relevncia dentro
do processo legislativo, uma vez que podem pr fim tramitao
de uma proposio se lhes forem desfavorveis
36
. Tm, assim, efei-
to decisivo sobre o destino da proposio, s podendo vir a ser
contestados mediante recurso apresentado ao Plenrio por pelo
menos um dcimo do total de membros da Casa.
35
Cumpre observar que, no caso de uma proposio examinada por comisso especial
na hiptese de versar sobre matrias de mais de trs comisses permanentes, como
mencionado anteriormente tanto o exame de adequao e compatibilidade financeira-
oramentria quanto o de constitucionalidade e juridicidade so realizados pela prpria
comisso especial.
36
Cf. art. 54, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Luciana Botelho Pacheco
39
3. O que ocorre no mbito de cada comisso
3.1. Possibilidade de emendamento
Quando uma proposio recebida numa comisso encarrega-
da de examin-la e dar-lhe parecer, a primeira providncia tomada
pelo presidente do rgo designar um dos membros como relator
da matria, a quem incumbir estud-la e dar-lhe o competente pa-
recer, a ser apreciado pelos demais membros da comisso.
Aps a designao do relator, a presidncia verificar se se trata
de proposio sujeita ao poder conclusivo das comisses
37
ou se
depender da deliberao posterior do Plenrio. Essa verificao
necessria porque os procedimentos internos na comisso sero
diferentes em cada um dos casos: se a proposio se sujeitar ao
poder conclusivo das comisses, haver necessidade de se abrir
prazo para que os deputados possam apresentar-lhe emendas
no mbito da comisso; se, ao contrrio, a proposio tiver de se
37
Sujeitam-se ao poder conclusivo das comisses os projetos de lei ordinria em geral,
exceto: os de iniciativa popular ou de comisso; os que tratem de matria que no
possa ser objeto de delegao, nos termos previstos no art. 68, 1, da Constituio;
os originrios do Senado, ou que tenham sido l emendados, passando pelo respectivo
Plenrio; os que tenham recebido pareceres divergentes entre as comisses e os que es-
tejam em regime de urgncia. Sujeitam-se ainda ao poder conclusivo das comisses os
projetos de decreto legislativo destinados a ratificar atos do Poder Executivo relacionados
a concesso de rdio e televiso.
Como se fazem as leis
40
sujeitar aprovao final do Plenrio, o prazo para proposio de
emendas ser aberto quando a matria chegar quela instncia e
no perante as comisses
38
.
As emendas podem ser apresentadas em comisso por qual-
quer deputado e no apenas pelos respectivos membros. A nica
condio imposta ao recebimento que versem sobre assunto per-
tinente rea de competncia do rgo tcnico.
3.2. O trabalho do relator
A proposio, bem como as eventuais emendas apresentadas
no mbito da comisso, sero encaminhadas ao relator da matria
designado pelo presidente do rgo.
O parecer a ser apresentado pelo relator compe-se de duas
partes: 1) o relatrio, onde se faz uma exposio circunstanciada da
matria em exame, explicando-se resumidamente o contedo da pro-
posio principal e das emendas, se houver, bem como todos os
passos da tramitao at aquele momento; e 2) o voto, onde o rela-
tor d sua opinio fundamentada sobre a aprovao ou rejeio das
proposies principal e acessria, examinadas, podendo ainda ofe-
recer-lhes emenda, inclusive do tipo substitutivo
39
. Na ltima hiptese,
38
Cf. artigos 119 e 120, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
39
Substitutivo uma espcie do gnero emenda, mas na verdade, assume na maior parte
das vezes ares de proposio principal, porque uma vez aprovado por uma comisso,
Luciana Botelho Pacheco
41
sendo o projeto sujeito ao poder conclusivo das comisses, dever
ser aberto novo prazo para apresentao de emendas no mbito da
comisso, dessa vez em relao ao substitutivo proposto pelo relator,
e restrito o direito de apresentao apenas aos membros.
O relator ter, para apresentar seu parecer, metade do prazo
total de que dispe a comisso para se pronunciar sobre a mat-
ria
40
. No o fazendo, e no obtendo do presidente do rgo algum
tipo de prorrogao, poder chegar a perder a relatoria para outro
membro da comisso.
passa a ter preferncia para apreciao sobre o texto original da proposio. Destina-se
a alterar o texto original em seu todo, substituindo-o por outro mais adequado ou conve-
niente segundo a opinio de quem o prope.
40
Os prazos das comisses para emitirem seus pronunciamentos variam conforme o
regime de tramitao da matria. O Regimento Interno cogita de trs regimes de tramita-
o: o de urgncia, em que se procura acelerar o quanto possvel o trmite, dispensan-
do-se inclusive algumas formalidades regimentais para que se possa, desde logo, con-
cluir a apreciao da matria; o de prioridade, que no to clere quanto o de urgncia
mas d s proposies que tramitam sob esse regime preferncia para ser apreciadas
logo aps as em regime de urgncia; e o regime ordinrio, onde so cumpridos todos
os prazos e formalidades regimentais normais. As comisses dispem de cinco sesses
para emitir parecer sobre matria em regime de urgncia, dez, para as em regime de
prioridade, e quarenta, para as em regime ordinrio. Observa-se que, para a contagem
desses prazos, as sesses consideradas so as sesses do Plenrio, e no as reunies
das comisses.
Como se fazem as leis
42
3.3. Audincias pblicas
Entre o recebimento de uma proposio e a apresentao do
parecer do relator, podem ocorrer reunies de audicia pblica na
comisso com o objetivo de instruir e esclarecer o relator e os de-
mais membros sobre as convenincias ou inconvenincias da apro-
vao da matria tratada na proposio.
Para as audincias podero ser convidados a expor suas idias
sobre o tema autoridades em geral, representantes de entidades da
sociedade civil organizadas e especialistas na matria, devendo ser
aprovados previamente os nomes pelo plenrio da comisso.
3.4. Apresentao e discusso do parecer
Uma vez apresentado o parecer pelo relator, aguardar-se- sua
incluso na pauta de uma das reunies da comisso, para ser sub-
metido a discusso e votao pelos demais membros.
Com a apresentao comisso, o parecer do relator passa a
ser de conhecimento pblico, sendo includo seu texto no sistema
de registro eletrnico de tramitao de processos. comum, a par-
tir da, a apresentao de votos em separado
41
por membros da
41
Voto em separado , de fato, um parecer alternativo ao do relator, guardando as mes-
mas caractersticas formais daquele: escrito e externa uma opinio fundamentada so-
bre a aprovao ou rejeio da proposio.
Luciana Botelho Pacheco
43
comisso que pretendam manifestar por escrito eventuais divergn-
cias com o texto proposto pelo relator.
Uma vez includa na pauta da comisso a matria e anunciada sua
discusso pelo presidente durante uma reunio do rgo, passa-se
a palavra, em primeiro lugar, ao relator, para leitura de seu parecer, e
em seguida aos deputados inscritos para debater a matria. Nessa
fase dos trabalhos, qualquer dos membros da comisso poder pe-
dir vista
42
do processo, o que implica a interrupo imediata da dis-
cusso, pelo prazo de duas sesses
43
. A vista pode ser concedida
a mais de um membro vista conjunta , desde que feitos todos os
pedidos na mesma oportunidade, correndo conjuntamente o prazo
para todos os que a tenham solicitado.
Esgotada a fase de vista e retornando a matria pauta da co-
misso, prosseguiro os debates, se ainda houver oradores inscri-
tos, devendo ser facultada a palavra, ao final, ao relator, para suas
ltimas consideraes sobre a matria. Nessa oportunidade, se tiver
ele se convencido, durante a fase de discusso, da necessidade de
promover alteraes em seu parecer, poder solicitar ao presidente
prazo at a reunio seguinte da comisso para apresentar o novo
42
O pedido de vista um direito assegurado a qualquer membro da comisso. Implica o
direito de, antes de ter incio a fase de votao, examinar-se o processo, inclusive o voto
apresentado pelo relator, para certificar-se da posio a ser tomada em relao matria.
43
Cf. art. 57, XVI, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
44
texto, ou anunciar oralmente as alteraes na prpria reunio, as
quais, posteriormente, sero reduzidas a escrito, para anexao
aos autos do processo.
3.5. Votao
3.5.1. Qurum
Para qualquer deliberao legislativa, a Constituio Federal exi-
ge a presena mnima da maioria absoluta do total de membros vo-
tantes o que equivale ao primeiro nmero inteiro superior metade
do referido total. Uma deliberao tomada sem esse nmero mni-
mo de membros presentes o chamado qurum de presena
considerada nula, no podendo surtir nenhum efeito vlido
44
.
Nas votaes realizadas no mbito das comisses, que tambm
so espcie de deliberao legislativa, a regra no poderia ser di-
ferente: para deliberar, devem elas contar com a presena, no mni-
mo, da maioria absoluta de seus membros. Assim, por exemplo, se
uma comisso tem 51 membros ao todo, dever haver pelo menos
26 deles presentes no momento em que se processar uma votao.
A forma de verificao dessas presenas, entretanto, ser diferente
conforme o sistema de votao empregado.
44
Cf. art.47, Constituio Federal.
Luciana Botelho Pacheco
45
3.5.2. Sistemas de votao
So dois os sistemas de votao previstos no Regimento Interno
da Cmara, o simblico e o nominal. Pelo processo simblico, que
o empregado na maior parte das votaes, o presidente determina
aos deputados favorveis aprovao do parecer do relator que
permaneam como estiverem (cabendo aos contrrios manifestar-
se, em geral levantando a mo); declara o presidente, ento, o re-
sultado observado. Por meio desse sistema, a presena mnima de
membros necessria para a validade da deliberao presumida,
baseando-se apenas nos nomes assinados na lista correspondente
quela reunio, no se verificando se os membros esto fisicamen-
te presentes no recinto onde se realiza a votao. Imediatamente
aps a declarao do resultado, contudo, essa presuno pode vir
a ser contestada por meio de um requerimento de verificao de
votao, cuja apresentao obriga a Presidncia a desconsiderar
a votao pelo processo simblico e promover nova deliberao,
agora pelo processo nominal.
Nesse, diferentemente do simblico, os membros so chama-
dos, um a um, a declarar oralmente seu votos, o que torna essen-
cial a presena fsica no recinto da votao. Uma vez computados
todos os votos, se se verifica que o nmero de presentes no aten-
deu ao mnimo exigido, a votao no pode ser considerada vlida,
Como se fazem as leis
46
encerrando-se a reunio e reiniciando-se o processo de deliberao
na reunio subseqente da comisso.
3.5.3. A votao do parecer
O parecer do relator submetido a votos aps o encerramento
da discusso ou, quando o caso, aps a manifestao oral do
relator no sentido da reformulao do texto, ou de sua entrega por
escrito comisso.
H trs possibilidades de resultado: aprovao integral, aprova-
o em parte, ou rejeio. No primeiro caso, o parecer do relator, tal
como apresentado votao, passa a constituir-se no parecer final
da comisso, encerrando a tramitao da proposio no mbito do
rgo. No segundo caso, passar igualmente a constituir-se no pa-
recer final da comisso, mas no como originalmente apresentado
votao: aprovado apenas em parte, o parecer deve ter sido modi-
ficado durante a votao por meio da aprovao de destaques, que
so um instrumento regimental destinado a promover alteraes no
texto da proposio no momento em que esteja sendo votado
45
.
45
Os destaques so apresentados por meio de requerimentos prprios, e podem ser
aceitos at o anncio da votao da matria. H vrias espcies de destaque: o mais
famoso deles, chamado destaque para votao em separado, ou DVS, tem o poder de re-
tirar uma parte do texto a ser votado, a qual s voltar a integr-lo se, em votao separa-
da feita depois, for aprovada. H destaques que incidem sobre emendas, visando apro-
v-las, quando o parecer as tenha rejeitado, ou rejeit-las, quando as tenha aprovado.
Luciana Botelho Pacheco
47
Finalmente, em caso de rejeio do parecer do relator, o presi-
dente dever nomear outro membro para elaborar o chamado pa-
recer vencedor, texto que dever reproduzir a posio majoritria
na comisso sobre a matria, externada por ocasiso da votao
do primeiro parecer. Esse texto chamado de vencedor porque o
Regimento Interno considera j ter sido tomada uma deciso sobre a
matria em apreciao, deciso essa correspondente ao oposto do
que propunha o primeiro parecer apresentado, como a rejeio do
projeto, por exemplo, se aquele propugnava por sua aprovao.
O parecer vencedor, uma vez apresentado, constituir-se- no pa-
recer da comisso
46
, e o do relator originrio derrotado, por sua vez,
em voto em separado
47
, passando a constar dos autos do processo,
a partir da, com essa designao.
H, tambm, um tipo de destaque que visa apenas a separar parte da proposio princi-
pal para que passe a tramitar autonomamente. Veja maiores detalhes sobre seu proces-
samento no item 4.2.2, adiante.
46
O parecer da comisso , na verdade, o texto do parecer aprovado pela comisso (o
do relator originrio ou o vencedor, conforme o caso), acrescido de uma terceira parte,
tambm chamada parecer da comisso, que relata, apenas, o resultado da votao, os
nomes dos votantes e dos autores de votos em separado.
47
O voto em separado, nessa situao, atpico: no foi inteno de seu autor (o relator
derrotado) apresent-lo nessa condio, mas o resultado da votao fez com que pas-
sasse a ter esse carter, por no contar com o apoio da maioria da comisso.
Como se fazem as leis
48
3.6. Providncias decorrentes da aprovao do
parecer da comisso
Aprovado o parecer de uma comisso sobre proposio sub-
metida a seu exame, os autos do processo a ela referentes so
encaminhados pela respectiva secretaria prxima comisso que
tiver de se pronunciar sobre a matria ou diretamente Mesa da
Cmara, se se tratar da ltima ou nica comisso competente para
emitir pronunciamento.
3.6.1. Proposies sujeitas ao poder conclusivo
das comisses
Em se tratando de proposio sujeita ao poder conclusivo de
apreciao das comisses, a tarefa da Mesa, ao receber o proces-
so, ser (1) providenciar que a deciso tomada pelos rgos tcni-
cos seja anunciada em sesso do Plenrio, e (2) mandar publicar
aviso referente abertura de prazo para eventual apresentao de
recurso contra a deliberao tomada
48
.
Quando a deciso das comisses tenha sido no sentido da
aprovao da proposio, se esgotado o prazo sem apresentao
de recurso em contrrio, a proposio dever retornar Comisso
48
Cf. art. 58, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Luciana Botelho Pacheco
49
de Constituio e Justia e de Cidadania, para a elaborao de sua
redao final
49
, estando, aps, definitivamente aprovada e pronta
para ser encaminhada promulgao, ao Senado Federal ou ao
presidente da Repblica, conforme o caso
50
.
Se a deciso das comisses for no sentido da rejeio da ma-
tria e no houver sido apresentado recurso em contrrio, a propo-
sio ser encaminhada ao arquivo da Casa, sendo considerada
rejeitada em definitivo.
Quando houver apresentao de recurso contra qualquer deci-
so tomada pelas comisses e o Plenrio lhe der provimento, o po-
der conclusivo deixar de existir, passando a proposio a depen-
der da deliberao final do Plenrio para ser considerada aprovada
ou rejeitada, devendo, ento, aguardar incluso na Ordem do Dia
da Cmara para ser apreciada.
3.6.2. Proposies dependentes da deliberao do Plenrio
Uma vez encerrada a fase de apreciao pelas comisses, as
49
A redao final a forma do texto final resultante da apreciao da matria pelas vrias
comisses.
Nessa fase, a Comisso de Constituio e Justia e de Cidadania tem a tarefa de harmo-
nizar as diversas emendas eventualmente apresentadas pelos rgos tcnicos, consoli-
dando-as em texto nico, sem promover alteraes.
50
Ver, mais adiante, no Captulo IV, item 1, maiores detalhes sobre esses encaminhamentos.
Como se fazem as leis
50
proposies sujeitas deliberao do Plenrio sero encaminhadas
Mesa com os respectivos pareceres, devendo aguardar incluso
na Ordem do Dia
51
para sua apreciao final pelos deputados.
4. Em Plenrio
A apreciao de uma proposio pelo Plenrio da Cmara dos
Deputados constitui-se das fases de discusso e votao.
4.1. A discusso
A discusso a fase dos trabalhos em que a proposio de-
batida pelos parlamentares inscritos
52
.
A inscrio para uso da palavra feita perante a Mesa, antes
de iniciar-se a discusso, devendo cada debatedor declarar previa-
mente se ir manifestar-se contra ou a favor da aprovao da pro-
posio. Com isso, a Mesa pode organizar duas listas de oradores,
concedendo a palavra alternadamente aos de um e de outra, de
modo que a um orador favorvel aprovao da matria suceda,
sempre que possvel, um contrrio.
51
Ordem do Dia o mesmo que pauta, lista de matrias previstas para apreciao
numa sesso.
52
Cf. art. 165 e seguintes do Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Luciana Botelho Pacheco
51
Os oradores, via de regra, s podem usar da palavra uma vez
cada um, e pelo prazo de cinco minutos, durante a discusso de
qualquer proposio. Nesse tempo ficam includos os eventuais
apartes
53
que vierem a conceder.
O encerramento da discusso ocorrer quando no houver mais
oradores inscritos, ou quando for aprovado pelo Plenrio requeri-
mento nesse sentido.
4.1.1. Apresentao de emendas
A fase de discusso de uma proposio sujeita apreciao do
Plenrio tambm a fase prpria para que os deputados apresen-
tem suas emendas matria.
As emendas eventualmente apresentadas podero: 1) implicar
a retirada de toda a matria da pauta de apreciao do Plenrio e
o encaminhamento do processo s comisses competentes, para
que dem seus pareceres sobre as emendas; ou 2) receber pare-
cer imediatamente, em plenrio, por meio de relatores designados
pelo presidente em substituio s comisses.
53
Aparte a interrupo do orador, por parte de outro deputado, para indagao, pedido
de esclarecimento ou manifestao de apoio fala do orador que est na tribuna. Para
apartear, preciso obter a permisso expressa do orador.
Como se fazem as leis
52
4.2. A votao
A votao de uma proposio deve ocorrer imediatamente
aps o encerramento da discusso, salvo se no houver qurum
de presena para a votao ou se o processo houver sido retirado
de pauta para encaminhamento s comisses, no caso de recebi-
mento de emendas.
O qurum de presena para votao o mesmo exigido no m-
bito das comisses: maioria absoluta do total de membros, ou seja,
em se tratando do Plenrio, constitudo pelo conjunto da Casa, o
equivalente hoje a no mnimo 257 deputados, que o primeiro n-
mero inteiro superior metade do total de 513.
Para dar incio a um processo de votao, a Presidncia ve-
rificar primeiramente se h presenas suficientes em plenrio
por meio dos nomes registrados no painel eletrnico localizado
no recinto de votao. S aps atingido esse qurum no painel a
votao poder ser iniciada, independentemente do processo de
votao a ser empregado
54
.
Como nas comisses, tambm os processos de votao em
plenrio podem ser de dois tipos, o simblico e o nominal. Por
meio do processo simblico, que o usado nas votaes em
geral, o presidente convida os deputados a favor da matria a
54
Cf. art. 83 e art. 180 e seguintes, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Luciana Botelho Pacheco
53
permanecerem como esto, cabendo aos contrrios manifestar-
se, em geral levantando uma das mos. O resultado observado
declarado pelo presidente, podendo vir a ser contestado por
meio de um pedido de verificao, que desconsidera a votao
simblica e conduz a novo processo de deliberao, dessa vez
pelo sistema nominal
55
.
A votao nominal no plenrio se faz por meio do painel ele-
trnico: cada deputado deve digitar sua senha pessoal e seu voto
nos terminais localizados nas bancadas e em postos avulsos loca-
lizados no recinto da votao. A durao desse processo fica nas
mos do presidente, que o responsvel por sua abertura e en-
cerramento. O resultado final s aparece no painel eletrnico aps
encerrada a votao, sendo identificados os nomes dos votantes,
os votos dados e o total de votos sim, no e absteno
56
.
4.2.1. O ordenamento da votao
Em Plenrio, diferentemente do que ocorre nas comisses, o
que se pe em votao no so os pareceres dos rgos tcnicos
55
Deve-se observar que a apresentao de pedidos de verificao de votao no livre:
deve ser apoiado por pelo menos seis centsimos dos membros da Casa, e s pode
ocorrer depois de passada uma hora desde a ltima verificao processada.
56
H casos excepcionais em que a votao deve ser secreta, isto , os votos no podem ser
identificados. O painel eletrnico, nesses casos, registra apenas o resultado da votao.
Como se fazem as leis
54
(que na verdade servem apenas como instruo, como recomen-
dao de voto, no tendo carter decisrio), e sim diretamente as
proposies principais e as emendas apresentadas.
H uma srie de regras no Regimento Interno para ordenar
essa votao, estabelecendo-se o que deve ser votado em primei-
ro lugar e o que pode ser considerado prejudicado
57
em face de
uma votao j ocorrida.
Observa-se que a votao da proposio principal, ou de subs-
titutivo a ela proposto, feita, via de regra, de forma genrica, so-
bre todo o texto, excetuando-se da votao apenas as partes que
tenham sido objeto de destaque. J a votao das emendas se faz
por grupos, reunindo-se num deles, para votao, as que tenham
recebido parecer favorvel por parte das comisses, e no outro,
as que tenham recebido parecer contrrio, sendo votadas indivi-
dualmente apenas as que tenha sido objeto de destaque e as que
tenham recebido pareceres divergentes entre as comisses.
57
A prejudicialidade impede a sujeio de uma proposio a votos, determinando, desde
logo, seu encaminhamento ao arquivo. Ocorre em geral como conseqncia de algu-
ma deliberao j tomada, visando ora evitar novas votaes sobre o mesmo tema, ora
votaes sobre textos contraditrios entre si, que possam redundar numa redao final
desprovida de coerncia e sentido. A prejudicialidade pode se dar, tambm, por mera
perda de oportunidade para a apreciao de uma matria, como na hiptese de um pro-
jeto que visa a alterar lei que j tenha sido revogada, ou quando cuide de regulamentar
situao j exaurida no tempo, por exemplo.
Luciana Botelho Pacheco
55
4.2.2. Os requerimentos de destaque
Os destaques, como j se mencionou na parte referente s co-
misses, so um instrumento regimental concebido para uso no
momento da votao de um proposio, podendo assumir finali-
dades diversas: dificultar a aprovao de determinada parte, reti-
rando-a do todo e obrigando sua apreciao separadamente (o
chamado destaque para votao em separado, ou DVS); suprimir
partes da proposio j aprovada globalmente (destaque supressi-
vo simples); aprovar ou rejeitar emendas, retirando-as dos grupos
para votao em separado; dar preferncia, na votao, a uma pro-
posio sobre outra, invertendo a ordem regimental natural; retirar
parte de uma proposio para faz-la tramitar de forma autnoma,
constituindo nova proposio
58
.
Destaques so apresentados por meio de requerimentos pr-
prios, os quais podem ser de dois tipos: os de concesso automti-
ca, propostos pelas bancadas dos partidos, e os que dependem de
deliberao do Plenrio.
O nmero de requerimentos de concesso automtica que cada
bancada pode apresentar fixado pelo Regimento Interno na propor-
o do nmero de membros: um partido que tenha uma bancada entre
cinco e vinte e quatro deputados, por exemplo, tem direito a apresentar
58
Cf. art. 161 e 162, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
56
apenas um por matria, enquanto as que tenham entre cinquenta e
setenta e quatro deputados podem apresentar at trs. A partir de se-
tenta e cinco deputados, contudo, o nmero deixa de ser proporcional
para fixar-se em quatro: este o mximo de destaques que mesmo as
maiores bancadas tero direito a concesso automaticamente.
J os requerimentos de destaque sujeitos deliberao do Ple-
nrio no tm limitao de nmero, sendo de se notar que, quando
destinados a solicitar DVS devem cumprir requisito de admissibilida-
de: ser subscritos por no mnimo um dcimo do total de membros
da Casa, ou por lderes de bancadas que disponham desse nmero
mnimo de integrantes.
Todos os requerimentos de destaque, inclusive os de bancada,
devem ser apresentados at o anncio da votao da proposio.
4.3. A redao final
Uma vez ultimada a votao de uma matria no Plenrio, dever
ser remetido o processo comisso competente para a elabora-
o da redao final da proposio, que a redao do texto afinal
vencedor, incorporado de todas as alteraes aprovadas por meio
de emendas e destaques. O texto assim elaborado pela comisso
competente dever sujeitar-se ainda ratificao do Plenrio antes
de ser tido como definitivamente aprovado pela Casa
59
.
59
Cf. art. 195 e seguintes, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Luciana Botelho Pacheco
57
Captulo III Procedimentos
epeiais de tramitao de proposie
Algumas proposies legislativas submetem-se, na Cmara
dos deputados, a regras especiais de tramitao, seja por en-
volverem matrias muito complexas ou de especial relevncia
institucional, como projetos de cdigo e propostas de emenda
Constituio, por exemplo, seja por estarem sujeitas a um rito
de apreciao mais clere que o ordinrio, como o caso de
medidas provisrias e de quaisquer projetos de lei que venham a
tramitar sob regime de urgncia.
Tambm se sujeitam a procedimentos de tramitao especial as
proposies relacionadas a matria oramentria como os proje-
tos de lei do oramento anual, de diretrizes oramentrias, do pla-
no plurianual que tramitam perante as duas Casas em conjunto,
sendo o respectivo processo regulado por normas integrantes do
Regimento Interno do Congresso Nacional, tambm chamado Re-
gimento Comum das duas Casas.
Como se fazem as leis
58
1. Propostas de emenda Constituio
Propostas de emenda Constituio, como j se mencionou an-
teriormente, so proposies destinadas a promover mudanas no
texto da Constituio vigente.
Uma vez apresentadas Casa, submetem-se a uma fase pr-
via de admissibilidade perante a Comisso de Constituio e Jus-
tia e de Cidadania
60
, a quem cumpre verificar se preenchem os
requisitos constitucionais para tramitar, isto : 1) se foram apre-
sentadas por agente legtimo
61
; 2) se no contm disposies
tendentes a abolir a forma federativa do Estado, o voto direto,
secreto, universal e peridico, a separao dos Poderes ou os
direitos e garantias individuais; 3) se no tratam de matria j
contemplada em outra proposta rejeitada ou tida por prejudicada
na sesso legislativa em curso.
Sendo o parecer da Comisso de Constituio e Justia e de
Cidadania no sentido da inadmissibilidade de uma proposta, seu
destino ser o arquivamento, exceto na hiptese de provimento de
60
Cf. art. 202, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
61
Agente legtimo para propor emendas constitucionais perante a Cmara dos Depu-
tados so o presidente da Repblica, mais da metade das assemblias legislativas
das unidades da Federao, o Senado Federal ou a tera parte, no mnimo, do total
de deputados.
Luciana Botelho Pacheco
59
recurso em contrrio, para cuja apresentao se exige o apoiamen-
to de pelo menos um tero do total de deputados.
Quando, ao contrrio, o parecer da Comisso for pela admissi-
bilidade, a Presidncia da Casa dever instituir uma comisso tem-
porria, especial, para examinar e emitir parecer sobre o mrito da
proposta, a qual ter o prazo de at quarenta sesses para concluir
seu trabalho.
Perante a comisso especial podero ser apresentadas emen-
das proposta dentro das primeiras dez sesses da instalao do
rgo, exigindo-se para sua aceitao a assinatura mnima da tera
parte do total de deputados
62
.
Em relao apreciao da matria no mbito da comisso es-
pecial e, posteriormente, no do Plenrio, as regras aplicveis sero
basicamente as mesmas previstas para a apreciao de projetos
de lei em geral: possibilidade de realizao de audincias pblicas
com autoridades e especialistas no assunto tratado na proposta,
apresentao do parecer por um relator, sua discusso e votao na
comisso, encaminhamento do processo Mesa aps concludos
os trabalhos no rgo tcnico, publicao do parecer e incluso da
matria na Ordem do Dia do Plenrio, para apreciao.
62
Cf. art. 202, 3, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
60
Sobre esta ltima fase, cumpre observar que apresenta um pon-
to de distino significativo em relao dos projetos de lei em ge-
ral: exigem-se dois turnos de discusso e votao para propostas
de emenda Constituio, s se considerando aprovadas aquelas
que venham a obter, em cada um deles, pelo menos trs quintos
de votos favorveis do total de membros da Casa, ou seja, hoje, o
equivalente a 308 votos.
2. Projetos de cdigo
O que o Regimento Interno da Cmara chama de projetos de
cdigo so, na verdade, determinados projetos de lei ordinria ou
complementar que, por sua abrangncia ou especial complexidade,
obtm um tratamento diferenciado por parte dos legisladores, seja
no tocante ao processo da elaborao de seu texto, normalmente
envolvendo vrios captulos e ttulos dedicados ao trato das mais
variadas partes componentes da matria, seja no que diz respeito
ao processo de sua apreciao pelas comisses e pelo Plenrio,
normalmente muito mais longo e pontuado de formalidades que os
projetos de lei comum.
Um projeto de cdigo apresentado Cmara ser distribudo
a uma s comisso, de carter temporrio, especialmente cons-
Luciana Botelho Pacheco
61
tituda para o exame e a emisso de parecer sobre ele
63
. Peran-
te essa comisso que podero ser apresentadas emendas ao
projeto, no prazo de vinte sesses contado de sua instalao.
Para a apresentao de parecer sobre a matria, sero nome-
ados dentre os membros da comisso especial um relator-geral e
tantos relatores parciais quantos o nmero de partes do projeto o
exigir. Aos relatores parciais competir examinar exclusivamente as
partes que lhes tenham sido distribudas para relatar, encaminhando
pareceres parciais ao relator-geral, a quem competir sistematizar o
texto final a ser submetido apreciao do rgo tcnico.
Encerrada a fase dos trabalhos na comisso especial, o projeto
de cdigo ser submetido, em turno nico, discusso e votao
do Plenrio, que destinar sesses exclusivas para isso, no incluin-
do em pauta nenhuma outra proposio. Salvo quando no houver
mais oradores inscritos para o debate, os projetos de cdigo ficaro
em discusso por, no mnimo, cinco sesses, quando poder ser
encerrada e iniciada a respectiva votao, observando-se, a partir
da, basicamente as mesmas regras previstas para a apreciao de
projetos de lei em geral.
63
Cf. art. 205 e seguintes, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Como se fazem as leis
62
3. Medidas provisrias
Medidas provisrias so atos normativos com caractersticas de
lei e de projeto ao mesmo tempo. So, na verdade, leis de carter
precrio, tendo fora e aplicabilidade imediata, mas ficando em vigor
por tempo limitado sessenta dias, com possibilidade de prorroga-
o por mais sessenta, contados da publicao no Dirio Oficial
64
.
Uma vez editada uma medida provisria, o presidente do Con-
gresso Nacional ter o prazo de quarenta e oito horas para criar uma
comisso mista de deputados e senadores destinada a emitir parecer
sobre a matria no prazo improrrogvel de quatorze dias. Esse pare-
cer dever abordar tanto os aspectos de admissibilidade constitucio-
nal, jurdica e oramentria quanto de mrito da medida provisria,
podendo concluir por sua aprovao ou rejeio ou ainda pela apre-
sentao de um projeto de lei de converso, por meio do qual so
propostas alteraes ao texto original da medida provisria.
A apresentao de emendas por parte de deputados e senadores
poder ser feita perante a comisso mista, dentro dos primeiros
seis dias que se seguirem publicao da medida provisria no
Dirio Oficial.
Se a comisso mista no conseguir concluir seus trabalhos no
prazo de quatorze dias, o processo referente apreciao da medi-
64
Cf. art. 62, Constituio Federal e Resoluo n 1-CN, de 2002.
Luciana Botelho Pacheco
63
da provisria ser encaminhado diretamente ao Plenrio da Cmara
dos Deputados, designando-se um deputado para proferir, em subs-
tituio comisso mista, o parecer sobre a matria.
Caso a medida provisria no tenha sua apreciao encerrada
na Casa em at quarenta e cinco dias da data inicial de sua entrada
em vigor, tranca-se a pauta de deliberaes da Cmara, no se
podendo mais votar nenhuma matria enquanto no for ultimada a
votao da medida provisria.
Uma vez encerrada a apreciao na Cmara, seguir a matria
para reviso no Senado Federal, onde poder vir a ser alterada,
devendo, nesse caso, retornar Cmara para apreciao das mo-
dificaes l aprovadas.
Se o processo de apreciao de uma medida provisria no se
completar integralmente nas duas Casas dentro do prazo mximo
de sua vigncia cento e vinte dias, considerada a prorrogao
o presidente do Congresso Nacional deve comunicar o fato ao pre-
sidente da Repblica, fazendo publicar no Dirio Oficial da Unio
ato declaratrio do encerramento do prazo de vigncia de medida
provisria. Nessa hiptese, assim como na de aprovao apenas
parcial ou de rejeio de uma medida provisria, ao Congresso Na-
cional cumpre editar um decreto legislativo para regular as relaes
jurdicas que se formaram durante a vigncia provisria da medida.
Caso esse decreto legislativo no venha a ser elaborado num prazo
Como se fazem as leis
64
de sessenta dias a contar da rejeio ou da perda da eficcia da
medida, as relaes jurdicas dela decorrentes conservar-se-o re-
guladas como originariamente previsto na medida provisria.
As medidas provisrias aprovadas pelo Congresso Nacional
convertem-se definitivamente em lei, passando a integrar a ordem
jurdica nessa condio.
4. Proposies em regime de urgncia
Uma proposio legislativa pode tramitar em regime de urgncia
em razo: 1) da natureza da matria nela tratada, como o caso de
projetos sobre declarao de guerra, por exemplo; ou 2) de reque-
rimento aprovado pelo Plenrio
65
.
Em regime de urgncia, o prazo de que dispem as comisses
para emitir seus pareceres sobre uma proposio bastante pe-
queno cinco sesses, correndo em conjunto para todas as que
tiverem competncia para se manifestar sobre a matria
66
. Vencido
esse prazo, a proposio dever ser includa na Ordem do Dia do
Plenrio, com ou sem os pareceres das comisses.
Nessa ltima hiptese, a Presidncia dever designar relatores in-
dividuais para proferir parecer oral em Plenrio a respeito da matria,
65
Cf. art. 151, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
66
Cf. art.52, I, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Luciana Botelho Pacheco
65
em substituio s comisses, o que, na prtica, suprime a fase de
estudo e exame prvio da proposio no mbito dos rgos tcni-
cos, concentrando todo o processo legislativo na fase de Plenrio.
Alm disso, todas as exigncias, interstcios e formalidades nor-
malmente previstos no Regimento Interno para as proposies que
tramitam em regime ordinrio so suprimidos no regime de urgncia,
de modo a agilizar o quanto possvel a tramitao. S no podem
ser dispensados a publicao e a distribuio, aos deputados, de
cpias das proposies que devero ser apreciadas, os pareceres
sobre a matria (admitidos os de relatores designados em substi-
tuio s comisses, como mencionado) e o qurum normalmente
exigido para a respectiva deliberao
67
.
67
Cf. art. 152, Regimento Interno da Cmara dos Deputados.
Luciana Botelho Pacheco
67
Captulo IV
A detinao fnal das proposie
As proposies que tenham esgotado sua fase de tramitao em
qualquer das Casas Legislativas devero ser encaminhadas, na hi-
ptese de aprovao, outra Casa, promulgao ou ao presidente
da Repblica, conforme o caso; na hiptese de rejeio ou de decla-
rao de prejudicialidade, o destino ser o arquivamento definitivo.
1. Proposies aprovadas
1.1. Os encaminhamentos entre as Casas
Quando uma proposio aprovada originariamente numa das
Casas, dever ser remetida outra, para apreciao
68
. Nesse se-
gundo foro, reiniciar-se- o processo de apreciao, mas as re-
gras e formalidades aplicveis sero as previstas no respectivo
regimento interno.
Quando se d a aprovao tambm no mbito da segunda Casa,
h duas possibilidades: 1) sendo aprovada a proposio na ntegra,
68
Cf. art. 65, Constituio Federal.
Como se fazem as leis
68
o destino ser o encaminhamento ao presidente da Repblica ou
promulgao, conforme o caso; 2) sendo aprovada a proposio
com emendas, dever o processo retornar primeira Casa, para
apreciao das alteraes propostas.
Nessa ltima hiptese, a regra geral de que a ltima palavra so-
bre o texto a ser encaminhado promulgao ou ao presidente da
Repblica fique nas mos da Casa iniciadora: poder ela adotar as
emendas propostas pela outra Casa ou manter o texto original por ela
aprovado, sendo sua a deciso final. Isso s no ocorrer no caso de
propostas de emenda Constituio, que continuaro indo e voltando
de uma Casa outra at que se chegue a um consenso sobre o texto
a ser promulgado, que dever ter sido integralmente aprovado por am-
bas as Casas, em dois turnos de votao em cada uma delas.
1.2. Encaminhamento para sano ou veto
Sero encaminhados ao presidente da Repblica, para sano
ou veto, os projetos de lei aprovados que j tenham esgotado todos
os estgios de tramitao em ambas as Casas
69
.
A sano expressar a concordncia do chefe do Poder Execu-
tivo com o contedo do projeto aprovado pelo Legislativo. O veto,
ao contrrio, demonstrar sua oposio, total ou parcial, ao texto da
69
Cf. art. 66, Constituio Federal.
Luciana Botelho Pacheco
69
proposio, que no poder se transformar em lei exceto se vier a
ser rejeitado o veto pelo Congresso Nacional.
O presidente da Repblica dispe de quinze dias teis para san-
cionar ou vetar projeto de lei que lhe tenha sido encaminhado pelo
Legislativo. Aps esse prazo, no tendo havido manifestao ex-
pressa em contrrio, considerar-se- sancionado o projeto (sano
tcita), devendo ser encaminhado promulgao.
O veto, se vier a ocorrer, dever fundamentar-se em razes de
constitucionalidade ou de interesse pblico e ser comunicado pelo
presidente da Repblica ao presidente do Congresso Nacional, a
quem competir convocar sesso conjunta das duas Casas para
sua apreciao.
O veto presidencial a projeto de lei s poder ser derrubado pelo
voto secreto da maioria absoluta dos membros de cada uma das Ca-
sas do Congresso Nacional, hiptese em que o projeto dever ser reen-
viado ao presidente da Repblica, para a competente promulgao.
1.3. Promulgao
Promulgao o ato pelo qual a autoridade competente d cin-
cia ao pblico em geral de que uma lei foi aprovada e entrar em
vigor. A promulgao, na prtica, uma declarao sob a frmula
Fao saber que a Cmara dos Deputados (ou, no caso de matria
conjunta, (...) que o Congresso Nacional (...), ou ainda, que a
Como se fazem as leis
70
Cmara dos Deputados e o Senado Federal, na hiptese de emen-
da constitucional) ... aprovou e eu promulgo a seguinte lei (ou re-
soluo, etc.). Sua conseqncia mais imediata o encaminha-
mento do ato normativo publicao em veculo oficial, para que se
torne conhecido e aplicvel.
Sero encaminhadas diretamente promulgao as emendas
constitucionais aprovadas pela Cmara dos Deputados e pelo Sena-
do Federal, bem como os decretos legislativos e as resolues con-
juntas das duas Casas e as privativas de cada uma delas. Os proje-
tos de lei aprovados iro promulgao aps a sano ou a eventual
derrubada de veto presidencial por parte do Congresso Nacional.
As autoridades competentes para promulgar sero, no caso de
emendas constitucionais, as Mesas Diretoras de ambas as Casas; no
de decretos legislativos e resolues conjuntas, o presidente do Con-
gresso Nacional; no de resolues privativas da Cmara ou do Sena-
do, o respectivo presidente; no de leis, o presidente da Repblica ou,
na hiptese de sua omisso, o presidente do Senado Federal.
A promulgao da proposio legislativa aprovada definitiva-
mente constitui o ltimo ato do processo de feitura de uma lei, con-
duzindo publicao do respectivo texto nos rgos da imprensa
oficial para conhecimento pblico e aplicabilidade.
Aneo
Como se fazem as leis
72
Fluxograma do trmite de um projeto de lei
na Cmara dos Deputados
Do incio fase das comie
Designao de
relator na primeira
comisso.
Apresentao
Cmara dos
Deputados,
recebimento,
publicao,
numerao e
distribuio
s comisses
competentes
Sujeito a de-
liberao do
Plenrio
Sujeito a
poder con-
clusivo das
comisses
Designao
de relator na
primeira comis-
so e abertura
de prazo para
emendas
Apresentado o
parecer do rela-
tor com ou sem
substitutivo
Apresenta-
do o parecer
do relator
Luciana Botelho Pacheco
73
Parecer do
relator sobre
emendas ao
substitutivo
Parecer
vencedor
Encerramen-
to do processo
na comisso e
encaminhamento
prxima comis-
so competente
para exame da
matria
Parecer
rejeitado
Matria pronta
para apreciao
na comisso
Sem
substitutivo
Com
substitutivo
Prazo para
emendas ao
substitutivo
Discusso
e votao do
parecer
Parecer
aprovado
Designao
de novo relator
Como se fazem as leis
74
Providncias aps a fase das comie
Encami-
nhamento
do processo
Presidn-
cia para:
No caso de
projeto sujeito ao
poder conclusivo
das comisses
No caso de
projeto sujeito
deliberao final
do Plenrio
Abertura de
prazo para even-
tual apresentao
de recurso contra
a deciso das
comisses
Sendo a deciso
pela rejeio
Sendo a deciso
pela aprovao
Luciana Botelho Pacheco
75
Havendo
recurso em contrrio
No havendo
recurso em contrrio
Redao final
Arquivamento
Apreciao
em Plenrio
Encaminhamento
ao Senado ou ao pre-
sidente da Repblica,
conforme o caso
No havendo
recurso
Como se fazem as leis
76
Em plenrio
Incluso
do projeto na
ordem do dia
1
a
fase:
discusso
Encerrada
a discusso
Oportunidade
para a apresenta-
o de emendas
Com
emendas
Sem
emendas
Retirada do
projeto de pauta e
encaminhamento do
processo s comis-
ses, para exame
das emendas
Luciana Botelho Pacheco
77
Proferidos os
pareceres das
comisses sobre
emendas
2
a
fase:
votao
Projeto
aprovado
Projeto
rejeitado
Redao final
Arquivo
Encaminhamentos
constitucionais
Reincludo o projeto
da ordem do dia
Luciana Botelho Pacheco
79
Biograa
Luciana Botelho Pacheco consultora legislativa da Cmara dos
Deputados desde fevereiro de 1991, onde vem atuando na rea de
Direito Constitucional com enfoque sobre o Processo Legislativo.
Graduada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro (UERJ), especializou-se em Assessoria Parlamentar e Processo
Legislativo pela Universidade de Braslia. autora dos livros: A tra-
mitao de proposies na Cmara dos Deputados do incio fase
das comisses (2003), Questes sobre processo legislativo (1995),
e Questes sobre processo legislativo e regimento interno (2002),
os dois ltimos em co-autoria com a tambm consultora legislativa
Paula Ramos Mendes.
Você também pode gostar
- Modelo de Petição Inicial em Visual LawDocumento6 páginasModelo de Petição Inicial em Visual LawHenrique De Almeida100% (4)
- Livro Curso de Processo Penal - Eugênio Pacelli (2021)Documento8 páginasLivro Curso de Processo Penal - Eugênio Pacelli (2021)Anonymous 2BOteqAinda não há avaliações
- Notificação Extrajudicial Dra Rafaela AraujoDocumento3 páginasNotificação Extrajudicial Dra Rafaela AraujoAdvogada Camila ValerioAinda não há avaliações
- Texto de Apoio 1 PDFDocumento118 páginasTexto de Apoio 1 PDFAndreia OliveiraAinda não há avaliações
- Ciência PenalDocumento45 páginasCiência Penalhamagy gymahaAinda não há avaliações
- Alexandre Jose Granzotto Resumo Etica Na Administracao PublicaDocumento57 páginasAlexandre Jose Granzotto Resumo Etica Na Administracao Publicawa2010Ainda não há avaliações
- Vade Mecum Direito PenalDocumento33 páginasVade Mecum Direito PenalStefany NeubanerAinda não há avaliações
- Apostila 001 - Abuso de Autoridade PDFDocumento19 páginasApostila 001 - Abuso de Autoridade PDFbincrislucasAinda não há avaliações
- 2022 12 23 ASSINADO Do1Documento267 páginas2022 12 23 ASSINADO Do1Thaís FragosoAinda não há avaliações
- Peticao - Requerimento de Expedição de Carta de ArrematacaoDocumento4 páginasPeticao - Requerimento de Expedição de Carta de ArrematacaoEstagiarios (Guardiões)Ainda não há avaliações
- Guia de Lei Seca e Súmulas - Direito TributárioDocumento33 páginasGuia de Lei Seca e Súmulas - Direito TributárioAlexandre GuerreiroAinda não há avaliações
- Empresário Volta A Questionar Leilão de Imóvel Arrematado Por SalesDocumento4 páginasEmpresário Volta A Questionar Leilão de Imóvel Arrematado Por SalesNE NotíciasAinda não há avaliações
- Notificacao AvulsaDocumento4 páginasNotificacao AvulsaMiguel Augusto PmfAinda não há avaliações
- Telefones e Endereços Das Comarcas ESDocumento46 páginasTelefones e Endereços Das Comarcas ESalanalfimAinda não há avaliações
- Avaliação I - Individual 22-09-2021 - FeitoDocumento5 páginasAvaliação I - Individual 22-09-2021 - FeitoRegis RegisAinda não há avaliações
- Prova ObjetivaDocumento15 páginasProva ObjetivaCléoSilvaAinda não há avaliações
- Modelo de Peça APELAÇÃODocumento9 páginasModelo de Peça APELAÇÃOPaulist Pessoa Batuta0% (1)
- Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz Da 83 Vara Do Trabalho de Tribobó Do OesteDocumento5 páginasExcelentíssimo Senhor Doutor Juiz Da 83 Vara Do Trabalho de Tribobó Do OesteMac SwellAinda não há avaliações
- Apostila de Processo Penal - para o TJDocumento50 páginasApostila de Processo Penal - para o TJfelippituanAinda não há avaliações
- Formulação Da DenúnciaDocumento2 páginasFormulação Da DenúnciamathezotteAinda não há avaliações
- MI 4733 Criminalização Da HomotransfobiaDocumento282 páginasMI 4733 Criminalização Da HomotransfobiaVera Lúcia Silva VieiraAinda não há avaliações
- Execução Por Quantia CertaDocumento3 páginasExecução Por Quantia CertaJoao Victor Dionisio PaesAinda não há avaliações
- Alegações Finais - Raimundo NetoDocumento8 páginasAlegações Finais - Raimundo NetoRosiane BalieiroAinda não há avaliações
- Apreciação Critica Do AcórdãoDocumento5 páginasApreciação Critica Do AcórdãombAinda não há avaliações
- AntijuridicidadeDocumento17 páginasAntijuridicidadeCamylla CamposAinda não há avaliações
- Perguntas & Respostas - Direito Processual CivilDocumento18 páginasPerguntas & Respostas - Direito Processual CivilscripzAinda não há avaliações
- Tabela Precos ConsumidorDocumento29 páginasTabela Precos ConsumidornexkassioAinda não há avaliações
- Procuração - INSS - 2023Documento1 páginaProcuração - INSS - 2023oabsantacatarinaAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do Direito - Rui MedeirosDocumento34 páginasIntrodução Ao Estudo Do Direito - Rui MedeirosHernane CostaAinda não há avaliações
- Lei Orgânica Do Município de JacareíDocumento60 páginasLei Orgânica Do Município de Jacareíeduardo oliveiraAinda não há avaliações