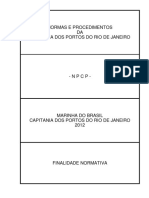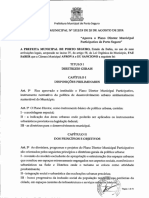Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Arte Do OBSERVADOR PANORAMAS PDF
A Arte Do OBSERVADOR PANORAMAS PDF
Enviado por
Andrea LagoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Arte Do OBSERVADOR PANORAMAS PDF
A Arte Do OBSERVADOR PANORAMAS PDF
Enviado por
Andrea LagoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
124 Revista FAMECOS Porto Alegre n 11 dezembro 1999 semestral
NOVAS TECNOLOGAS
A urIe do
observudor
Andr Parente
Doutor em Cinema pela Universidade Paris VIII
Diretor da ECO/UFRJ
nIrodouo
ESTE TEXTO SE DIVIDE em trs partes. Em pri-
meiro lugar, faremos uma breve exposio
do Visorama, sistema de realidade virtual e
multimdia desenvolvido em parceria da
Escola de Comunicao com o Instituto de
Matemtica Pura e Aplicada. Em segundo
lugar, analisaremos o caso dos panoramas,
primeiros dispositivos imagticos de comu-
nicao de massa a proporcionar uma imer-
sividade total, ainda no sculo XVIII. Em
terceiro lugar, tencionamos mostrar que os
panoramas esto relacionados a uma ruptu-
ra maior do regime escpico produzido na
passagem do sculo XVIII ao sculo XIX, re-
gime que situa a experincia visual no cor-
po de um espectador autnomo. Os panora-
mas rompem com uma certa viso da hist-
ria: o evolucionismo tecnolgico e a idia
de que a modernidade , antes de mais
nada, uma transformao que rompe com a
imagem como sistema de representao ao
trazer o espectador para o centro da obra.
O ssIemu Vsorumu
O Visorama, sistema de realidade virtual e
multimdia realizado pelo Ncleo de Tec-
nologia da Imagem (N-Imagem ) da Escola
de Comunicao da UFRJ em parceria com
o Projeto Visgraf do Instituto de Matemti-
ca Pura e Aplicada (IMPA) se distingue dos
outros sistemas em seus trs nveis de desen-
volvimento, ao nvel do Software, ao nvel do
Hardware e ao nvel das suas aplicaes.
Ao nvel do software, o Visorama utili-
za novas tcnicas de visualizao baseadas
em imagens, que os americanos denomi-
nam de imaged based rendering. Estas tcni-
cas, surgidas no incio dos anos 90, permi-
tem a criao de imagens de sntese ou am-
bientes virtuais fotorealistas. Hoje em dia,
inmeros programas - como por exemplo, o
Quicktime VR, da Apple, e o Photovista, da
RESUMO
O recente desenvolvimento de tcnicas de visualizao ba-
seada em imagens panormicas fotogrficas possibilitaram
a representao de ambientes virtuais fotorealistas gerados
por computador, que chamamos de panoramas virtuais. Ba-
seados nestas tcnicas estamos desenvolvendo um novo sis-
tema de visualizao, intitulado Visorama, que utiliza com-
ponentes de hardware e de software que nos permite
implementar uma nova potica dos espaos urbanos. O
Visorama um sistema que integra uma linhagem
tecnolgica desconhecida de grande parte dos estudiosos da
imagem-tcnica. Na verdade, o panorama, criado por
Robert Barker no final do sculo XVIII, nos permite
reencenar a histria da arte e da imagem tcnica, pois trata-
se de um sistema que est na origem de uma srie de ques-
tes fundamentais, entre elas as questes da imersividade e
da modernidade. Se verdade que a arte e a cincia moder-
na no podem mais ser pensadas seno com a entrada em
cena da figura do observador, nos parece que o panorama
vem por em prtica, ou melhor, objetivar, aquilo que na
pintura s existia em potncia. Por outro lado, a imersi-
vidade implementada pelo panorama faz desta arquitetura
o ponto nodal do desenvolvimento posterior do cinema, dos
parques temticos e dos atuais sistemas de realidade virtual.
ABSTRACT
This article discusses the historical production of virtual pa-
noramas as well as the latest computer techniques used by
the Visorama system under development by the author and
his research team, pointing to the relationship of such
images to those presented by the cinema, by thematic parks
and by systems of virtual reality.
125 Revista FAMECOS Porto Alegre n 11 dezembro 1999 semestral
Live Picture -, fazem uso destas tcnicas
para produzir visitas virtuais em ambientes
reais de grande interesse turstico tais como
as cidades, os museus, os jardins, os palci-
os, os parques de diverso, entre outros.
Mas estes programas tm duas gran-
des limitaes: s podem ser apresentados
em telas planas e rodam apenas imagens de
baixa resoluo, o que limita as visitas vir-
tuais do ponto de vista da imerso.
Ao nvel do hardware, o Visorama si-
mula, por sua carenagem, um sistema tico
tradicional, no caso, um telescpio. O pro-
ttipo do Visorama possui um visor bino-
cular que torna possvel a implementao
de uma viso estereoscpica (3D), e apre-
senta uma altssima resoluo de imagem
(algo em torno de mil linhas verticais, o
equivalente a uma imagem de HDTV). O
aparelho por si s representa um segundo
nvel de simulao, que torna mais natural
e imersiva a relao dos usurios com as
imagens geradas. O objetivo bsico do apa-
relho criar a iluso, no observador, de que
ele est a olhar para o espao circundante
atravs da ocular do visor.
O sistema Visorama.
Ao nvel das aplicaes, o sistema como
um todo tenciona promover uma interao
mais natural com o espao real, pois se ca-
racteriza como a possibilidade de visualiza-
o do real atravs de uma janela virtual.
Trata-se portanto de um sistema de realida-
de aumentada ou expandida, que incre-
menta a interao do observador com a rea-
lidade atravs do virtual. A interao do
observador com a realidade est relaciona-
da a dois tipos bsicos de deslocamentos: o
espectador se desloca no espao seguindo
os diversos pontos nodais nele contidos
como tantas possibilidades de navegao; o
espectador se desloca no tempo atravs de
suas esperas, uma vez que a relao entre
as imagens de um mesmo ponto do espao
so temporalizadas.
O Visorama um centro de comuta-
o hipertextual contendo imagens e sons
que permitem que o observador possa na-
vegar pelo espao e pelo tempo de uma pai-
sagem real, qualquer que ela seja, como se
ele dispusesse de um sistema de cartografia
dinmica.
Punorumu: moderndude e mersv-
dude no scolo XX
O Visorama como sistema imersivo, mas
tambm como sistema de visualizao de
imagens panormicas faz parte de uma
linhagem tecnolgica cuja histria , em ge-
ral, desconhecida de grande parte dos estu-
diosos da imagem-tcnica, e que remete ao
surgimento dos panoramas.
O panorama o primeiro dispositivo
imagtico de comunicao de massa a pro-
porcionar uma imersividade total, ainda no
sculo XVIII. O panorama um tipo de pin-
tura mural (patenteada em 1787 por Robert
Barker) construda em um espao circular
em torno de uma plataforma central, de
onde os espectadores podiam observar um
dos espetculos imagticos mais apreciados
do sculo XIX. Os panoramas eram to mo-
numentais como sistema de representao
em geral eles nos davam uma viso monu-
mental da natureza e da histria quanto
126 Revista FAMECOS Porto Alegre n 11 dezembro 1999 semestral
como sistema arquitetnico. Basta lembrar
que eles eram construdos em rotundas
equivalentes a dois ou trs andares.
Numerosas variaes destes panora-
mas foram criados depois de ento e at a
metade do nosso sculo: Alporama, Europo-
rama, Cosmorama, Georama, Neorama, Pleora-
ma, Pandorama, Diorama, Mareorama, Moving
Panorama, Photorama, Cineorama, Cinerama...
A evoluo do panorama est relacio-
nada ao aperfeioamento dos diferentes
dispositivos imersivos panormicos no sen-
tido de trazer o espectador para o centro da
ao representada.
Uma primeira modificao foi intro-
duzida por Charles Langlois, em 1831, ao
substituir a plataforma central por um na-
vio, de onde o espectador avistava a bata-
lha de Navarin, representada no panorama
(Panorama de la bataille navale de Navarin).
Uma outra modificao veio com os
panoramas que simulavam viagens em na-
vios e trens. A voga dos panoramas ameri-
canos que se distinguem do panorama eu-
ropeu por no ser cilndrico ocorrida en-
tre 1823 e 1850, foi enorme.
O panorama americano foi apelidado
de Moving picture ou Moving panorama. A
verso americana foi criada com o objetivo
de produzir uma imagem em movimento,
que substitua o movimento e o percurso do
espectador. O espectador embarcava em
um espao que simulava as laterais de um
barco ou de um trem. Uma vez ali instala-
do, ele assistia a uma viagem pelo Mississi-
pi ou Grand Canyon, atravs de uma gran-
de imagem pintada que desfilava diante de
espectador durante horas (chegou-se a falar
em uma tela que teria algo em torno de trs
milhas de comprimento). Pouco a pouco, os
Panoramas americanos se transformaram
para abrigar o que, de alguma forma, anun-
ciavam: os Moving picture passaram a ser
realizados com imagens cinematogrficas,
captadas atravs das janelas dos trens e dos
barcos.
1
Para certas variantes destes panora-
mas, circulares ou no-circulares (aqui tra-
taremos apenas do primeiro tipo), se utili-
zavam outros tipos de plataforma central
que tornavam ainda mais efetivo a imerso
no mundo da fico. Uma das grandes ino-
vaes consistia em trocar a tradicional pla-
taforma por uma decorao simulando um
navio ou um trem com vistas a criar a ilu-
so da viagem.
O Panorama Transiberiano (Paris, 1900).
O objetivo era trazer ao dispositivo
panormico a simulao do movimento
com o objetivo de produzir a mxima ilu-
so, transportando o espectador ao centro
da ao.
Em 1900, na exposio Universal de
Paris foram apresentados trs panoramas
remarcveis, que transformaram o panora-
ma em um espetculo total utilizando os
mais diferentes suportes, como a pintura, a
fotografia ou o cinema. Com o Mareorama
de Hugo dAlesi, o Photorama dos irmos
Lumire e o Cineorama de Raul Grimoin-
Sanson, o panorama um carrefour a meio
caminho entre o teatro, o cinema, o parque
temtico e os modernos sistemas de realida-
des virtuais.
O caso de Mareorama, apresentado na
Exposio Universal de 1900, muito bem
documentado. Com o Mareorama, o especta-
dor viaja entre as paisagens as mais repre-
sentativas entre Marselha e Yokohama, pas-
sando por Npoles, Ceilo, Singapura e
China. A plataforma disfarada em navio
transatlntico com 70 metros de compri-
mento e podendo acolher at 700 pessoas,
repousa sobre um sistema de suspenso
Cardan para simular o balano das ondas.
127 Revista FAMECOS Porto Alegre n 11 dezembro 1999 semestral
Os atores executavam as manobras de na-
vegao enquanto um sistema de ventilao
propagava os odores marinhos e a luz era
alterada criando o efeito do cair da noite ao
final da viagem. Um espetculo verdadeira-
mente total que no deixava nada a desejar
aos atuais parques temticos.
O Mareorama (Paris, 1900).
O Cineorama , patenteado por Grimo-
in-Sanson em 1897, um dispositivo forma-
do por um prdio circular de 100 metros de
circonferncia. Suas paredes brancas ser-
vem de tela contnua onde so projetadas as
imagens de dez projetores compondo uma
imagem que se parece nica. O centro da
sala ocupada por uma imensa cesta de ba-
lo munida de acessrios habituais, ncora,
cordas, contra-peso, escada. O teto era co-
berto por uma cortina imitando um envelope
de aerostato. Sob a cesta so fixados os dez
aparelhos sincronizados que, uma vez obscu-
recida a sala, projetavam vistas de ascenses,
viagens de balo e de aterissagens, estes lti-
mos sendo obtidos repassando o filme.
Todas estas variantes tm em comum
certas caractersticas. O espectador fica no
interior de um ambiente enquanto que as
imagens so projetadas em torno dele.
Estas imagens reproduzem a viso que ele
teria se estivesse no meio do ambiente si-
mulado. Eles tendem sempre ao realismo
afim de emergir o espectador na sensao
correspondente ao ambiente. A forma de
interao que oferecem os panoramas na-
turalmente aceita pelos espectadores na me-
dida em que ela muito parecida com o
modo pelo qual somos habituados a perce-
ber o mundo (como se nos encontrssemos
em seu centro). Eis talvez a explicao psi-
colgica da popularidade dos panoramas e
seus variantes.
O gugel do observudor
2
O panorama nos permite reencenar a hist-
ria da arte e da imagem tcnica, pois trata-
se de um sistema que est na origem de
uma srie de questes fundamentais, entre
elas a questo da imersividade e de uma
nova visibilidade, que dependem em gran-
de parte da entrada em cena da figura do
observador. Neste sentido nos parece que o
panorama vem problematizar a relao da
imagem com o espectador.
Em que momento tem origem a pintu-
ra moderna ? Em David, em Manet, em Ce-
zanne ? Segundo Michael Fried,
3
a pintura
moderna nasceu com a crtica de arte, em
particular com Diderot, que mostrou que a
pintura francesa da segunda metade do s-
culo XVIII, de Greuze David, passando
por Chardin, Vernet e outros, est estreita-
mente relacionada a um esforo para com-
bater a falsidade da representao e a tea-
tralidade da figurao. Este esforo levou a
pintura francesa a problematizar o lugar do
espectador, por meio de dois caminhos di-
ferentes: uma concepo verdadeiramente
dramaturgica que recorre a todos os proce-
dimentos possveis para fechar o quadro
presena do espectador, e uma concepo
pastoral, que ao contrrio da precedente,
busca trazer o espectador para dentro do
quadro, e isto literalmente. Estas duas con-
cepes negam a presena do observador
diante do quadro, e colocam esta negao
na origem da modernidade.
Ora, com o panorama, o espectador
sofre esta tenso constante entre se deixar
levar pela iluso e se distanciar dela por
meio de um movimento que o leva a situar
a experincia visual em seu prprio corpo,
autnomo. Esta tenso leva o espectador a
viver a imagem como sendo dupla: ima-
128 Revista FAMECOS Porto Alegre n 11 dezembro 1999 semestral
gem da pintura e imagem do corpo se re-
lacionam, se transformam, se hibridizam,
juntas, em um movimento paradoxal.
O primeiro dispositivo de realidade
virtual de que temos notcia se confunde
com o prprio nascimento da perspectiva:
trata-se da famosa experincia da Tavolet-
ta,
4
realizada no Quattrocento, por Brunel-
leschi. Para uns, a Tavoletta o prottipo
que deu visibilidade ao espao moderno,
na confluncia da pintura e da arquitetu-
ra, da arte e da cincia, da representao e
da simulao; para outros, a Tavoletta
uma instalao que supe um hibridiza-
o entre imagens: se o cu permanece
imvel antes a pintura ou a fotografia que a
situao exige; se as nuvens passam, o cine-
ma ou o vdeo.
5
Em todo caso, a Tavoletta um dispo-
sitivo de realidade virtual que tende a con-
fundir o espectador sobre o que ou no
verdade na paisagem urbana vista atravs
deste dispositivo: aquilo que se via era
como a prpria verdade (Antonio Manet-
ti).
Se analisarmos a questo da imerso,
veremos que a dimenso espacial (profun-
didade criada pelo ponto de fuga) est im-
bricada na dimenso temporal (lugar do ob-
servador ou ponto de vista) desde essa ex-
perincia inaugural da Tavoletta.
Na verdade do que se v, como
separar a verdade do que se v, quando
essa verdade multitemporal, e remete
uma ao a distncia que afasta e aproxima
ao mesmo tempo, como na experincia em
dupla hlice da Tavoletta, que anula o aqui e
agora (a distncia) da percepo da mesma
forma que a velocidade da eletro-ptica su-
prime a distncia que separa o observador
da imagem na representao dos sitemas
pticos, fotomecnicos, e introduz um des-
dobramento do real em real e virtual ?
Os casos aqui descritos de forma su-
cinta, o Panorama, o Moving panorama, o
Mareorama, o Cineorama e o Visorama esto
relacionados a uma mutao ocorrida ao
longo dos sculos XIX e XX na viso do ho-
mem moderno, com o surgimento de novas
formas de espetculo que simulavam a mo-
bilidade de um espectador que se faz obser-
vador, ao surgimento da experincia visual
no corpo de um espectador autnomo, mas
tambm a uma transformao radical do es-
tatuto da imagem, que se torna imersiva
sensorial ou psicologicamente.
O Panorama de Mesdag.
Na verdade, a imersividade destes
dispositivos vem endossar a tese de Jona-
than Crary, que mostrou que a ruptura do
regime escpico no se produz com a in-
veno da fotografia, nem com a pintura de
vanguarda que se originou com o impressi-
onismo, mas que ela se situa na passagem
do sculo XVIII ao XIX, com a dissoluo
do modelo clssico da cmera obscura. Para
analisar esta ruptura, Crary recorre filoso-
fia de Schopenhauer, ao tratado das cores
de Goethe, psicofiologia de Helmholtz, e
aos diversos dispositivos imagticos cria-
dos nesta poca Kaleidoscpio (David
Brewster, 1815), Thaumatrpio (John Paris,
1825), Phenakistiscpio (Joseph Plateau,
1830), Estroboscpio (Simon Ritter von Stam-
pfer, 1834), Zootrpio (William George Hor-
nar, 1835), etc bem como pintura de
Chardin e Turner. Ao dispositivo da cme-
ra obscura, modelo de uma viso objetiva e
passiva, Crary substitue uma viso subjeti-
va, ancorada em um observador ativo, no
sentido em que a imagem mobiliza seu cor-
po inteiro.
Se os dispositivos tecnolgicos veicu-
lam uma viso de mundo e suscitam ques-
tes relativas forma especfica de modeli-
129 Revista FAMECOS Porto Alegre n 11 dezembro 1999 semestral
zao do espao e do tempo, porque eles
so o correlato de expresses sociais capazes
de lhes fazer nascer e delas se servir como
verdadeiros rgos da realidade nascente.
Walter Benjamin e Michel Foucault se
consagraram ao estudo dos processos tcni-
cos e discursivos de modelagem do sujeito
da percepo na modernidade. Para eles
no podemos entender a modernidade se
nos restringirmos questo da representa-
o. Existem outras funes em jogo: o con-
sumo e a reproduo, o enclausuramento e
o controle. Da a importncia dos desloca-
mentos ocasionados pelo panoptikon (con-
temporneo inveno do panorama) e
pela reprodutibilidade tcnica. Para estes au-
tores, o sujeito da modernidade se encontra
submerso nas imagens e produtos produzi-
dos pela convergncia de novas tecnologi-
as, novos meios de transporte, novos espa-
os urbanos, novas funes econmicas e
simblicas.
Walter Benjamin foi, sem dvida, um
dos primeiros a traar uma linha de fuga
entre a cidade e as tecnologias da imagem,
em particular o panorama, dispositivo ar-
quitetnico que, para ele, anunciava a fuso
entre a pintura e o cinema como forma de
espetculo. Benjamin chegou a criar um
personagem conceitual que exprime bem a
transformao da paisagem contempor-
nea, seja ela urbana ou no, em espao tran-
sitrio, lugar de passagem: o flaneur. O fla-
neur, ser ptico por excelncia, reinventa a
paisagem urbana por meio de articulaes
topolgicas que invertem as relaes espa-
o-temporais. As galerias parisienses do s-
culo XIX eram comparadas a dispositivos
pticos que levavam o flaneur para outros
lugares e tempos. A luz das lmpadas de
gs, o reflexo dos espelhos e o impacto das
vitrines confundiam o interior e o exterior,
o antigo e o moderno. Nelas, como no pa-
norama ou no visorama, o visitante cami-
nha entre o passado e o presente, entre o
prximo e o longnquo, entre a pintura e as
novas tecnologias emergentes: a passagem
a arquitetura mesma do novo espao ur-
bano I
NoIus
1 Os Moving panoramas foram substitudos pelos Hales Tour.
Em 1904, Georges Hale compra uma patente de William
Keefe. Tratava-se de uma espcie de trem fantasma feito
com trem de verdade: nas laterais do tnel percorrido pelo
trem, eram projetadas imagens cinematogrficas de paisa-
gens. Mas a inventividade de Hale o leva a fazer algumas
alteraes no que passou a ser chamado de Hales Tour: a
fachada do edifcio lembra a de uma estao de trem, e os
empregados em uniformes introduzem os espectadores,
para viagens de meia hora, em salas de sessenta lugares.
Essas salas imitavam vages, no fundo dos quais eram
projetadas imagens cinematogrficas da Amrica pitoresca
filmadas das traseiras dos trens.
2 Inserimos este ttulo em homenagem ao livro de Jonathan
Crary, The art of the observer. Massachussets: M.I.T,
Cambridge, 1990.
3 Cf. Fried, Michael. La place du spectateur. Paris: Galli-mard,
1990.
4 Sobre as diversas questes levantadas pela Tavoletta, se re-
portar Damish, Hubert. La thorie du nuage. Paris: Seuil,
1985
5 Bellour, Raymond. A Dupla Hlice, In: Imagem-mquina, Pa-
rente, Andr (org.) Rio de Janeiro, Ed. 34, 1993.
Referencus
BELLOUR, Raymond. Lentre-images. Paris, La Diffrence, 1990.
CRARY, Jonathan. The art of the observer. Massachussets, M.I.T,
Cambridge, 1990.
COMMENT, Bernard. Le XIXme sicle des panoramas. Paris,
Adam Biro, 1993.
DAMISH, Hubert. La thorie du nuage. Paris, Seuil, 1985.
FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris, Gallimard, 1975.
FRIED, Michael. La place du spectateur. Paris, Gallimard, 1990.
PARENTE, Andr. O virtual e o hipertextual. Rio de Janeiro,
Pazulin, 1999.
Você também pode gostar
- Livro Análise de Investimentos - UNOPARDocumento196 páginasLivro Análise de Investimentos - UNOPARPaulo Andrade100% (5)
- Receitas Saudaveis Desafio 28 DiasDocumento66 páginasReceitas Saudaveis Desafio 28 DiasAdriana CsanadyAinda não há avaliações
- NPCP RJ PDFDocumento147 páginasNPCP RJ PDFEdmilsonSantosdeSouzaAinda não há avaliações
- Taser - CFSD 2011Documento149 páginasTaser - CFSD 2011Vinícios Munari100% (1)
- 05 - Dodge Dakota - Manual de Manutenção - SuspensãoDocumento26 páginas05 - Dodge Dakota - Manual de Manutenção - SuspensãomozartnevesAinda não há avaliações
- Apostíla PneumatologiaDocumento71 páginasApostíla PneumatologiaAdenildo FreitasAinda não há avaliações
- AP1X Tópicos Sobre A Diversidade Na EducaçãoDocumento4 páginasAP1X Tópicos Sobre A Diversidade Na EducaçãoFelipe Sousa dos SantosAinda não há avaliações
- Princípios Orientadores para A Aplicação Efectiva Do Código de Conduta para Os Funcionários Responsáveis Pela Aplicação Da LeiDocumento4 páginasPrincípios Orientadores para A Aplicação Efectiva Do Código de Conduta para Os Funcionários Responsáveis Pela Aplicação Da LeioeliasmodernoAinda não há avaliações
- Usinagem Arquivo para DownloadDocumento4 páginasUsinagem Arquivo para DownloadIsaias ConceiçãoAinda não há avaliações
- Informativo - Procedimento para Ajuste Mrm3-IeDocumento20 páginasInformativo - Procedimento para Ajuste Mrm3-IeArimatéia FilhoAinda não há avaliações
- Apostila de Eletrônica Aplicada - PolivalenteDocumento57 páginasApostila de Eletrônica Aplicada - PolivalenteAna Júlia Souza CostaAinda não há avaliações
- Orçamento Diego Deposito VilhenaDocumento1 páginaOrçamento Diego Deposito VilhenaWellington PauloAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Fisiologia 2 BimestreDocumento3 páginasEstudo Dirigido Fisiologia 2 BimestreAna GabrielaAinda não há avaliações
- Raciocinio Logico Policia PenalDocumento75 páginasRaciocinio Logico Policia PenalMarcelo AmancioAinda não há avaliações
- Deficiencia AUDITIVA 2Documento54 páginasDeficiencia AUDITIVA 2Nado SerafimAinda não há avaliações
- I. Introdução À Dimensão Ético-PolíticaDocumento28 páginasI. Introdução À Dimensão Ético-PolíticaSónia RibeiroAinda não há avaliações
- Manual Usuário ModeladoraDocumento11 páginasManual Usuário ModeladorasabrinaflorAinda não há avaliações
- Luiz Fernando Silva - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICODocumento10 páginasLuiz Fernando Silva - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICORicardo MelloAinda não há avaliações
- V 21 N 4 A 12Documento10 páginasV 21 N 4 A 12Daniel SilvaAinda não há avaliações
- Ficamento 1Documento3 páginasFicamento 1NandaAinda não há avaliações
- Coordenação e SubordinaçãoDocumento17 páginasCoordenação e SubordinaçãoVandaMarquesAinda não há avaliações
- 01TRB - Logistica de AlimentosDocumento8 páginas01TRB - Logistica de AlimentosMiguelAinda não há avaliações
- As Tramas Da Implementação Da Energia Eólica Na Zona Costeira Do Ceará: Legitimação e Contestação Da "Energia Limpa"Documento194 páginasAs Tramas Da Implementação Da Energia Eólica Na Zona Costeira Do Ceará: Legitimação e Contestação Da "Energia Limpa"Julio HolandaAinda não há avaliações
- O Modelo de Deus para Voce Ter Muito DinheiroDocumento18 páginasO Modelo de Deus para Voce Ter Muito DinheiroMauro SantosAinda não há avaliações
- CDI-00-390 - Manual de Operação Do IPDMQCSDocumento20 páginasCDI-00-390 - Manual de Operação Do IPDMQCSrobertosouzadasilva2023Ainda não há avaliações
- Resumo Treinamento Resgate Basico AlturaDocumento21 páginasResumo Treinamento Resgate Basico AlturaDennis Dem100% (1)
- Aspectos Da Geometria NeutraDocumento53 páginasAspectos Da Geometria NeutraItaxeAinda não há avaliações
- Propriedade IndustrialDocumento30 páginasPropriedade IndustrialjfpchauqueAinda não há avaliações
- Lei N 1511 - 19 - Aprova o Plano Diretor Municipal ParticipativoDocumento112 páginasLei N 1511 - 19 - Aprova o Plano Diretor Municipal ParticipativoVitória carvalhoAinda não há avaliações
- Aula 01 - Administração Financeira - Visão Geral (Modo de Compatibilidade)Documento58 páginasAula 01 - Administração Financeira - Visão Geral (Modo de Compatibilidade)Higino ZarsAinda não há avaliações