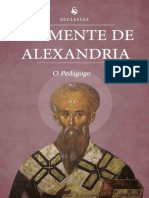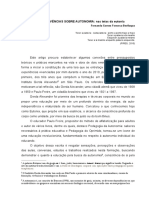Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Artigo Ismael Revista Pedagogia CAC PDF
Artigo Ismael Revista Pedagogia CAC PDF
Enviado por
Ismael_frrTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Artigo Ismael Revista Pedagogia CAC PDF
Artigo Ismael Revista Pedagogia CAC PDF
Enviado por
Ismael_frrDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.
47-69
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR: DIMENSES TICAS NO
ATO DE AVALIAR A APRENDIZAGEM DE LNGUAS
BAKHTI N AND SCHOOL EVALUATI ON: ETHI CAL DI MENSI ONS I N
THE ACT OF EVALUATI NG LANGUAGE LEARI NG
Ismael Ferreira-Rosa
1
Viver significa participar do dilogo: interrogar, ouvir, responder,
concordar etc. Nesse dilogo o homem participa inteiro e com toda a
vida: com os olhos, os lbios, as mos, a alma, o esprito, todo o
corpo, os atos. Aplica-se totalmente na palavra, e essa palavra entra
no tecido dialgico da vida humana, no simpsio universal [...].
Cada pensamento e cada vida se fundem no dilogo inconclusvel.
Mikhail Bakhtin
RESUMO
Este artigo tem por fito, a partir do escrutnio de um simulado avaliativo de Lngua Portuguesa
(SIMA) aplicado ao sexto ano do Ensino Fundamental de uma escola municipal em Catalo-GO,
analisar e problematizar o ato de avaliar no processo de ensino-aprendizagem de lnguas, em especial,
da lngua portuguesa. Tendo por base os estudos bakhtinianos sobre sujeito, lngua, ato e tica
buscaram-se as noes balizadoras de sujeito e lngua que suportaram a arquitetnica de tal SIMA e,
em seguida, inquiriram-se essas noes, apontando algumas consideraes que nada tiveram de
procedimentais ou norteadoras de aes no mbito da avaliao, apenas como suscitadoras de
posicionamentos sobre o ato de avaliar, interpelando professores a empreenderem tomadas de posio
em suas prticas avaliativas e proverem aberturas ticas nessas prticas, de modo a deixar um pouco
de lado as marcas arraigadas do avaliar como mensurar um dado conhecimento, um dado saber.
Palavras-chave: Avaliao. Sujeito. Lngua.
ABSTRACT
This paper aims at analyzing and discussing the evaluating act during the language teaching and
learning process, especially the Portuguese language, by means of a scrutiny of a Portuguese
evaluation test applied to the sixth grade class of a municipal elementary school in Catalo-GO. Based
on Bakhtins studies about subject, language, act, and ethic, it analyses the subject and language
notions that support the evaluations architectonic. Then, it examed closely these notions, pointing out
some considerations that had nothing to do with procedural or guiding actions in the context of
evaluation. In fact, these notions just pointed out some positioning about the evaluating act, while
questioning teachers to help them assume positions in relation to their assessment practice and also to
provide ethical openings in those practices, in order to put aside the rooted marks of evaluating as a
form of measuring a given knowledge.
Keywords: Evaluation. Subject. Language.
1
Doutorando em Estudos Lingusticos pela Universidade Federal de Uberlndia (Bolsista CAPES). Mestre em
Lingustica e Lingustica Aplicada pela Universidade Federal de Uberlndia. Graduado em Letras pela
Universidade Federal de Gois Cmpus Catalo. Secretrio Executivo da Coordenao de Graduao da
Universidade Federal de Gois Cmpus Catalo. Professor de Lngua Inglesa no Centro de Lnguas da
Universidade Federal de Gois Cmpus Catalo. Membro integrante do Laboratrio de Estudos Polifnicos
(LEP) da Universidade Federal de Uberlndia e pesquisador vinculado ao Grupo de Estudos e Pesquisas em
Histria do Portugus (GEPHPOR) da Universidade Federal de Gois Cmpus Catalo. E-mail:
ismfero@gmail.com
Artigo recebido em 19-08- 2012; aprovado em 01-10- 2012
48 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
Palavras preliminares
Muito j se discutiu sobre a avaliao no contexto escolar, sobretudo no que se refere
ao processo de ensino e aprendizagem de lnguas. Inmeros questionamentos, crticas,
perspectivas, caminhos j foram levantados, delineados, traados e at reafirmados.
Justamente por ser uma questo de assaz melindre e profunda problemtica na prtica
educativa, busca-se incessantemente uma verdadeira definio para o significado do que seja
avaliar na escola, um efetivo paradigma de instrumento avaliativo e/ou um exequvel aparato
terico-conceptual para a construo de percepes axiolgicas do ato de aprender, capaz de
deslindar a implexa e complexa constitutividade subjetivo-mensurativo-accional da prtica
avaliativa no mbito educacional do ensinar e aprender uma lngua.
No obstante a avaliao ser uma prtica inerente ao homem pois desde os seus
dilculos etrios que sujeitos em suas relaes sociais se veem comparados, valorados,
apreciados, avaliados, observados, aferidos; desde seus primeiros contatos com outros que se
veem refletidos/julgados segundo outricidades j existentes: Parece com o pai! Puxou a me!
Tem os olhos do av! Chamar-se- fulano porque se parecer com o outro fulano eminente e
assim por diante as dimenses do que seja avaliar no tm sido claras na escola.
Ora, por longas extenses temporais, a avaliao tem sido sinnimo de atribuio de
quantitativos numrico-percentuais e/ou conceituais (A, B, C...) a amostras concretas ou
provas materiais do que se aprendeu sobre um saber, um conhecimento. Mediante
questionrios compostos por interrogaes de mltipla escolha, interpretativas, dissertativo-
argumentativas; arguies; produes escritas; exposies orais; fichas de leitura, dentre
outras; escopo dessa prtica aferitiva verificar a assimilao de um dado contedo ou uma
dada habilidade
2
, tendo por fito a promoo ou reprovao do aluno, e o controle de seus
avanos e retrocessos na escala durativo-temporal dos anos escolares a cumprir.
Desse modo, notvel o funcionamento das balizas da lgica da mensurao
norteando o processo da avaliao na escola. Dissentindo at de suas razes etimolgicas
(avaliar advm do latim a + valere, que remete a atribuir valor, valorar uma dada realidade), o
2
Habilidade aqui entendida enquanto um saber-fazer relacionado a uma dada prtica. Remete-se, destarte, a
aes fsico-cognitivas que indicam uma capacidade adquirida ao longo de uma prtica, um exerccio de um
saber, de um conhecimento, a exemplo das habilidades de sintetizar, julgar, interpretar, relacionar informaes,
identificar variveis, entre outras.
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 49
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
ato de avaliar tem sido, em recorrentes contextos, antes de ser um ato de valorar
3
, um ato de
mensurar, medir, quantificar conhecimentos, saberes apreendidos pelos alunos.
Mesmo que discusses tenham sido instauradas e se tenham apontados outros
caminhos que no o mensurar, mas, por exemplo, o circunstanciar os resultados ao invs de
medi-los; ou ento o julgar os resultados como aporte de um planejamento, conferindo se
objetivos e metas foram alcanados, julgando se o trabalho foi pertinente ou impertinente e
no somente medir ou descrev-los; ou ainda o agenciar os resultados, participando de forma
reflexiva, interativa, construtiva de tais resultados, de modo que, mais que medir,
circunstanciar, julgar, preciso obter informaes sobre o que foi aprendido, mediante
procedimentos investigativos, instrumentos avaliativos, e assim intervir pedagogicamente
para uma melhor qualidade do processo de ensino e aprendizagem; a avaliao persiste em ser
um procedimento mensurador, apesar de vrios eptetos conceituais atribudos a ela, quer
sejam: formadora, participativa, contnua, emancipatria, mediadora, dialgica, qualitativa,
democrtica, autntica, libertadora, integradora, responsiva, reflexiva, autonimizadora (cf.
levantamento qualificativo-conceitual apontado por Cunha, 2006, p. 61-64).
E ressalto o qualificador mensurador, porque no obstante as vrias percepes que na
atualidade se pautam no discurso da formatividade, da participatividade, da emancipatividade,
na prtica, no dia a dia da sala de aula, a avaliao ainda se revela em uma relao totalmente
incua a essas discusses, constituindo-se uma prtica aferidora e mensuradora quantitativo-
numrica de amostras materiais e concretas, (com)provando um (no)aprendizado. Com
efeito, ainda se mostra um instrumento de poder, coero e medidor do nvel de
aprendizagem, fato que pode ser corroborado por meio de cleres anlises de testes e provas
de lngua portuguesa, por exemplo, aplicadas nas escolas, bem como de seu processo de
correo e atribuio de notas pelo professor.
Mas por que, a despeito das vrias discusses e da instaurao de novos conceitos
sobre a avaliao, esse ato permanece incuo, reforando um descompasso entre os nortes
prerrogados pelas vrias acepes de avaliao e a prtica do avaliar?
inegvel que uma verdadeira significao para o que seja avaliar algo impossvel,
dada sua complexidade e implexidade. Na verdade, um ato constitutivamente marcado por
contradies, discrepncias, ambiguidades, dissimetrias, incongruncias, embates. Ora,
avaliar um processo que acompanha os sujeitos em suas inmeras relaes, desde seu
3
Valorar e medir so duas balizas conceptuais discrepantes, cujas acepes mais a frente sero melhores
circunstanciadas e detalhadas.
50 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
nascimento at a sua morte, conforme aponta Catani; Gallego (2009), e nunca se revelou ser
um processo plcido e distenso. Portanto, no seria diferente na escola.
Destarte, mais do que tentar atenuar ou mesmo delir as tenses que existem no ato de
avaliar, mediante a elaborao de conceitos ou eptetos tericos, longe de afirmar que essa
elaborao no seja importante ou pertinente aos estudos do mbito educacional, preciso
atentar aos baluartes constitutivos do ato de avaliar: o avaliador, o avaliado e o objeto de
ensino e aprendizagem.
Sabe-se que a avaliao instaura perspectivas diferentes para quem avalia e para quem
avaliado e isto constri um intricado de efeitos que precisam ser considerados, analisados.
Um intricado marcado por construes subjetivas e sentidurais
4
que necessitam de um olhar.
Com efeito, mais do que nortes prerrogados por uma percepo terica, que at
instaura modismos conceptuais acerca do que avaliar e o que avaliao, preciso levar em
conta as concepes do que sujeito, lngua, aprendizagem, ensino, produo de sentidos.
Segundo Cunha (2006, p. 64), um equvoco perpetrado quando se discutem questes voltadas
ao ato de avaliar
crer, e principalmente [...] agir, como se as mudanas na rea da avaliao
em lngua pudessem ocorrer independentemente das concepes existentes a
respeito do ensino e da aprendizagem da lngua, provocando, por si s,
mudanas nesse mbito tambm [...]. O modo como se avalia em lngua est
em consonncia direta com as concepes de ensino, de aprendizagem e de
lngua predominantes, tanto em nvel dos objetivos quanto em nvel dos
objetos de ensino e aprendizagem privilegiados. Nenhuma crtica consistente
das prticas avaliativas no ensino/aprendizagem de lngua pode deixar de
abranger uma anlise dos pressupostos desse ensino/aprendizagem de lngua
(o que no feito pelos estudiosos das cincias da Educao, entre os quais,
no entanto, se encontram habitualmente os especialistas em avaliao).
Atentando a este fato, talvez aquela inocuidade que marca um descompasso entre
nortes tericos e a prtica avaliativa em sala de aula de lnguas seja uma decorrncia desse
equvoco, pois antes de se elaborar mais conceitos e orientaes procedimentais para o
desenvolvimento da avaliao em lnguas no espao educacional, imprescindvel se faz que se
perscrute que sujeitos esto envolvidos no processo, que lngua est sendo
ensinada/aprendida, para, a partir da, refletir sobre o ato de avaliar.
De nada adianta prerrogar uma postura emancipatria, participativa e (re)formadora,
se a lngua, enquanto objeto de ensino e aprendizagem, concebida como um sistema
4
Sentidural configura-se como o designativo que reporta ao contnua e ininterrupta da dinmica dos
sentidos, que esto perenalmente em processo de (des)construo pelas tomadas de posio dos sujeitos, no
interior de uma enunciao, funcionando discursivamente.
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 51
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
autnomo, regido por regras e normas imanentes e inerentes a sua estrutura, cuja apreenso de
seu funcionamento sistmico-estrutural e descrio por meio de metatermos constituem o
escopo de seu ensinar e aprender
5
.
em vo postular uma avaliao em lnguas pautada na mediao contnua e
interventora se o processo de ensino-aprendizagem dessa lngua balizado por um vis
transmissivo-passivo e extremamente metalingustico; se se tem como objetivo pedaggico
ensinar/aprender uma lngua para o uso correto e exmio do cdigo lingustico pela parte de
um sujeito aluno que nada sabe desse cdigo e que, portanto, deve aprender a descrever o
funcionamento dessa lngua para ento us-la conscientemente de forma plena e vernacular.
Ora, enquanto predominar uma concepo fechada e autnoma de lngua e de sujeito
passivo e submisso, avaliar no poder ser diferente de mensurar, pois o quanto o aluno
sabe descrever e usar o cdigo que constituir o escopo da prtica avaliativa.
Para refletir um pouco mais sobre essa problemtica da avaliao em lnguas no imo
das balizas conceptuais de sujeito e lngua, alvitro a anlise de um instrumento avaliativo em
lngua portuguesa (designado de simulado avaliativo, que no escopo deste trabalho ser
abreviado por SIMA) que foi aplicado ao sexto ano do Ensino Fundamental, como forma de
preparo e treinamento para concurso e vestibulares a serem enfrentados no porvir, alm,
obviamente, de valer nota para o fechamento do terceiro bimestre letivo de 2010 em uma das
escolas da cidade de Catalo, cujo nome ser resguardado por questes ticas
6
.
Ulterior a essa questo tica, que tem por desgnio preservar a integridade do
estabelecimento de ensino, o nome tambm no ser revelado por no interessar a minha
anlise nominalizaes de quem aplicou, quem elaborou, ou quem se submeteu avaliao.
Antes, meu interesse e intento analtico perscrutar quais concepes de lngua e sujeito
subjazem ao referido instrumento avaliativo e, posteriormente, problematizar essas
concepes, delineando alguns caminhos que poderiam ser percorridos para um ato de avaliar
5
Pode-se questionar a incisividade assertiva de meu posicionamento, contudo, a despeito de alguns contextos de
mudana nos espaos educacionais do ensino-aprendizagem de lnguas, a concepo de gramaticalidade e
metalinguagem ainda permanece de forma muito arraigada e continua a nortear o ensinar e aprender, por
exemplo, a lngua portuguesa na segunda fase do Ensino Fundamental, nvel em que fui professor por mais de
dois anos na rede municipal de ensino da cidade de Catalo-GO, e acompanhei de maneira mais prxima tanto
em minha prtica, quanto na prtica de meus docentes pares, os efeitos desse arraigo conceptual.
6
Cabe destacar que os simulados desta natureza so compostos por questes de mltipla escolha, tanto
elaboradas pelos prprios professores de lngua portuguesa da escola, quanto retiradas de outros instrumentos
avaliativos preparados por outras instncias, quer sejam: exames de admisso em escolas da rede privada de
ensino; concursos para o ingresso em cursos profissionalizantes; provas elaboradas por conselhos superiores da
Educao (Prova Brasil, por exemplo); vasto material que se encontra disponvel na internet e sites educacionais;
entre outros. No caso do simulado que constituir o corpus de anlise de minha discusso, as questes foram
retiradas de um exame de admisso para uma escola militar no perodo letivo de 2010, cujo nome tambm ser
resguardado.
52 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
mais tico e interpelador, sem desconsiderar as contradies, discrepncias, ambiguidades,
dissimetrias, incongruncias, embates que so inerentes ao de se construir valores
axiolgicos a uma dada realidade.
Para ento analisar e problematizar o ato de avaliar no processo de ensino-
aprendizagem de lnguas, em especial, da lngua portuguesa na segunda fase do Ensino
Fundamental, embasar-me-ei nos pressupostos terico-conceptuais dos estudos bakhtinianos
sobre sujeito, lngua, ato, e tica, tendo por escopo, primeiramente, examinar o referido SIMA
em busca das noes balizadoras de sujeito e lngua que suportam sua arquitetnica
7
; e, em
seguida, a partir de Bakhtin, inquirir essas noes, apontando algumas consideraes que
nada tero de procedimentais ou norteadoras de aes no mbito da avaliao, apenas como
suscitadoras de posicionamentos sobre o ato de avaliar, interpelando professores a
empreenderem tomadas de posio em suas prticas avaliativas, de modo a deixar um pouco
de lado as marcas arraigadas do avaliar como mensurar um dado conhecimento, um dado
saber.
Sujeito e lngua na arquitetnica de um simulado avaliativo de Lngua Portuguesa
Ao propor uma anlise no pura e simplesmente da construo composicional do
simulado avaliativo, que ser escrutinado, mas uma anlise de sua arquitetnica, mister
observar no somente sua materialidade, mas a discursividade e os sentidos que so
produzidos por e em sua materialidade, pela integrao de sua forma e contedo. No
tenciono analisar o instrumento em sua completude, examinando todas as questes dispostas,
antes me deterei em atividades relacionadas a dois textos, a saber: um fragmento da obra
literria A disciplina do Amor de Lygia Fagundes Telles e uma tirinha de Calvin e Haroldo,
criada por Bill Watterson; e, na atividade que sugere uma produo textual, apresentada no
final do referido instrumento de avaliao
8
. Com efeito, buscarei no intrincado do material, da
forma e do contedo de tal objeto de anlise qual a concepo de sujeito e lngua suporta sua
arquitetnica, produzindo efeitos de sentido.
O SIMA, aplicado aos alunos como forma de prepar-los para enfrentar provas de
concurso e vestibulares em seu futuro e como forma de avali-los no terceiro bimestre letivo
7
Entendido a partir de Bakhtin (1998) como uma estruturao/construo de um dado discurso, de forma
relativamente estvel, que aduna e vincula o material, a forma e o contedo. um todo integrado marcado pela
ordem, pela disposio, pelo acabamento.
8
Ver os recortes em anexo.
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 53
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
de 2010, encetado pela sua designao de 1 parte: mltipla-escolha e a diretiva (Marque
com um X a nica alternativa certa), destacando que somente ser encontrada uma nica
opo certa, aquela que no apresenta erros, o que refora o arraigo do certo/errado no
processo de ensinar e aprender a lngua portuguesa. Pelo uso do qualificador certo, e no, por
exemplo, marque com um x a alternativa mais adequada, ratifica-se a hermeticidade, o
fechamento, o sentido nico e unilateral das realidades, os lugares pr-estabelecidos que so
apresentados aos alunos, nos quais estes devem se inscrever, tendo em vista que o saber, o
conhecimento, sempre categrico, cabendo aos alunos memoriz-lo e por a adiante.
Essa percepo analtica corroborada quando se passa a analisar as questes
propostas, por exemplo, com relao ao fragmento de mesmo ttulo retirado da obra A
disciplina do Amor de Lygia Fagundes Telles. Na primeira questo, antes de ser uma
pergunta de cunho analtico ou mesmo interpretativo, o escopo medir o quanto do saber
lexical que o aluno possui, conforme se observa:
QUESTO 1 (xxxx) - A leitura do texto permite traar um perfil acerca
do cachorro. A nica palavra inadequada para descrever a postura do animal
em relao a seu dono
A ( ) displicncia.
B ( ) lealdade.
C ( ) disciplina.
D ( ) compromisso.
E ( ) amor.
Parece ficar evidente que se espera que os alunos saibam os contedos semnticos de
signos elencados nas lacunas opcionais, mesmo aqueles que no so comuns no discurso
cotidiano dos discentes, como a palavra displicncia. Alm disso, assinalar tal opo no
indicar, seguramente, que o aluno conhea o que seja a displicncia, pois, se treinado que j
foi e aprendeu as manhas das provas objetivas de certames e concorrncias, seguir a
tcnica da eliminatria (ir eliminando as que (no) so adequadas para ver o que sobeja),
conseguindo chegar ao resultado esperado.
E, mais que isso, em que medida uma questo dessa natureza pode explorar a
criatividade e o conhecimento de lngua dos alunos, j que parece ter por escopo a
memorizao de significados de palavras? Se se queria explorar o campo lxico-semntico,
por que no se explorou, por exemplo, a riqueza polissmica do signo disciplina, na
discursividade do excerto literrio, trabalhando a disciplina indisciplinada do amor, a matria
54 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
do amor, a obedincia do amor, a cegueira do amor, a educao do amor, a penitncia do
amor, e assim por diante?
bem verdade que questes de natureza objetiva no possibilitam ao avaliado
empreender percepes interpretativas, mas tambm de nada impediria elaborar uma pergunta
que enfocasse uma anlise do signo disciplina, atentando ao(s) sentido(s) que adquire na
enunciatividade literria em tela, configurando-se assim uma questo de cunho mais analtico-
interpretativo que exigiria uma leitura mais atenta e acurada pela parte do sujeito aluno.
Percorrendo as demais questes de que composto o SIMA, notvel que quando se
pretende uma anlise, esta se foca apenas na estrutura e no modo composicional da
materialidade do fragmento literrio, como se observa nos excertos abaixo.
QUESTO 02 (xxxx) - Tendo por base a leitura do texto A Disciplina do
amor, considere as afirmativas abaixo:
I O texto narra a relao afetiva entre um co e seu dono.
II No segundo pargrafo, no trecho que descreve o momento em que o
dono do cachorro apontava ao longe, apresenta-se a ao que desencadear a
problemtica vivenciada pelo animal.
III O narrador do texto do tipo observador, que no se aprofunda na
anlise psicolgica dos personagens.
IV No texto, o tempo cronolgico demarcado pela sequncia linear das
aes do enredo.
Acerca das afirmativas, observa-se que
A ( ) apenas I correta.
B ( ) I e IV so corretas.
C ( ) I, II e IV so corretas.
D ( ) I, II e III so corretas.
E ( ) todas as afirmativas so corretas.
QUESTO 03 (xxxx) - No trecho Uma tarde (era inverno) ele l ficou, o
focinho sempre voltado para aquela direo, observa-se a inteno de se
A ( ) enfatizar que o cachorro continuou a dedicar sua existncia para
esperar seu dono.
B ( ) apresentar a morte do cachorro por meio de uma linguagem objetiva e
direta.
C ( ) demarcar, textualmente, a morte do cachorro, valendo-se de uma
linguagem conotativa.
D ( ) demonstrar que a esperana do co continuava e era um aspecto forte
de seu comportamento.
E ( ) mostrar ao leitor que o cachorro morrera devido ao fato de perder a
esperana de que o dono voltaria.
Os excertos evidenciam aspectos estruturais da narrativa, quer sejam narrador, foco
narrativo, enredo, tempo, linguagem denotativa/conotativa; como tambm a presena de um
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 55
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
autor/escritor intencional, fato evidenciado na terceira questo mediante o enunciado
observa-se a inteno de se.
Novamente, tornam-se ressaltados o desgnio pela estruturalidade e o fito por
paradigmas de anlise pr-estabelecidos, que devem ser apreendidos e memorizados pelos
alunos, principalmente no que se refere a metatermos, como tempo cronolgico, narrador
observador, conotao. Potencializa-se, desse modo, um discurso metalingustico, legtimo e
categrico, pois postulador de verdades e ticas sobre a lngua(gem) e seus efeitos de
sentidos, devendo materialidades lingusticas serem descritas, analisadas e at percebidas da
mesma forma por todo e qualquer sujeito. E isso porque o aluno tambm visto pelo vis da
unidade, um sujeito que pode deter e produzir os sentidos da lngua, e uma lngua transparente
e homognea, cuja estruturalidade e sistematicidade palpvel e passvel de compreenses
unilaterais e universais, no crivo de uma reflexo metalingustica e gramtico-funcional.
Tal potencializao se torna ainda mais inconteste nas quatro questes que seguem no
SIMA em anlise, cujos maiores objetivos so testar o conhecimento gramatical dos alunos e
a memorizao de categorias lingusticas, consoante se nota, por exemplo, na pergunta
abaixo:
QUESTO 05 (xxxx) - A nica opo em que a palavra que tem a mesma
classificao que em Mas eu avisei que o tempo era de guerra [...]
A ( ) Um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia
esper-lo [...].
B ( ) [...] e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas [...].
C ( ) [...] at o momento em que seu dono apontava l longe..
D ( ) Pensa queo cachorro deixou de esper-lo?.
E ( ) [...] atenta ao menor rudo que pudesse indicar a presena [...].
ressaliente que, mais do que a compreenso/interpretao do fragmento literrio, a
estrutura composicional, em sua descrio funcional e gramatical, constitui-se o legtimo
saber a lngua e saber sobre a lngua. Um saber pautado na sistematicidade, hermeticidade,
estruturalidade, gramaticalidade, que deve ser aprendido por um sujeito lacunar deste saber.
E essa concepo de lngua e sujeito no altera, mesmo quando se passa a enfocar um
outro texto, um outro gnero discursivo
9
, no caso uma tirinha de Bill Wattson, como se
9
Concebido, no crivo dos pressupostos tericos de Bakhtin (2006), como as formas comunicativas verbo-
socioideolgicas relativamente estveis produzidas nas diversas esferas da atividade humana que produzem
significaes, por meio da acentuao valorativa e contedos temticos, e da ressumao de marcas lingusticas,
evidenciadas pelo estilo e pela forma composicional dos enunciados que compem tais formas comunicativas.
56 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
observa nas duas questes a seguir, nas quais no se divisa qualquer pretenso analtico-
interpretativa dos sentidos que o dilogo entre Harold e Calvin produz:
QUESTO 08 (xxxx) - No trecho Minha me disse que morrer to
natural quanto nascer, e que tudo parte do ciclo da vida quadrinho 01, as
palavras destacadas exercem, respectivamente, funo morfolgica de
A ( ) advrbio, conjuno, pronome.
B ( ) pronome, conjuno, conjuno.
C ( ) pronome, conjuno, pronome.
D ( ) adjetivo, verbo, pronome.
E ( ) pronome, verbo, advrbio.
QUESTO 10 (xxxx) - As letras destacadas em Minha me disse que
morrer to natural quanto nascer, e que tudo parte do ciclo da vida
(quadrinho 01) devem ser utilizadas para completar de modo correto,
respectivamente, as lacunas dos vocbulos presentes na opo
A ( ) agre___o / e___esso.
B ( ) flore___ er / di ____ ernir.
C ( ) regre____o / e___ eder.
D ( ) mi___o / su___itar.
E ( ) eferve___ente / na___er.
A nica questo que talvez tente um vislumbre analtico a nmero doze, que intenta
relacionar o fragmento literrio de Lygia tirinha de Wattson:
QUESTO 12 (xxxx) - Os textos I e II se relacionam a partir da
A ( ) revolta perante a temtica da morte.
B ( ) tipologia textual.
C ( ) caracterizao dos protagonistas.
D ( ) demonstrao de afeto entre humanos e animais.
E ( ) utilizao sistemtica da linguagem coloquial.
Contudo, ainda esto muito arraigadas noes como tipologia textual, personagem
protagonista, registro lingustico.
Ora, muitos podem, talvez, querer eximir o SIMA analisado dessas concepes de
lngua e sujeito, pois se trata de um instrumento avaliativo fechado e objetivo, cuja
arquitetnica no possibilita aberturas para interpretaes, para a construo de percepes
analticas pela parte do aluno. Mas, ao analisar tambm a sua segunda parte, em cujo nterim
se encontra uma proposta de produo textual que faculta tais aberturas, ainda persistem as
concepes de lngua e sujeito que at ento foram delineadas em minha clere e exgua
anlise, como se observa abaixo:
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 57
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
2 PARTE: PRODUO TEXTUAL
QUESTO 21 (xxxx) - O candidato dever elaborar uma pgina de dirio,
na qual um personagem ir relatar um dia que se tornou marcante por algum
motivo em especial no relacionamento com seu animal de estimao (a
chegada do animal a casa, ou a morte do bicho, ou alguma travessura
realizada pelo animal, entre outros). Nessa pgina de dirio, deve ficar clara
a relao de afeto entre o bicho e o personagem que escreve a pgina do
dirio. Atente-se s seguintes orientaes:
a pgina de dirio deve ser iniciada com uma data. Na linha seguinte,
escreva o vocativo que se refira ao dirio (Querido dirio, Meu dirio,
Caro dirio, Querida(o) companheira(o), entre outros);
por ser uma pgina de dirio, o texto deve manter o foco narrativo de 1
pessoa, com verbos conjugados no pretrito do indicativo, j que os fatos
ainda esto prximos de quem os narra;
mantenha o padro culto da linguagem;
no escreva dilogos no texto;
a pgina de dirio deve ter entre 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) linhas;
o candidato que fugir ao tema, ou ao gnero textual solicitado, receber o
grau zero (0,0).
So perceptveis, nas orientaes para o desenvolvimento da pgina de dirio
proposta, as noes de sujeito passivo, lacunar e de lngua transparente e homognea, visto
que qual necessidade de se manter o foco narrativo na primeira pessoa? Ser que em meu
dirio no posso transcrever uma fala, um pensamento, a voz de outrem? Um dirio no
constitui um espao de registro das minhas vivncias e experincias cotidianas? Qual a
necessidade de se manter o padro culto da lngua nesses registros?
A partir dessas orientaes, que despertam tais perguntas, evidencia-se a concepo de
lngua arraigada nos escopos educacionais do processo de ensinar e aprender lnguas: aquela
sistemtica, invarivel, homognea, comum a todos e dotada de prestgio; o registro padro
que constitui a Lngua Portuguesa, no interessando a situao comunicativa, o gnero
discursivo, os sujeitos envolvidos, as condies de produo do dizer, e assim por diante.
Prevalece uma acepo de hermeticidade, um padro invarivel regido por normas e regras
imanentes que no podem nunca ser quebradas, sob a pena de no se saber a lngua ou saber
se comunicar de forma eficiente.
A despeito de todas as discusses sobre o conceito de lngua pela Lingustica e pela
Lingustica Aplicada nos tempos hodiernos, ainda as razes gramtico-estruturais continuam a
suportar as aes do ensinar e aprender lnguas, e justamente o quanto se sabe das normas e
regras do cdigo lingustico que constituem o objetivo das avaliaes de lngua portuguesa,
por exemplo, na segunda fase do Ensino Fundamental, em pleno ano de 2010.
58 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
E, com relao ao sujeito aluno, este aquele que deve apreender, memorizar tais
normas e regras, pois somente assim que saber a lngua ensinada, um cdigo fechado,
transparente, hermtico que destoa em muito daquela lngua que desde o nascimento desse
sujeito lhe permitiu interagir com outrem, com o mundo e at consigo mesmo. Uma lngua
que lhe refletiu e refratou, que o fez construir socioideologicamente sua conscincia no imo
do meio semitico que constitutivo dessa lngua. Com efeito, uma lngua que o permitiu e
permite posicionar, constituir-se e desconstituir-se continuamente na dinmica da prtica
linguageira; que possibilita a esse sujeito se singularizar mediamente as tomadas de posio
no nterim do oceano de signos que compe tal lngua.
Destarte, so realidades muito distintas a lngua ensinada e a lngua viva que faz parte
do cotidiano do sujeito aluno, que no passivo e nem lacunar dos saberes de sua prpria
lngua. Por isso, avaliar, mensurar o quanto este sujeito sabe de sua lngua, algo at
inconcebvel, mas talvez valorar os seus posicionamentos, seu atos, suas tomadas de posio
pela lngua algo que possa a ser pensado. E valorar no sentido de um processo axiolgico
em que exotopicamente atribui-se um valor a uma dada realidade, a partir do meu excedente
de viso, que
contm em germe a forma acabada do outro, cujo desabrochar requer que eu
lhe complete o horizonte sem lhe tirar a originalidade. Devo identificar-me
com o outro e ver o mundo atravs de seu sistema de valores, tal como ele o
v; devo colocar-me em seu lugar, e depois, de volta ao meu lugar,
completar seu horizonte com tudo o que se descobre do lugar que ocupo,
fora dele; devo emoldur-lo, criar-lhe um ambiente que o acabe, mediante o
excedente de minha viso, de meu saber, de meu desejo e de meu sentimento
(BAKHTIN, 1997, p. 46).
Mas, para essa valorao, preciso deixar as razes gramtico-estruturais que
caracterizam a concepo sobre o que lngua e permitir aos sujeitos alunos se posicionarem,
empreenderem atos
10
, e no simplesmente se acomodarem em espaos pr-estabelecidos do
saber e, a partir, da enunciarem. Necessrio se faz deixar que eles se tornem sujeitos
singulares que executam atos pela e na lngua. Atos que refletem e refratam posies
singulares e os tornam sujeitos marcados pela unicidade, e a partir da valorar suas
singularidades e no medir seu conhecimento mnemnico de normas, regras, operaes
metalingusticas. Na verdade, permitir-lhes se posicionarem frente ao saber e s realidades.
Como proceder a tal deslocamento avaliativo?
10
Atos no por um vis pragmtico ou atos da linguagem, mas pelo mirante do constituir, da unicidade; o ato
enquanto uma participao singular no ser, conforme alvitra Bakhtin (2010).
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 59
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
Talvez abrindo espaos no processo de aprender e ensinar uma lngua, dimensionando
suas balizas ticas, discusso que doravante nos deteremos de forma mais circunstanciada.
Por uma abertura tica no espao da lngua e uma avaliao valorativa
Quando se pensa lngua e sujeito, nos meandros educacionais do processo de ensino e
aprendizagem de lnguas, por um vis esttico e limitado, no se tem espao para o
posicionar, para o discutir, para o rever, para o (re)criar, enfim, para o sujeito se
(des)constituir mediante o saber a, na, com e sobre a lngua(gem). O saber torna-se algo de
uma dimenso altaneira e egrgia, cujos fundamentos sapientes, por serem to extremados,
devem ser sorvidos passivamente por sujeitos lacunares; fundamentos que lhes preenchero as
incompletudes e faltas, tornando-os completos, argutos, detentores do saber. E, uma vez
detendo os saberes em suas lacunas, esses sujeitos podem viver de forma plena, (trans)formar
realidades, (re)criar, enfim, agir no mundo, obviamente sempre seguros e suportados nos
saberes apreendidos. Desse modo, o sujeito visto como passivo; algum que pode ser
completo, tornar-se uno mediante o sorver saberes de cima abaixo, inercialmente.
Todavia, o sujeito no estabelece relaes/interaes de forma to inercial e passiva
perante uma outricidade
11
, quer seja um outro sujeito, quer seja um saber. Conforme aventa
Bakhtin (2008), sujeitos so sempre constitudos por uma responsividade ativa e somente lhes
fazem sentido aquilo que responde a alguma coisa e s quilo que dada uma resposta.
mediante um processo de interao com outrem que sujeitos se constituem, vendo-se no
outro, constituindo-se um eu entre outros eus, de forma responsiva e responsvel. De acordo
com Bakhtin (1997, p. 36-37),
na vida, agimos assim, julgando-nos do ponto de vista dos outros, tentando
compreender, levar em conta o que transcendente nossa prpria
conscincia: assim, levamos em conta o valor conferido ao nosso aspecto em
funo da impresso que ele pode causar em outrem.
mediante a interao dialgica, em uma atividade dinmica entre um eu e um outro
que sujeitos se (des)constroem pelas prticas linguageiras. Um dilogo marcado por tenses,
confrontos de entonaes e sistemas de valores que balizam variadas posies e projees
axiolgicas sobre o mundo.
11
Essa outricidade um exterior constitutivo dos processos discursivos, que remete tanto ao mundo social, ao
contexto scio-histrico e ideolgico no qual o sujeito est inserido, como tambm a um complexo discursivo
composto por sujeitos outros, por vozes outras, com os quais aquele sujeito dialoga.
60 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
em um dilogo de palavras e contrapalavras que sujeitos interagem e demarcam suas
singularidades. Um dilogo marcado pela interao de vozes, conscincias, entonaes, cujas
relaes valoram e ideologizam as realidades pela lngua(gem). Destarte, as palavras e as
rplicas so vivas e sujeitos esto em constante processo de dialogia, interagindo com o
mundo, com outricidades e consigo mesmo. E um processo de (inter)compreenso, em que
sujeitos esto sempre a se posicionar e a se redimensionar perante os outros, pois a
compreenso uma forma de dilogo, entendendo que compreender opor palavra do
locutor uma contrapalavra (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 137).
Por esse vis, nesse universo dialgico de (des)constituio de sujeitos pela
lngua(gem), no existe uma palavra sem uma contrapalavra, pois sempre se diz algo a
outrem, e este outrem sempre ter uma palavra de rplica, porquanto, algo somente ter
sentido quando for resposta a outro algo, demandando deste outro algo uma contrapalavra.
Nesse sentido o sujeito dialgico, responsivo, sempre se constitui na relao com o
outro, esse outro que o valida, que o reflete, que o refrata, que constri a sua imagem, pois
para dar vida minha imagem externa e para faz-la participar do todo
visvel, devo reestruturar de alto a baixo a arquitetnica do mundo de meu
devaneio introduzindo-lhe um fator absolutamente novo, o da validao
emotivo-volitiva da minha imagem a partir do outro e para o outro; porque,
dentro de mim mesmo, tenho apenas a minha prpria validao interna, uma
validao que no posso projetar sobre minha expressividade externa, pois
esta separada da minha percepo interna, o que faz com que me parea
ilusria, num vazio absoluto de valores (BAKHTIN, 1997, p. 48).
Por justamente estar em constante processo de constituio, no crivo da alteridade e
responsividade, visto que sempre se constri a partir do outro, com o outro e pelo outro, em
uma postura responsiva, o sujeito marcado pelo inacabamento. Com efeito, nunca
completo e acabado, precisando sempre do outro para saber de si e sobre si. Dotado do
excedente viso, conforme j definido na seo anterior, sabe do outro o que este no sabe
dele mesmo, mas precisa do outro para saber de si. Desse modo, apenas o outro para esse
sujeito marcado pelo acabamento, porque
o excedente de minha viso, com relao ao outro, instaura uma esfera
particular da minha atividade, isto , um conjunto de atos internos ou
externos que s eu posso pr-formar a respeito desse outro e que o
completam justamente onde ele no pode completar-se (BAKHTIN, 1997, p.
44).
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 61
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
Eu mesmo, contemplando-me, no consigo proceder a um acabamento de mim, dado
que no me possvel alcanar todos os elementos plstico-picturais de meu ser, o horizonte
que est s minhas costas e nem a minha imagem externa; tampouco as expressividades
volitivo-emocionais que me conferem um todo. Desse modo, o outro quem me d o
acabamento, assim como eu tambm lhe confiro um acabamento, pois no crivo de uma
posio exotpica que possvel a conferncia, por exemplo, pela parte do outro, de valores
que me completam, os quais, por sua vez, da minha posio, so-me inalcanveis e
transgredientes. E, como cada sujeito ocupa um lugar nico e singular, os acabamentos so
sempre intercadentes, provisrios, porque so sempre construdos a partir de uma interao
dialgica com outrem, cujas posies so sempre nicas.
Por ser uma posio nica da qual respondo e me interajo com outrem, mediante uma
lngua viva e dinmica na verdade uma lngua composta por um universo de signos que
refletem e refratam realidades, constituindo-se verdadeiras arenas de lutas ideolgicas , sou
um sujeito responsvel por minha posio. Tendo em vista que a lngua inseparvel de seu
contedo ideolgico ou relativo vida e as palavras que a povoam esto sempre
carregada[s] de um contedo ou de um sentido ideolgico ou vivencial, fazendo-nos
compreend-las e reagir quelas que despertam em ns ressonncias ideolgicas ou
concernentes vida (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 99), a partir dela que vivo a
dialogia, respondo minha existncia e me posiciono frente ao mundo, aos outros e a mim
mesmo. por meio de seus espaos semitico-discursivos que se promovem interaes entre
sujeitos e as mltiplas realidades, constituindo-se uma arena de lutas ideolgico-sociais e do
perene agir prospectivo e retrospectivo de palavras e contrapalavras.
Dessa forma, minha responsabilidade posicionar, agir nesse dilogo, confrontar
nessa arena. preciso responder e responsabilizar pela minha existncia; preciso pensar,
pois
cada um dos meus pensamentos, como o seu contedo, um ato singular
responsvel meu; um dos atos de que compe a minha vida singular inteira
como agir ininterrupto, porque a vida inteira na sua totalidade pode ser
considerada como uma espcie de ato complexo: eu ajo com toda a minha, e
a cada ato singular e cada experincia que vivo so um momento do meu
viver-agir (BAKHTIN, 2010, p. 44).
Viver, nesse sentido, um agir ininterrupto, ato da participao singular no ser. O
ato do pensar e criar, tanto terica quanto artisticamente. Pensar o terico, refletir o
conhecimento, cogitar as verdades e os saberes, enfim, posicionar frente aos outros e ao
62 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
mundo. E um ato que responsvel porque assinado, validado por quem o empreendeu, pois
um sujeito que o age assim pensando, posicionando o age e assume perante o outro,
respondendo pelo que agiu.
Sendo assim, o ato sempre tico porque necessrio, imperiosa a minha
participao no ser, visto que
sou participante no existir de modo singular e irrepetvel, e eu ocupo no
existir singular um lugar nico, irrepetvel, insubstituvel e impenetrvel da
parte de um outro. Neste preciso ponto singular no qual agora me encontro,
nenhuma outra pessoa jamais esteve no tempo singular e no espao singular
de um existir nico. E ao redor deste ponto singular que se dispe todo o
existir singular de modo singular e irrepetvel. Tudo o que pode ser feito por
mim no poder nunca ser feito por ningum mais, nunca. A singularidade
do existir presente irrevogavelmente obrigatria (BAKHTIN, 2010, p. 96).
um dever realizar minha singularidade, pois enquanto singular no posso no deixar
de participar da minha vida, agir no mundo, uma necessidade que no lgica, mas tica, pois
minha posio na existncia, a partir de um dado tempo e um dado espao, faculta-me a
responsabilidade. Sou responsvel por realizar, agir e empreender atos que so prprios do
lugar que ocupo, da minha condio singular e nica no ser.
Destarte, existe um no libi no meu existir, que est na base do dever concreto e
singular do ato, [e que] no algo que eu aprendo e do qual tenho conhecimento, mas algo
que eu reconheo e afirmo de um modo singular e nico (BAKHTIN, 2010, p. 96).
Devo ento agir no mundo, ocupar meu lugar singular e nico no mundo, viver
singularmente, arriscar, ousar, comprometer-me, assinar responsavelmente meus atos. Agir,
portanto, responsavelmente e responsivamente.
Mas esse agir possvel quando se trata do processo de ensino e aprendizagem de
lnguas?
Ora, no h espaos para o sujeito aluno empreender seus atos perante o que lhe est
sendo ensinado. Isso porque o saber, conforme j mencionei, tratado e apresentado como
verdades universais. uma istina, verdade em russo, termo usado por Bakhtin (2010) para
remeter verdade do contedo de um saber terico, em suas leis universais e universo de
possibilidades.
Entretanto, uma istina, em si e por si, apenas uma abstrao e um dado parcial, pois,
para ser verdadeira em sua completude precisa tornar-se uma pravda, (tambm verdade em
russo). Isto , precisa se tornar um ato, ser pensada por um sujeito singular e nico, porque
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 63
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
assim tambm que o saber terico se torna tico. Para uma verdade universal ser completada,
mister se faz o agir de uma verdade singular.
Desse modo, um conhecimento somente se torna pleno quando pensado, crivado por
um ato responsivo e responsvel de um sujeito. Imprescinde a esse conhecimento o
reconhecimento de um ato, a validade de um ato realizado por um sujeito ativo e dinmico,
singular e nico no ser, responsivo e responsvel que pensa tal conhecimento a partir de uma
posio, tambm nica e singular, em um dado tempo e espao. Imperativo se faz que um
pensamento assinado cogite esse conhecimento, incluindo-o em uma singularidade
responsvel e conferindo, destarte, uma validade, cabendo ressaltar que uma assinatura
responsvel no remete a expresso de uma subjetividade fortuita, conforme atesta Bakhtin
(2010), mas de uma posio, a partir da qual se reconhece e valida a istina com os horizontes
que somente do meu lugar posso dizer ou ver.
Chego assim a um ponto pertinente de minha problemtica. Na escola, em se tratando
da avaliao em lnguas, o que se observa, pela clere e exgua anlise que empreendi de um
instrumento avaliativo, o relevo e a importncia istina do saber sobre a lngua. Procura-se
mensurar a apreenso pela parte dos alunos das verdades universais sobre a lngua e relegam-
se as verdades singulares.
muito mais salutar saber fazer uma anlise sinttica, uma anlise morfolgica,
memorizar metatermos, seguir os passos de uma anlise pelas balizas estruturais da
construo composicional de textos literrios, dentre outros, que agir e posicionar-se frente ao
conhecimento de forma tica, responsiva e responsvel.
Faz-se ento necessrio repensar que lngua ensinamos, que saber terico
apresentamos e repensar quais os sujeitos a quem ensinamos. Ser que a istina deve se
sobrepor pravda
12
? Ser que devemos transformar a istina em um libi para os sujeitos
alunos, desobrigando-os do seu dever de validar e assinar atos, de posicionar-se do seu lugar
nico e singular do ser, mediante o acomodar-se s estruturas sistmicas da gramtica de uma
lngua e desse espao esses alunos repetirem, memorizarem e provarem que apreenderam as
normas e as regras que ordenam tais estruturas?
Acredito que um deslocamento urge nas prticas do ensinar e aprender a lngua. Antes
de apenas se apresentar a istina do saber terico sobre a lngua, preciso tambm deixar os
alunos se posicionarem a partir de seus lugares nicos e singulares, valorando-a, de forma
12
Vale ressaltar que istina e pravda no devem se opor, pois nenhuma mais importante que outra. So
verdades que se completam, em que a ltima confere exatamente a realidade, a validade primeira. Verdades
universais tornam-se de fato verdadeiras quando transformadas em um ato tico e responsivo, quando refletidas e
refratadas; assinadas e iluminadas por uma posio singular e nica.
64 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
responsiva e responsvel, mostrando a pravda como contrapalavra. esse o processo que
deve ser (a)vali(d)ado. Um processo que jamais permite ser mensurado, antes valorado. Uma
valorao que exige tanto do avaliador quanto do avaliado, em que aquele, a partir do seu
excedente de viso, atribui uma construo axiolgica pravda do avaliado, identificando-se
com o avaliado e vendo o mundo pelos sistemas de valores desse avaliado. Indispensvel se
faz que o avaliador exotopicamente coloque-se no lugar do avaliado e depois retorne ao seu
lugar tambm singular e nico, valorando o ato do avaliado.
E valorar no rotular positivamente ou negativamente, se houve avano ou
retrocesso, mas axiologizar a responsividade e a responsabilidade do sujeito aluno perante a
istina.
guisa de uma clere ilustrao, volto ao SIMA analisado. Quando apresentado o
fragmento literrio de Lygia, A disciplina do amor, aos alunos do sexto ano do Ensino
Fundamental, enquanto um texto artstico, mais do que um pretexto para a discusso de
significados de palavras no que isso no seja importante e at deve fazer parte da aula ,
descries de estruturas gramaticais, anlise de narrador, tempo, espao, enredo, seria muito
interpelador se se discutisse os sentidos e discursividade que o texto produz, a comear do
ttulo. O que seria uma disciplina do amor? Quais as dimenses ideolgicas e vivenciais do
signo disciplina? Refere-se matria do amor? Ao carter disciplinar desse amor? Mediante
uma leitura em conjunto e assumindo uma atitude responsiva e responsvel em relao ao
fragmento, posicionamentos, (des)identificaes vo se delineando, e os alunos podero
empreender atos de pensar, refletir, interpretar, atribuir sentidos materialidade em estudo.
Sem a apresentao de sentidos j dados e pr-estabelecidos posies singulares e
nicas no sero sufocadas, tolhidas. Podero ter voz e apresentar sua entonao e valorao
com relao ao texto, trazendo tona as ressonncias ideolgicas ou concernentes vida que
so constitutivas do ser desses alunos.
E isso pode ser levado a um simulado avaliativo, elaborando-se uma questo de cunho
lxico-semntico da palavra disciplina, mesmo de carter genrico, que exija uma postura
responsiva perante o texto. Por exemplo, poder-se-ia enfocar que o uso da referida palavra
permite uma reflexo sobre o carter contraditrio do amor, que, ao mesmo tempo em que
maravilhoso, sofrvel e doloroso, uma percepo que no descabida a alunos da srie
escolar em tela. Assim, qui se poderia sondar a responsividade e a responsabilidade dos
alunos perante a leitura de um texto de carter literrio, ao invs de lhes exigir a operao
mnemnica do que significa displicncia.
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 65
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
Palavras finais
Chego, destarte, aos termos que prenunciam o (no)findar de uma discusso que talvez
s comeou e que ainda precisa de mais desenvolvimento e aprofundamentos. Uma discusso
que teve por desiderato problematizar o ato de avaliar no processo de ensino e aprendizagem
de lnguas. Obviamente que no tive o fito de alvitrar um outro modo de avaliar, uma outra
forma de se trabalhar a lngua portuguesa em sala de aula, mas somente despertar cogitaes.
Com efeito, intentei levantar alguns questionamentos, ainda que de forma incipiente,
sobre o avaliar enquanto mensurar, vinculado s noes de lngua e sujeito que ainda
prevalecem nos espaos educacionais do ensinar/aprender a lngua portuguesa. Noes muito
arraigadas na estruturalidade, gramaticalidade, sistematicidade, homogeneidade,
invariabilidade, que tolhem o sujeito frente a sua singularidade e unicidade de ser.
Foi por isso que aventei aberturas ticas nos espaos educacionais no que se refere
avaliao e chamei a ateno quanto concepo de sujeito e lngua que fundam nossa prtica
enquanto professores de lnguas. Concebendo uma lngua hermtica e um sujeito lacunar de
conhecimentos dessa, nessa e sobre essa lngua, no se permite ao aluno posicionar, agir
frente a essa lngua e aos conhecimentos sobre essa lngua.
Assim, a avaliao se constitui um instrumento mensurador dos saberes universais, do
quanto de istina do objeto de ensino-aprendizagem foi apreendido pelo aluno, no lhe
facultando o viver o no libi de sua existncia, pois o desobriga de seu dever de se posicionar
frente a um conhecimento, mediante o seu ato de pensar a partir de um lugar nico e singular,
em um dado espao e tempo.
No nterim de um processo de cima abaixo e inercial, a lngua ensinada e a ao de
seu ensino-aprendizagem avaliada de forma unilateral e mensurativa. como se existisse a
istina da lngua, em uma dimenso superior, que deveria ser sorvida pelo aluno, sem que
houvesse qualquer relao/interao entre esse saber e o sujeito que se (des)constri no
balano dinmico-movente das ondas do oceano sgnico que compe essa lngua.
Todavia, o sujeito e a lngua so constitutivamente dialgicos. Essa lngua reflete e
refrata sujeitos. Mostra-se viva e no uma organizao sistmico-estrutural, que deve ser
descrita por metatermos e cujos sentidos j so dados, ora por uma instncia autoria, ora pelo
prprio professor. Com efeito, um universo de signos que permite aos sujeitos interagir,
significar o mundo, significar o outro e significar-se. Enfim, permite-lhe viver. E viver como
j anunciava a epgrafe desta discusso participar desse dilogo, participar com toda a vida,
com os olhos, os lbios, as mos, a alma, o esprito, todo o corpo, os atos (BAKHTIN,
66 Ismael Ferreira Rosa
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
2006, p. 348). Atos responsveis e responsivos. Atos que validam, assinalam uma posio no
ser: uma posio nica e singular. Na verdade, atos ticos que devem ser valorados e jamais
mensurados. Atos que revelam pravda sobre os saberes da, na e sobre a lngua.
Referncias bibliogrficas
BAKHTIN, M. Esttica da criao verbal. Trad. a partir do francs Maria Ermantina Galvo
G. Pereira. 2.ed. So Paulo: Martins Fontes, 1997.
BAKHTIN, M. Questes de Literatura e de Esttica: a teoria do romance. Trad. direta do
russo Aurora Fornoni Bernardini et al. 4.ed. So Paulo: Editora Hucitec, 1998.
BAKHTIN, M. Esttica da criao verbal. Trad. direta do russo Paulo Bezerra. 4.ed. So
Paulo: Martins Fontes, 2006.
BAKHTIN, M. Para uma filosofia do ato responsvel. Trad. a partir do italiano Valdemir
Miotello e Carlos Aberto Faraco. So Carlos: Pedro & Joo Editores, 2010.
BAKHTIN, M.; VOLOCHINOV, V. Marxismo e filosofia da linguagem: problemas
fundamentais do mtodo sociolgico na cincia da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara
Frateschi Vieira. 13.ed. So Paulo: Hucitec, 2009.
CATANI, D. B.; GALLEGO, R. C. Avaliao. So Paulo: Editora UNESP, 2009.
CUNHA, M. C. C. Nem s de conceitos vivem as transformaes: equvocos em torno da
avaliao formativa no ensino/aprendizagem de lnguas. Revista Brasileira de Lingustica
Aplicada, Belo Horizonte, MG, v. 6, n. 2, p. 59-77. 2006.
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
ANEXO
ESCOLA MUNICIPAL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SIMULADO DE LNGUA PORTUGUESA
6 ANO 3 Bimestre
1 PARTE: MLTIPLA-ESCOLHA
(Marque com um X a nica alternativa certa)
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxx
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
TEXTO I
A DISCIPLINA DO AMOR
Foi na Frana, durante a segunda grande guerra.
Um jovem tinha um cachorro que todos os dias,
pontualmente, ia esper-lo voltar do trabalho. Postava-se
na esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que
via o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior
alegria, acompanhava-o com seu passinho saltitante de
volta a casa.
A vila inteira j conhecia o cachorro e as
pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele
correspondia, chegava a correr todo animado atrs dos
mais ntimos para logo voltar atento ao seu posto e ali
ficar sentado at o momento em que seu dono apontava l
longe.
Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o
jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de
esper-lo? Continuou a ir diariamente at a esquina, fixo
o olhar ansioso naquele nico ponto, a orelha em p,
atenta ao menor rudo que pudesse indicar a presena do
dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para
casa e levava a sua vida normal de cachorro at chegar o
dia seguinte. Ento, disciplinadamente, como se tivesse
um relgio preso pata, voltava ao seu posto de espera.
O jovem morreu num bombardeio, mas no
pequeno corao do cachorro no morreu a esperana.
Quiseram prend-lo, distra-lo. Tudo em vo. Quando ia
chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso
assumido, todos os dias. Todos os dias.
Com o passar dos anos (a memria dos
homens!) as pessoas foram se esquecendo do jovem
soldado que no voltou. Casou-se a noiva com um primo.
Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os
amigos, para outros amigos. S o cachorro j velhssimo
(era jovem quando o jovem partiu) continuou a esper-lo
na sua esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse
cachorro est esperando?... Uma tarde (era inverno) ele
l ficou, o focinho sempre voltado para aquela direo.
(TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p. 99-100)
QUESTO 01 (xxxx) - A leitura do texto permite
traar um perfil acerca do cachorro. A nica palavra
inadequada para descrever a postura do animal em
relao a seu dono
A ( ) displicncia.
B ( ) lealdade.
C ( ) disciplina.
D ( ) compromisso.
E ( ) amor.
QUESTO 02 (xxxx) - Tendo por base a leitura do texto
A Disciplina do amor, considere as afirmativas abaixo:
I O texto narra a relao afetiva entre um co e seu
dono.
II No segundo pargrafo, no trecho que descreve o
momento em que o dono do cachorro apontava ao longe,
apresenta-se a ao que desencadear a problemtica
vivenciada pelo animal. III O narrador do texto do
tipo observador, que no se aprofunda na anlise
psicolgica dos personagens.
IV No texto, o tempo cronolgico demarcado pela
sequncia linear das aes do enredo.
Acerca das afirmativas, observa-se que
A ( ) apenas I correta.
B ( ) I e IV so corretas.
C ( ) I, II e IV so corretas.
D ( ) I, II e III so corretas.
E ( ) todas as afirmativas so corretas.
QUESTO 03 (xxxx) - No trecho Uma tarde (era
inverno) ele l ficou, o focinho sempre voltado para
aquela direo, observa-se a inteno de se
A ( ) enfatizar que o cachorro continuou a dedicar sua
existncia para esperar seu dono.
B ( ) apresentar a morte do cachorro por meio de uma
linguagem objetiva e direta.
C ( ) demarcar, textualmente, a morte do cachorro,
valendo-se de uma linguagem conotativa.
D ( ) demonstrar que a esperana do co continuava e era
um aspecto forte de seu comportamento.
E ( ) mostrar ao leitor que o cachorro morrera devido ao
fato de perder a esperana de que o dono voltaria.
QUESTO 04 (xxxx) - Em Foi na Frana, durante a
segunda grande guerra, o verbo destacado possui
correspondncia semntica e de flexes na palavra
A ( ) ocorreria.
B ( ) acontecera.
C ( ) sucedera.
D ( ) observou.
E ( ) ocorreu.
QUESTO 05 (xxxx) - A nica opo em que a palavra
que tem a mesma classificao que em Mas eu avisei
que o tempo era de guerra [...]
A ( ) Um jovem tinha um cachorro que todos os dias,
pontualmente, ia esper-lo [...].
B ( ) [...] e as pessoas que passavam faziam-lhe
festinhas [...].
C ( ) [...] at o momento em que seu dono apontava l
longe..
D ( ) Pensa que o cachorro deixou de esper-lo?.
E ( ) [...] atenta ao menor rudo que pudesse indicar a
presena [...].
QUESTO 06 (xxxx) - No ltimo pargrafo do texto, h
trs informaes isoladas entre parnteses:
I (a memria dos homens!).
II (era jovem quando o jovem partiu).
III (era inverno).
Levando-se em conta o contexto, diante dos fatos
apresentados, correto afirmar que
A ( ) nas trs informaes h uma opinio do narrador.
B ( ) apenas nas informaes II e III h uma opinio do
narrador.
C ( ) apenas na informao I observa-se uma opinio do
narrador.
D ( ) apenas na informao II observa-se uma opinio do
narrador.
E ( ) no h opinio do narrador em nenhuma das
informaes destacadas.
BAKHTIN E A AVALIAO ESCOLAR... 69
Poesis Pedaggica - V.10, N.2 ago/dez.2012; pp.47-69
QUESTO 07 (xxxx) - Em (era jovem quando o jovem
partiu) os vocbulos destacados tm, respectivamente, a
mesma classificao morfolgica que os destacados em
A ( ) S o cachorro j velhssimo [...]; Casou-se a
noiva [...]..
B ( ) Foi na Frana, durante a segunda grande
guerra..
C ( ) [...] acompanhava-o com seu passinho saltitante
[...].
D ( ) [...] mas no pequeno corao do cachorro no
morreu a esperana..
E ( ) [...] um relgio preso pata [...].
TEXTO II
CALVIN E HAROLDO
A tira que se segue a concluso de uma histria vivida
pelo garoto Calvin e seu tigre de estimao humanizado,
Haroldo. Na tira em questo, Calvin encontrou um
pequeno esquilo doente que, apesar dos cuidados que
recebeu do garoto, acabou morrendo. Na tira que voc
ler, Calvin e Haroldo conversam sobre a questo da
morte, motivados pelo triste destino do pobre esquilinho.
(
WATTERSON, Bill. Tem uma coisa babando embaixo da cama.
So Paulo: Conrad Editora, 2008).
QUESTO 08 (xxxx) - No trecho Minha me disse que
morrer to natural quanto nascer, e que tudo parte do
ciclo da vida quadrinho 01, as palavras destacadas
exercem, respectivamente, funo morfolgica de
A ( ) advrbio, conjuno, pronome.
B ( ) pronome, conjuno, conjuno.
C ( ) pronome, conjuno, pronome.
D ( ) adjetivo, verbo, pronome.
E ( ) pronome, verbo, advrbio.
QUESTO 09 (xxxx) - Na tira, o vocbulo ciclo
(quadrinho 01) e a expresso faz sentido (quadrinho
03), de acordo com o contexto, tm, respectivamente,
como sinnimos
A ( ) perodo sensvel.
B ( ) espao causa.
C ( ) espao tem coerncia
D ( ) perodo tem causa.
E ( ) perodo tem lgica.
QUESTO 10 (xxxx) - As letras destacadas em Minha
me disse que morrer to natural quanto nascer, e que
tudo parte do ciclo da vida (quadrinho 01) devem
ser utilizadas para completar de modo correto,
respectivamente, as lacunas dos vocbulos presentes na
opo
A ( ) agre___o / e___esso.
B ( ) flore___ er / di ____ ernir.
C ( ) regre____o / e___ eder.
D ( ) mi___o / su___itar.
E ( ) eferve___ente / na___er.
QUESTO 11 (xxxx) - Calvin, no terceiro quadrinho,
demonstra compreender a explicao que sua me dera
sobre a relao vida / morte. Ao se comparar essa
informao com a fala do personagem no quarto
quadrinho, se estabelece uma relao de
A ( ) causa.
B ( ) concluso.
C ( ) opinio.
D ( ) problema.
E ( ) oposio.
QUESTO 12 (xxxx) - Os textos I e II se relacionam a
partir da
A ( ) revolta perante a temtica da morte.
B ( ) tipologia textual.
C ( ) caracterizao dos protagonistas.
D ( ) demonstrao de afeto entre humanos e animais.
E ( ) utilizao sistemtica da linguagem coloquial.
[...]
2 PARTE: PRODUO TEXTUAL
QUESTO 21 (xxxx) - O candidato dever elaborar uma
pgina de dirio, na qual um personagem ir relatar um
dia que se tornou marcante por algum motivo em especial
no relacionamento com seu animal de estimao (a
chegada do animal a casa, ou a morte do bicho, ou
alguma travessura realizada pelo animal, entre outros).
Nessa pgina de dirio, deve ficar clara a relao de afeto
entre o bicho e o personagem que escreve a pgina do
dirio. Atente-se s seguintes orientaes:
a pgina de dirio deve ser iniciada com uma data. Na
linha seguinte, escreva o vocativo que se refira ao dirio
(Querido dirio, Meu dirio, Caro dirio,
Querida(o) companheira(o), entre
outros);
por ser uma pgina de dirio, o texto deve manter o foco
narrativo de1 pessoa, com verbos conjugados no
pretrito do indicativo, j que os fatos ainda esto
prximos de quem os narra;
mantenha o padro culto da linguagem;
no escreva dilogos no texto;
a pgina de dirio deve ter entre 15 (quinze) e 25 (vinte
e cinco) linhas;
o candidato que fugir ao tema, ou ao gnero textual
solicitado, receber o grau zero (0,0).
FIM DA PROVA
Você também pode gostar
- O Pedagogo (Translated) by Clemente de Alexandria (De Alexandria, Clemente)Documento238 páginasO Pedagogo (Translated) by Clemente de Alexandria (De Alexandria, Clemente)Lucas100% (1)
- Introdução A Aristóteles - Giovanni RealeDocumento208 páginasIntrodução A Aristóteles - Giovanni RealeDejaum Djar100% (2)
- Exu Nas EscolasDocumento30 páginasExu Nas EscolasAline Baldez50% (2)
- A Espada de Salomão A Psicologia e A Disputa de Guarda de Filhos PDFDocumento312 páginasA Espada de Salomão A Psicologia e A Disputa de Guarda de Filhos PDFAlessandro Cunha PsiAinda não há avaliações
- 9 - O Pitagorismo PDFDocumento14 páginas9 - O Pitagorismo PDFAndré ZanollaAinda não há avaliações
- Conservação de AcervosDocumento206 páginasConservação de Acervoselisa_taia9603100% (2)
- Deontologia Profissional WDocumento17 páginasDeontologia Profissional WRosário Siúta100% (7)
- Monitoria - Filosofia - Filosofia Antiga 1: KERFERD, G. B. O Movimento Sofista. São Paulo: Loyola, 2002 (Adaptado)Documento87 páginasMonitoria - Filosofia - Filosofia Antiga 1: KERFERD, G. B. O Movimento Sofista. São Paulo: Loyola, 2002 (Adaptado)João Paulo Martins MarquesAinda não há avaliações
- Etica Profissional 2Documento4 páginasEtica Profissional 2Juninho Benedito100% (1)
- Etica No Trabalho Psicopedagogico 4Documento44 páginasEtica No Trabalho Psicopedagogico 4Alvaci Gomes FrançaAinda não há avaliações
- 5.TRONTO. Mulheres e CuidadosDocumento18 páginas5.TRONTO. Mulheres e CuidadosGustavo de Oliveira AlexandreAinda não há avaliações
- Curso 167353 Aula 00 354c SimplificadoDocumento45 páginasCurso 167353 Aula 00 354c SimplificadoGilvan Da silva MenezesAinda não há avaliações
- Trabalho Sendo EditadoDocumento26 páginasTrabalho Sendo EditadoCllaudia GonçalvesAinda não há avaliações
- Comunidade-A Apropriação Científica de Um Conceito Tão Antigo Quanto A Humanidade.Documento10 páginasComunidade-A Apropriação Científica de Um Conceito Tão Antigo Quanto A Humanidade.Roberto Nascimento100% (2)
- Relatório Sobre A Ética de KantDocumento1 páginaRelatório Sobre A Ética de KantSilvandeOliveiraAinda não há avaliações
- Etec Polivalente de Americana Ética e Cidadania OrganizacionalDocumento10 páginasEtec Polivalente de Americana Ética e Cidadania OrganizacionalTabita NogueiraAinda não há avaliações
- Apostila 4 SEEDUCDocumento20 páginasApostila 4 SEEDUCAlexandre RAinda não há avaliações
- Cadernos12 VPDocumento8 páginasCadernos12 VPJean Paul d'AntonyAinda não há avaliações
- Comunicação, Ciências e Tecnologia IDocumento29 páginasComunicação, Ciências e Tecnologia IFelipe FerreiraAinda não há avaliações
- UntitledDocumento4 páginasUntitledelcioAinda não há avaliações
- Liderança, Cultura e Comportamento Organizacional - Aula 1Documento25 páginasLiderança, Cultura e Comportamento Organizacional - Aula 1Dênison MarinhoAinda não há avaliações
- Revisão - Teoria Geral Do DireitoDocumento11 páginasRevisão - Teoria Geral Do DireitoAna KarollynyAinda não há avaliações
- Aula 10 - Er e Ip - BioeticaDocumento1 páginaAula 10 - Er e Ip - BioeticaCarlaJardimAinda não há avaliações
- Prova de Filosofia (1ºs Cientificos)Documento4 páginasProva de Filosofia (1ºs Cientificos)Adriano DE Carvalho DuarteAinda não há avaliações
- Novas Tecnologias Aplicadas Ao Trabalho Do BiólogoDocumento58 páginasNovas Tecnologias Aplicadas Ao Trabalho Do BiólogoDaviAinda não há avaliações
- Mic GrupoDocumento12 páginasMic GrupohermenegildoAinda não há avaliações
- Tecendo Experiências Nas Teias Da Eutonia. EUTONIA 2010 PDFDocumento12 páginasTecendo Experiências Nas Teias Da Eutonia. EUTONIA 2010 PDFFernando Lima GuimaraesAinda não há avaliações
- Textos de SênecaDocumento9 páginasTextos de SênecaFlavio Silvano IdealAinda não há avaliações
- QUESTAO - Exercicios - Comentados - de - Interpretacao Charges Sem FDocumento12 páginasQUESTAO - Exercicios - Comentados - de - Interpretacao Charges Sem FGlendha LuanaAinda não há avaliações
- PR Nr. 277Documento32 páginasPR Nr. 277Joao PerdigaoAinda não há avaliações